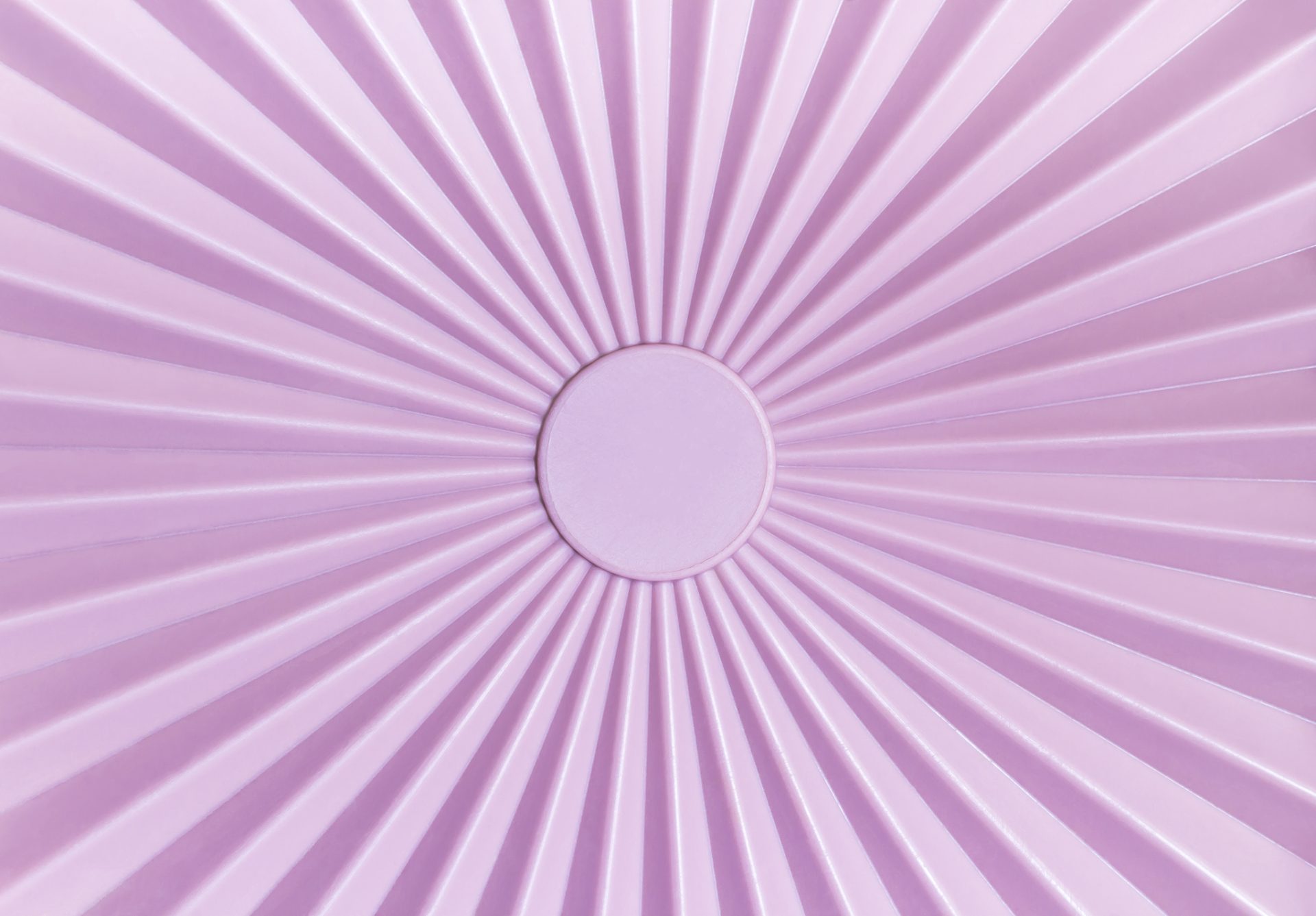1861. Processo de Camilo Castelo Branco
Um marido traído pode dar cabo da vida de muita gente. Que o diga Camilo Castelo Branco (sim, o escritor) que foi parar a tribunal acusado de “copular com mulher casada”. Pinheiro Alves, o homem traído, instaurou um processo de querela por adultério contra o escritor e contra a mulher, Ana Augusto Plácido. No Tribunal Criminal do Porto, o juiz Teixeira de Queirós, pai de Eça, só acusou Ana. Na verdade, só o adultério da mulher era crime. O homem que participava no adultério só seria punido se existisse flagrante delito (tinham de ser apanhados sós e nus na mesma cama) ou se existisse uma carta ou outro documento escrito. Ana e Camilo não tinham sido apanhados com a boca na botija e a única carta que existia tinha sido dirigida a um tio (que viria a denunciar a Pinheiro Alves a infidelidade da sobrinha) mas não mencionava o nome dela. Mas o juiz do Tribunal da Relação do Porto foi mais conservador que o pai de Eça e acabou por enviar os dois para a cadeia da Relação. Porque “seria um contra-senso inqualificável que esse homem que a teve teúda e manteúda (…), que a foi tirar ao Convento da Conceição em Braga aonde se achava, para assim continuar com ela uma vida de escândalo e imoralidade (…) ficasse impune”. Em julgamento, ambos seriam absolvidos. Até lá, Camilo passou um ano e 16 dias na prisão a temer pela vida, com receio de que o tio que descobriu a sua “situação de amantismo” com Ana pagasse a alguém para o matar. Mas depressa arranjou um aliado: o Zé do Telhado, um dos maiores criminosos da época.
1934. A queima de uma mulher possuída
Uma mulher estava possuída por duas almas, uma boa e uma má. Assim o tinha diagnosticado “uma mulher de virtude” em Vila Nova de Gaia. E como ninguém duvidava da sua sapiência, um cunhado – que lhe devia 190 escudos – e alguns amigos da possuída juntaram-se em sua casa numa noite de Fevereiro para orar à sua alma, com base no livro de S. Cipriano. E a tudo o que a mulher apoderada pelo demónio dizia, eles obedeciam. Primeiro disse a um casal para se deitar no chão, isto “se pretendiam salvar-se”: eles deitaram-se. Mas o pior foi quando uma mulher, a Arminda de Jesus, também se deitou: a mulher das duas almas não gostou e começou aos gritos, dizendo que a Arminda de Jesus “trazia o diabo dentro dela” e instigando os presentes a baterem-lhe. Eles, claro, obedeceram e agrediram a Arminda à paulada e à sacholada. Mas como ela, já com os ossos partidos, mesmo assim não se calava, a mulher das duas almas deu novas ordens: queimem-na!! Os presentes não hesitaram: na rua, juntaram caruma e pegaram-lhe fogo. Consumada a queima da Arminda, os carrascos retiraram-se e recolheram para casa da mandante em oração, madrugada adentro, na esperança de que a vítima ressuscitasse. Como ao final de umas boas horas isso não aconteceu, foram para suas casas, onde ficaram a aguardar a visita da polícia. O Tribunal de Marco de Canaveses condenou quatro indivíduos pelo crime de homicídio voluntário, na pena de seis anos de prisão maior celular, seguida de degredo por dez. À Arminda de Jesus nem o apelido a salvou.
1978. Taras e manias num casamento
Num caso de divórcio litigioso, o Supremo Tribunal de Justiça resolveu colocar as culpas na mulher por esta ter dito que o marido era “tarado sexual”. Não importava averiguar por que a mulher tinha usado esta expressão: se o homem tinha 30 mulheres por mês, jogava piropos em cima de cada miúda que passava, ou trocava os serões com a esposa pelo visionamento de filmes pornográficos. Para o juiz do Supremo, a mulher é que tinha impossibilitado “a vida comum de autor e ré” porque desvirtuara “a noção legal de casamento” ao ofender “gravemente a integridade moral do cônjuge repudiado”. “Tendo a ré afirmado que o seu marido é um ‘tarado sexual’, esta expressão é objectivamente injuriosa, exprimindo no seu sentido corrente e ligada a um conflito conjugal, a ideia de que a pessoa visada é portadora de aberração ou desvio sexual. Empregada fora do âmbito familiar, em comunicação a terceiros, contém uma inegável carga ofensiva”, decidiu o juiz, que acabou por condenar a mulher pelo crime de injúrias. Passado uns anos, em 2007, o mesmo Supremo Tribunal confirmou uma decisão da Relação e voltou a defender a honra de um macho. A culpa de um divórcio tinha de ser repartida “em igual medida” por marido e mulher porque as agressões eram recíprocas e todas elas “chocantes”. Mas com maior “censurabilidade para a ré”, que nem sequer tinha ido viver com outro – ao contrário do que fizera o marido. Tudo porque esta atingiu “o âmago da masculinidade” quando disse ao homem que este “nem para foder servia”.
2002. Cornos como, se sou humano?
Os tribunais são especialistas em encontrar significados incríveis para as expressões do povo. Em 2002, o Ministério Público deduziu uma acusação pelo crime de ameaça porque “durante uma discussão, o arguido ameaçou o ofendido, dizendo que lhe dava um tiro nos cornos”. Mas o juiz não aceitou a acusação por entender que não existia crime já que o ofendido é “um ser humano” e “um ser humano não tem cornos”: ou seja, não é um veado ou outro bicho que o valha. Mas a Relação de Lisboa teve entendimento diferente: “Será porque por não ter cornos não tem de ter medo, já que não é possível ser atingido no que não se tem?”, questionou o juiz-desembargador. Além disso, continuou, “num país de tradições tauromáquicas e de moral ditada por uma tradição ainda de cariz marialva, não é pouco vulgar dirigir a alguém expressão que inclua a referida terminologia”. Dois anos depois, a Relação de Évora usou o mesmo raciocínio, invocando que o sentido de “dar um tiro nos cornos” é “necessariamente metafórico”: “Quando se alude a um ser humano cornudo, ou que tem cornos, pretende aludir-se a que é vítima de traição sexual do seu parceiro, ou seja, tal epíteto é consequente da consideração de haver infidelidade sexual do seu consorte”. Os chifres voltaram a ser objecto de discussão jurídica em 2011: o Tribunal da Relação de Coimbra entendeu que usar a expressão “fodo-te os cornos” não representa crime de injúria, apenas “falta de educação por parte de quem a profere”: “É uma expressão que se assemelha ao ‘vou-te ao focinho’.”
2010. Um acórdão do cara… ças
Quando um militar da GNR se irrita e diz a um chefe “se não dá pra trocar, então pró caralho”, está a cometer um crime de insubordinação ou apenas a desabafar? A resposta é difícil e deu que fazer aos tribunais. Tão difícil que até levou os juízes da Relação de Lisboa a socorrerem–se de dicionários e explicações etimológicas. Segundo o juiz, o palavrão tem origem no latim “caraculu” e significaria, para alguns, “pequena estaca”, para outros, “o topo do mastro principal das naus, ou seja, um pau grande”. Certo é que, independentemente da etimologia, explicou o relator, o povo “começou a associar a palavra ao órgão sexual masculino, o pénis” ou a “algo excessivo, grande ou pequeno de mais”, como “o Cristiano Ronaldo joga pra caralho” ou “o ácaro é um animal pequeno pra caralho”. No final, o cabo da GNR acabou por ser absolvido. O juiz considerou que “dizer a alguém ‘vai para o caralho’ é bem diferente de afirmar perante alguém e num quadro de contrariedade ‘ai o caralho’ ou simplesmente ‘caralho’, como parece ter sucedido na situação em apreço”. Se no primeiro caso a expressão é ofensiva, na segunda será “sinal de impaciência, irritação ou indignação”. Em 1989, o Supremo Tribunal de Justiça também teve uma explicação sui generis para um insulto: substituiu a pena de prisão por multa a uma mulher que tinha usado a expressão “puta podre” por entender que o palavrão “tinha sido proferido no ardor de uma discussão entre mulheres, comum nos meios rurais”, coisa que “é produto habitual e espontâneo de educação do nosso povo”.
2011. Chicote não é arma, é acessório
Da mesma maneira que um insulto ou um palavrão pode dar pano para mangas em tribunal, um simples objecto também pode ser uma coisa para um juiz, ou o seu contrário para outro. O Tribunal da Comarca do Baixo Vouga condenou um homem a 120 dias de multa, à taxa diária de nove euros, pelo crime de detenção de arma proibida. Mas a Relação de Coimbra discordou: o homem que veio parar a tribunal porque agrediu o actual companheiro da ex-mulher não deve ser condenado por esse crime porque o chicote de 60 centímetros que usou para o agredir à bruta não é uma arma proibida, mas um objecto de decoração. E mais uma vez foi usado um dicionário para explicar a sentença. De acordo com o Dicionário de Língua Portuguesa online, transmitiu o juiz, “um chicote é um objecto de corda entrançada ou tira de couro terminada em ponta e presa a um cabo para fustigar cavalos”. Além disso, continuou, “quem tem alguma experiência do trabalho no campo sabe que no passado, quando este trabalho era feito com auxílio de animais, o chicote era usado pelos lavradores precisamente para fustigarem os animais”. Só que como o homem agredido não é um animal, nem o agressor era um lavrador em trabalhos no campo, a única definição válida é aquela que diz que o chicote é “um mero objecto de decoração, mesmo que se conteste o gosto decorativo”. Pouco importa se o actual companheiro da ex-mulher ficou cheio de fracturas e doente por um período de oito dias: o chicote não é arma proibida, porque se fosse não estava à disposição nas paredes das salas.