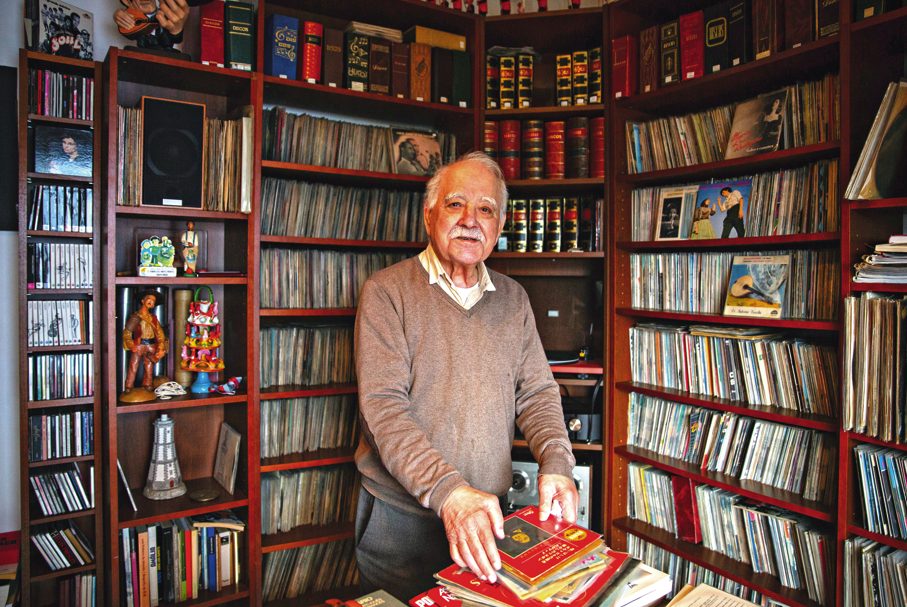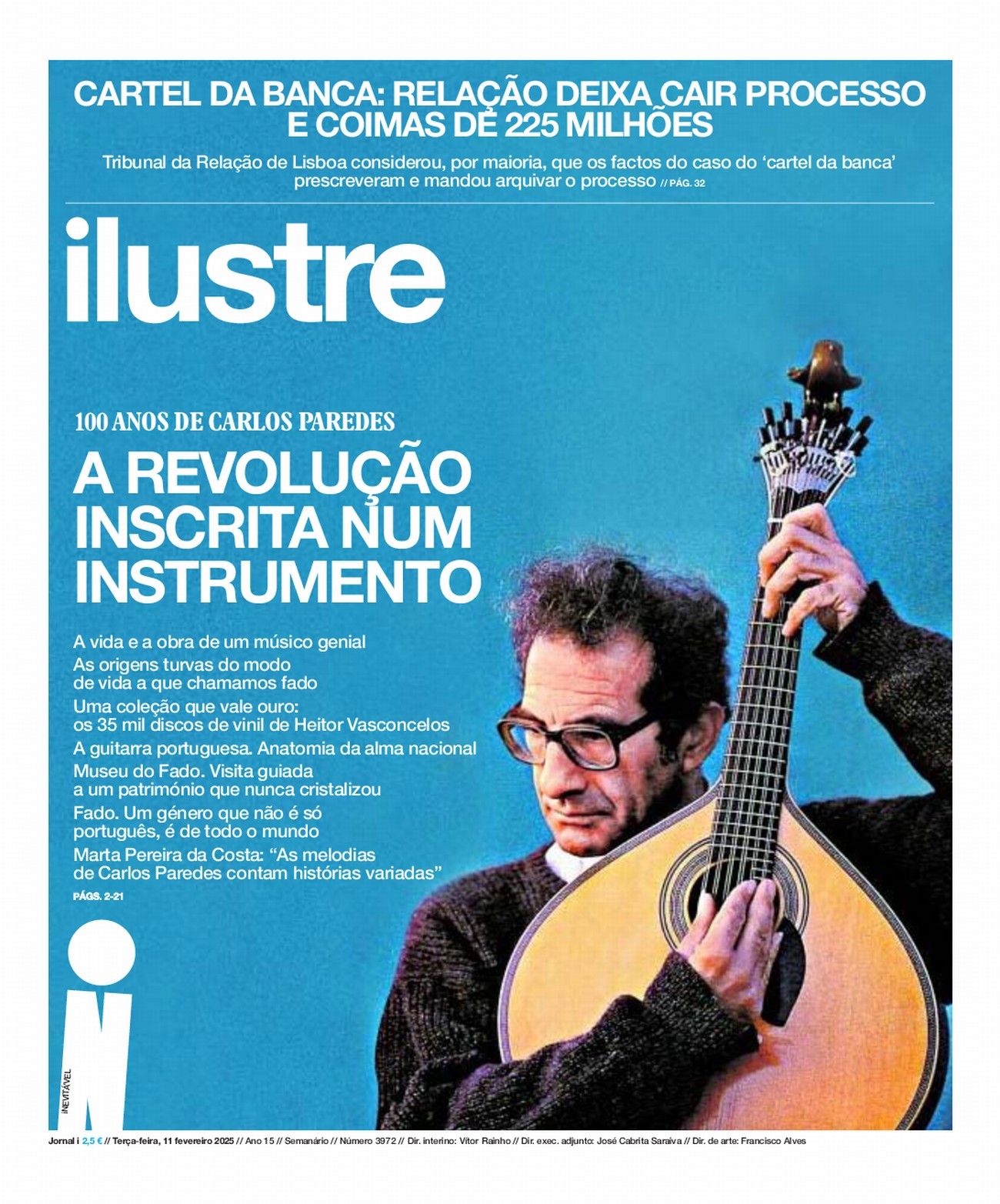Os estudos demonstram que aos 20 anos, um cidadão, em França, da pré-escola à Universidade, recebeu do Estado – em infraestruturas, equipamentos, professores, pessoal à disposição, etc. – 120 mil euros (e, ao longo da vida, no Reino Unido, uma esmagadora parte da população dá tanto ao estado quanto dele recebe); os pacientes, ao não efetuarem a medicação prescrita (pelos médicos) até ao fim (em doenças de longa duração), em 30 a 50% dos casos, dão ensejo a um dos fatores pelos quais são muito elevados os custos com a Saúde por todo o globo (reinício dos tratamentos, novos medicamentos, desperdício daqueles que se deixaram de tomar, etc.); na Dinamarca, Suécia e Finlândia muda-se mais de emprego do que em quaisquer (outros) lugares do mundo; em Israel e nas Ilhas Maurícias, o valor do subsídio de desemprego é de 90% do último salário declarado pelo trabalhador – mas na Polónia e no Cazaquistão é de apenas 30% daquele – e na Bélgica a atribuição deste subsídio é por tempo indeterminado – enquanto no Cazaquistão, o tempo máximo de duração daquela prestação social é de 1,2 meses. Segundo inquérito realizado em 140 países, metade dos adultos nas economias avançadas, e 84% nos países em desenvolvimento, não poupam para a idade sénior; no Chile, Coreia do Sul e México a maior fonte de rendimento das pessoas com mais de 65 anos continua a ser o trabalho; em Singapura, 80% da população vive em habitação pública. Na Suíça, o ensino superior público é praticamente gratuito. Pela primeira vez na história da humanidade, há mais mulheres do que homens a estudar na Universidade; Japão e Coreia do Sul, com o maior desafio demográfico (envelhecimento da população), oferecem, hoje, a baixa remunerada por paternidade mais generosa do mundo (um ano inteiro), enquanto os EUA são a única economia avançada do mundo que não tem baixa remunerada por maternidade ou paternidade estipulada por lei (em Portugal, 120 a 150 dias); o México é um excelente exemplo internacional de “estâncias infantis”: estas, proporcionam às crianças boa alimentação, programa educativo elaborado, financiamento público até 90% – e a maioria dos utilizadores (das mesmas) pertence ao grupo dos mais pobres (da população); no Quénia, por sua vez, o academismo no lidar com crianças dos 3 aos 6 anos, até há bem pouco tempo, era tal que estas eram obrigadas a realizar exames escolares. Ainda há, contudo, no nosso planeta, 60 milhões de crianças sem estarem escolarizadas. As taxas de finalização do ensino à distância a grande escala não chegam aos 10%. Nas economias avançadas entre um terço e metade dos matrimónios terminam em divórcio. Em zonas isoladas do Ruanda e Tanzânia, já se usam drones para entregar vacinas e sangue para transfusões. Ao contrário de Portugal, em vários países houve marcha-atrás nas leis de segurança social no que concerne à vinculação da idade da reforma à esperança média de vida. Na Nigéria e no Líbano, as pessoas com mais posses têm geradores elétricos próprios dada a pouca fiabilidade da rede eléctrica pública. A Estónia utiliza o voto pela internet desde 2005. O FMI calcula que cada baleia viva aporta serviços de captura de carbono valorados em 2 milhões de dólares (e cada elefante selvagem valeria 1,76 milhões). Restabelecer a população mundial de baleias eliminaria tanto dióxido de carbono do meio ambiente como plantar mil milhões de árvores. Todos os anos, 40% dos lucros das multinacionais vão para paraísos fiscais. Com a covid19, atingimos os níveis de dívida mais altos da história, superando, mesmo, os observados durante a II Guerra Mundial. Em 2018, de modo igualmente inédito, a população mundial acima dos 65 anos superou aquela acima dos 5 anos. 130 países em desenvolvimento adoptaram formas de “rendimento mínimo garantido” (incluindo formulações, como a da Índia, do direito a 100 dias de trabalho remunerado garantido, com o valor do salário mínimo), revelando-se, estas, eficazes; vários estados, pelo mundo, bonificam a poupança dos cidadãos, colocando idêntico valor, ao aforrado pelo indivíduo, na sua conta, todos os meses (para incentivar aquele comportamento, num mundo em que o aumento da esperança média de vida coloca forte pressão na Segurança Social); o País de Gales é o primeiro, no mundo, com um governo que alberga uma “ministra para o equilíbrio entre gerações”; Atenas tem a primeira “chefe do calor” do planeta. Uma criança nascida hoje possui mais possibilidades de viver 100 anos do que de não chegar lá.
Minouche Shafik, diretora da London School of Economics and Political Science (LSE), antiga vice-presidente do Banco Mundial, ex-subdiretora gerente do FMI e anterior vice-governadora do Banco de Inglaterra, nascida no Egito e com doutoramento em Economia, no livro O que devemos uns aos outros. Um novo contrato social (Paidós, 2022), compulsou uma série de estudos das melhores publicações académicas mundiais – fornecendo, assim, um vasto manancial de dados, medidas, programas com que, nomeadamente, o poder público se confrontou e/ou adoptou em diferentes partes da Terra -, para oferecer um “menu de políticas” alternativas, com vista a lançar um novo “contrato social”. Não se trata, contudo, e apenas da elaboração de um acervo tecnocrático das “melhores práticas” – até porque, em muitas ocasiões, não há apenas um caminho, uma resposta possível. A política significa, justamente, deliberar sobre essa escolha -, mas, bem mais, de elencar um eixo de princípios e propostas políticas num leque de temas que considera determinantes no nosso futuro: infância, educação, saúde, trabalho, idade sénior, relações intergeracionais.
Pretendendo inscrever-se numa vetusta tradição da London School of Economics – a participação quando não a gestação de alterações ao paradigma político-ideológico vigente ou predominante, uma nova geração de políticas públicas a implementar ou, mais radicalmente, uma renovada compreensão do mundo e das obrigações dos humanos entre si, propiciados por contributos determinantes de alguns dos seus mais proeminentes investigadores e docentes, ao longo da última centúria -, Minouche Shafiq principia o seu ensaio evocando as investigadoras, vinculadas à instituição que atualmente dirige, que no início do século XX estudaram a situação e as reais condições de vida da população mais pobre do Reino Unido, produzindo um relatório e recomendações decisivas que colocassem termo às severas e cruéis “leis da pobreza” (Poor Laws) naquele país – documento e propostas que viriam a estar na raiz do célebre Relatório Beveridge (determinante na reforma social, e influente na formação e desenho do Welfare State naquele país, com o seu acento na necessidade de ingressos mínimos para uma vida digna, Serviço Nacional de Saúde, seguro por desemprego e pensões).
Se a Grande Depressão daria origem ao New Deal, de Roosevelt, nos EUA, e a um maior intervencionismo estatal face ao status quo então vigente, a II Guerra Mundial foi o gérmen da criação do Estado de bem-estar britânico, enquanto o Plano Marshall se ofereceu como o mecanismo que o estendeu a toda a Europa. Após a crise petrolífera nos anos 70, do século passado, a revolução conservadora de Thatcher e Reagan segue os ditames de um intelectual austríaco, futuro Nobel da Economia, Friedrich Hayek que, em “O caminho da servidão”, ligara o intervencionismo estatal ao totalitarismo, ensinara na LSE até 1950, de onde partira para dar aulas na Universidade de Chicago, influenciando, então e aí, Milton Friedman e criando as bases – e uma verdadeira escola que haveria de ficar associada a esta corrente – do pensamento económico liberal, assente na liberdade individual, no individualismo, na eficiência dos mercados (e, não raro, na defesa de um estado mínimo). Finalmente, um docente da LSE, Anthony Giddens, haveria de tornar-se, ao nível teórico, na figura cimeira da chamada “terceira-via”, a procura de compatibilização dos valores do “trabalhismo”, do “socialismo-democrático”, da “social-democracia” com a iniciativa privada, favorável aos negócios, a privatizações, a economias mais abertas (Blair, Clinton, Schroeder encarnaram, por antonomásia, o “novo centro”).
Minouche Shafik identifica a crise financeira de 2008 como responsável “pelo reordenamento radical” das nossas sociedades. Crescentes níveis de indignação e ressentimento proliferaram em diferentes sociedades e não apenas no Velho Continente – 4/5 das pessoas inquiridas nos EUA, China, Índia e Europa respondem que o “sistema” não está a funcionar para elas -, porque, face a um passado recente, as pessoas têm uma “maior sensação de insegurança”, impotência, frustração por não possuírem “os meios e o poder necessários para conseguirem construir o seu futuro”. Por consequência, “declina o apoio ao sistema de cooperação internacional e cresce o nacionalismo e o populismo”. Na verdade, desde 2008 a “terceira-via perdeu credibilidade” e, por outro lado, “boa parte do pensamento atual sobre as políticas sociais e económicas vem de Thatcher e Reagan”. Ora, desde logo, no tempo que vivemos, “são necessários novos papéis para a empresa privada e o Estado”. As convulsões a que, sucessivamente, assistimos – “tudo se desmorona” foi expressão, na sua declinação inglesa, em 2016, mais citada do que nunca – exigem um novo “contrato social”.
Todas as sociedades optam por deixar certas tarefas ao coletivo e outras aos indivíduos e às famílias. Quanto deve um indivíduo à sociedade e este aquela? O que devemos uns aos outros? E quem somos “nós”? Este “nós” (em que somos e em que nos inserimos), responde Shafiq Minouche, encerra, em si, vários “círculos concêntricos”: família, amigos próximos, comunidade em que vivemos, estado-nação, (em termos europeus) a UE, o mundo.
Embora não raro confundidos, os conceitos de “contrato social” e “Estado de bem-estar” não são sinónimos; o contrato social determina o que há a prover de forma coletiva e quem o vai prover; o Estado de Bem-estar é uma das formas possíveis de provisão. O contrato social, portanto, remete para a colaboração entre indivíduos, empresas, sociedade civil e estado com o intuito de, entre todos, contribuírem para um sistema em que se procurem uma série de prestações coletivas.
Se tendemos a ver o contrato social como originado na época do Iluminismo, bem melhor o situaríamos como formulado, já, em Platão. Sendo certo que, até à nossa era, as expectativas da sociedade relativamente ao Estado eram escassas. Responder às grandes perguntas morais – o que devemos uns aos outros em concretas matérias de ajuda quanto a problemas, que cada um pode passar, de saúde, educação, desemprego, etc. – será decisivo na hora de desenhar políticas mais ou menos generosas. O que determina o nosso destino, afinal, segundo a investigadora, é o país em que nascemos; as atitudes sociais prevalecentes num dado momento histórico; as instituições que governam a nossa economia; a sorte e o azar.
Deve ser a sociedade a decidir o objetivo do contrato social. Vários países estão, já, a construir e/ou implementar formas de medição, de (in)satisfação com o contrato social, mais amplas do que a utilidade social. Para o economista e filósofo Amartya Sen, o contrato social deve aspirar a permitir às pessoas levarem o tipo de vida que mais valorizam.
Em célebre alocução, aquela que foi primeira-ministra do Reino Unido entre 1979 e 1990, Margaret Thatcher concluiria que “temos o dever de cuidar de nós e, só depois, dos nossos vizinhos”, colocando a ênfase na responsabilidade individual (o que também sucede, atualmente, e desde os anos 80 pelo menos, nos EUA ou Austrália).
Num tempo muito dado a rótulos, se em vez de exemplos, pretendermos a fácil identificação com certos modelos ideológicos tomaríamos nota da mais complexa natureza da realidade das coisas: na Suíça, país de forte descentralização e de democracia local, mau grado níveis baixos de pressão fiscal e uma forte tradição conservadora, o ensino superior público é praticamente gratuito; em Singapura, país por muitos apontado como a guarda avançada da concretização de políticas económicas fidelíssimas ao pensamento económico liberal, 80% da população vive em habitação pública, o serviço militar obrigatório é de dois anos e o país tem um forte sistema de engenharia social para harmonizar as disputas entre as múltiplas etnias presentes no seu território; a China, associada quase sempre ao comunismo, não tinha, até há pouco, um sistema público sanitário ou prestações sociais por desemprego e continua sem um imposto de sucessões sequer para os mais ricos.
Minouche Shafiq propõe, como princípios políticos a adotar, mais urgentes em certas latitudes e já mais concretizadas ou disso mais próximas em outras, em todas as comunidades políticas espalhadas pelo globo: a) todas as pessoas deviam ter garantido o mínimo necessário para viver uma vida digna; b) todas as pessoas contribuem com tudo o que possam e devem receber as máximas oportunidades para o fazer; c) é ao nível da sociedade – mais do que ao nível dos indivíduos, das famílias e dos empregadores – que melhor se podem partilhar e abordar certos riscos, como os associados à doença, ao desemprego e ao envelhecimento.
Se um traço há que fica bastante claro da exposição da ensaísta ao longo de “O que devemos uns aos outros. Um novo contrato social” é que, esta, acredita na implementação e aprofundamento de uma plataforma política – que parece ter provado nos países nórdicos, mas não apenas – assente em uma flexissegurança, que tanto permite a acomodação das empresas aos choques tecnológicos, como não desespera o cidadão e as famílias que sabem que sempre estarão dentro de uma (robusta) rede de protecção e serão, ademais, empoderadas para se encontrarem em condições de desempenhar novas tarefas/funções, inserirem-se em novos empregos (nomeadamente, os surgidos em virtude das mutações tecnológicas). Fá-lo, reclamando, em termos globais, mais do Estado – criação de um direito, pós 18 anos, a uma formação ao longo da vida – e das empresas – contribuição para um fundo que permita, justamente, algo que também as beneficiará (nomeadamente, trabalhadores melhor preparados/qualificados e produtivos), mas sem deixar, igualmente, de, à equação, convocar o cidadão (trabalhar mais um ano, para amealhar para o mesmo fundo, no sentido de garantir ao seu filho o direito aquela aprendizagem). Neste contexto, o investimento com a formação de adultos tenderia a aumentar (relativamente ao padrão vigente), regra geral, nos diferentes estados. Se muitos entendem que por via da competição internacional, e da necessidade de (maior) abertura comercial e das economias, o Estado social não pode ser generoso (ou, nas formulações mais extremadas, deveria ser, senão eliminado, muito reduzido), nos mais diversos países, M. Shafiq contesta a ideia: “podem os países construir contratos sociais mais generosos num mundo globalizado e de alta mobilidade do capital, ou a necessidade de competir com outras nações torna inevitável que se embarque numa estrada para o naufrágio? A resposta é que sim, podem. Entre os países que souberam lidar bem com a globalização, há uma ampla variedade de contratos sociais, uns mais generosos do que outros. Não parece que exista uma relação significativa entre a abertura de uma economia e o nível em que nela se estão a aplicar políticas redistributivas generosas, por exemplo” (p.237). Porventura, a linha política, vista aqui em um sentido descritivo/“técnico”, mais “progressista”, demandada nesta obra da antiga alta patente do FMI, se estabeleça em torno do papel do “público” face ao das “famílias” durante a(s) infância(s), na medida em que, reconhecendo diferentes tradições e culturas, opções diversas legítimas quanto à (assunção de) responsabilidade pelo cuidado dos menores até à ida (daqueles) para a escola – e se, na Europa, e até há alguns anos, algum choque poderia haver nas perspectivas aqui, a seguir, avançadas e uma reponderação das mentalidades e comportamentos fica, em qualquer caso, solicitada (mesmo) para hoje, no Leste asiático e na África dos nossos dias ainda muito (mais disruptiva) o será – se coloca uma grande urgência na capacitação das crianças em um período crucial (como é o) dos seus primeiros 1000 dias, nomeadamente com a formação da arquitectura do cérebro nos primeiros 5 anos de vida da pessoa, em que da alimentação adequada à estimulação cognitiva, passando pelo papel de ambos os progenitores na sua educação/desenvolvimento muito pode ser revisto quanto ao atualmente praticado (face a escolhas mais “conservadoras” que não outorgariam a pré-escola a “estâncias educativas” (supervisionadas pelo estado), não permitiriam a ambos os ascendentes interromper o seu vínculo laboral para o cuidado com a criança ou, então, não compreenderiam do benéfico – para a criança e família – do regresso da mãe ao mercado de trabalho ao fim, não antes mas também não muito depois, de um ano (de interregno), ou não referenciariam a intervenção e cuidado marcados/marcantes do pai (como sendo muito importantes) no saudável crescimento dos filhos, ou poderiam desdenhar da maior tendência para a partilha dos tempos de parentalidade pós-nascimento da criança e, até, reitera-se, reagiriam, ao nível das mentalidades, no que diz respeito, também, à realização de atividades não remuneradas no interior de casa; o país mais igualitário, ao nível do “género”, sublinhe-se, é a Noruega; o mais desigualitário, o Paquistão). O deslocamento da atenção para a necessidade de um maior investimento na primeira infância e na idade adulta é um ponto central de “O que devemos uns aos outros”. Diversamente, Minouche Shafiq não parece apresentar-se excessivamente entusiasmada com propostas de criação universal de prestações sociais não contributivas, como a de outorga de uma “herança” (de cidadania, conferida pelo estado), na ordem dos 120.000 euros, quando cada cidadão complete 25 anos, tal como concebida por Thomas Picketty; a experiência do “cheque-bebé” que vigorou no Reino Unido entre 2002-2011 (250 libras anuais atribuídas a cada criança, acrescidas de outras 250, caso estas fossem provenientes de agregados familiares desfavorecidos); a existência de um rendimento básico universal – situando, a autora, a objecção, a este último, essencialmente no custo de tal prestação, caso fosse minimamente generosa, fixando-a, nos cálculos que estima, em 20 a 30% do PIB, o que colocaria nos sistemas demasiada “pressão fiscal”; e ainda que restringindo a leitura do mesmo (RBU) a um objetivo de diminuição da pobreza, algo que muitas das formulações deste mecanismo pressupõem, mas, e em simultâneo, está longe de o esgotar, dado que visam (tais formulações do RBU), igualmente, alcançar mais amplos e estendidos desideratos (da liberdade de escolher a vida, ou principal atividade, a que cada cidadão se pretende dedicar, até a uma maior participação na vida da polis, por parte do mesmo, por exemplo). No caso do combate à pobreza, “prestações focadas” seriam mais adequadas, contrapõe Shafiq. Admite, no entanto, que em países de baixa renda um rendimento básico universal, como complemento ao magro rendimento das famílias, faça sentido.
Um elemento particularmente interessante em “Boa economia para tempos difíceis” (Actual, 2020), dos Nobel da Economia Abhijit V. Banerjee e Esther Duflo, a propósito, ainda, do repensar do RBU (vide, em especial, cap.9: “Dinheiro e dignidade”) no Ocidente, passa pela indicação de que a grande maioria das pessoas associa o sentido na vida a um dado trabalho, a uma dada actividade (salvar vidas, proporcionar maior qualidade de vida a outrem, transmitir/facilitar a aquisição do conhecimento acumulado, em uma dada área de investigação, às gerações seguintes, etc.) e isso é tanto mais verdade – de acordo com o resultado de estudos e inquéritos a trabalhadores, neste contexto – nos sectores da Saúde ou Educação (não tanto, por exemplo, na hotelaria; aí, mostram-nos os dados das respostas dos trabalhadores desse sector, não existe uma correlação tão forte entre o sentido na vida e o exercício de uma dada atividade). Ou seja, um RBU – que o Papa Francisco, no livro "Sonhemos juntos" (de 2020), sugere que seja explorado como possibilidade a aplicar -, não resolve, necessariamente, o problema do "propósito" – a Ocidente (e este é um elemento que não temos visto muito tratado nas elaborações sobre o tema e que merece, assim, consideração; já agora, e por analogia, os economistas que assinam esta obra referem o mesmo quanto ao modelo de flexissegurança: também nos países em que há um chão (prestação social substantiva) para não se cair abaixo de dado patamar, económico-social, quando as competências e conhecimentos do cidadão-trabalhador ficam obsoletas (passa por situação de desemprego), ainda aí não se resolve o problema do “propósito” ou “sentido” (a pessoa fica com um rendimento digno, mas não necessariamente com uma atividade e um sentido de contributo dentro de uma dada organização social adquiridos). Por outro lado, em países em desenvolvimento, como a Índia, em função de um contexto económico e laboral com muitos cidadãos sem um contrato fixo, a pessoa de manhã faz-se costureira, à tarde cozinheira, noutro dia é “o que calhar” (não está, pois, em imensos casos, apegado a uma dada atividade em particular). E muitos homens encontram-se centrados em clubes de ajuda (a outrem), por exemplo. Ou seja, aí o “propósito” ou “sentido” na vida não está vinculado ao exercício de uma dada atividade (específica). Em assim sendo, nesses países, a transferência de uma prestação monetária poderia ser "suficiente" (mas também combinada com outras medidas de combate à pobreza) para preencher as necessidades requeridas por cidadãos (que nos centros ou clubes de ajuda, entre outros, tendem a dar vazão a esse "sentido" ou "propósito", para além de, não raro, obterem, igualmente, remuneração dessa "ajuda" – dada pelos centros ou clubes).
Nos países em desenvolvimento, dada a escassez de cobrança de impostos (da existência, mesma, destes, um forte constrangimento à própria superação da pobreza em tais geografias), não se afigura fácil a criação de um rendimento básico universal minimamente denso. Abhijit V. Banerjee e Esther Duflo propõem, pois, neste domínio, um rendimento ultrabásico incondicional – tendo, ainda, por referência, a Índia (o Inquérito da Índia fala em pouco mais de 400 euros anuais), mesmo que, repete-se, combinado com medidas mais direccionadas para os mais pobres (sendo que se calcula em 25% a percentagem de indianos que não seriam elegíveis para o RBU…que assim perderia o carácter rigorosamente universal).
A experiência profissional de Minouche Shafiq corrobora o bem fundado e a concreta eficácia na vida das pessoas (e efeito benéfico, adicionalmente, no âmbito das economias) da criação de “rendimentos mínimos garantidos”, em particular em 130 países em desenvolvimento: “durante os meus anos no Banco Mundial, no Departamento de Desenvolvimento Internacional britânico e no FMI, tive a oportunidade de ver pôr em marcha dezenas de programas desse tipo, assim como de rigorosas avaliações do seu funcionamento. Os dados indicam de forma esmagadora que foram um instrumento eficiente e eficaz para a prevenção da indigência, a melhoria da nutrição, o apoio à educação infantil e o avanço na saúde das famílias mais pobres do mundo” (p.145). A abordagem doutrinária, pela ex-vice-governadora do Banco de Inglaterra, do tipo de políticas a levar a cabo é, sem prejuízo do que se vem de dizer, bem clara: “as políticas predistributivas, como a igualdade de acesso a uma boa educação ou o investimento adicional em habitações e comunidades mais desfavorecidas são também mais empoderadoras para os indivíduos afectados e reduzem os riscos de dependência crónica das ajudas do Estado” (pp.221-222; nota: autores como André Barata incluem o RBU entre as políticas pré-distributivas; qualificam-no como tal). E apresenta, suplementarmente, exemplo de programa de transferências sociais, operado no Bangladesh, em que, na vez de prestações monetárias, houve “transferência de activos” [propriedades, maquinarias, por exemplo]: “visou um efeito mais consistente e duradouro no retirar as pessoas da pobreza: consistindo, em concreto, naquele país, em dar às mulheres mais pobres animais para granjear ou outros bens que lhes permitissem gerar rendimento, “conseguiu tirar, permanentemente, da pobreza as famílias mais pobres” (p.148). Mesmo que Minouche não tenha aqui adoptado um tom “moralista” sobre os gastos da população pobre em recebendo uma prestação monetária – no que seria contraditório, aliás, com o que dissera, e com a adesão inequívoca que fizera ao “rendimento mínimo garantido”, antes, porventura, pretendendo, com este exemplo, reforçar mecanismos de emancipação de cada pessoa em condições, e só aí, de deixar outros mecanismos de assegurar uma vida digna – os estudos de Banerjee e Duflo são bem explícitos quanto ao modo extremamente sensato – e, inclusive, reprodutivo, quanto ao capital auferido, por parte de populações/cidadãos (circunstancialmente) pobres que, de resto, face ao estigma tantas vezes sobre eles lançado (quanto à incapacidade de gestão de recursos advindos da comunidade política que integram), em regiões mais pobres do planeta, desconfiavam de si mesmos quanto ao bom manejo de tais ingressos (no que a experiência, as provas empíricas, os estudos levados a cabo, de modo sistemático, contrariaram).
Há âmbitos da vida (colectiva) que se apresentam com características/desenvolvimentos inelutáveis: “as mudanças serão inevitáveis nas tecnologias, demografia e pressões do ambiente”, o que significa, para ilustrar, que no domínio das pensões, o facto de as pessoas viverem até mais tarde (do que no passado) faz, já, com que a jubilação aos 65 anos – que, outrora, significaria o pagamento durante pouco mais de meia dúzia de anos de prestações sociais, pagas através da previdência pública e que, atualmente, redunda em quase 20 anos (de prestações pagas ao nível estatal – sem embargo de outros actores que não o estado, em diferentes países, marcarem presença e terem um papel determinante aqui, bem como sem prejuízo quem se encontra na informalidade laboral, em múltiplas nações, não encontre acolhimento no sistema de pensões o que, de resto, urge alterar) -, em vários estados coloque sérios desafio. Ora, para a diretora da London School of Economics torna-se claro, em função dos elementos vindos de observar, que todo o recuo existente em políticas que indexavam a idade da reforma à esperança média de vida são não apenas um retrocesso, como um esforço que se diria, mais do que utópico, populista (o recuo da idade da reforma em França, país em que a esperança média de vida tem aumentado sucessivamente – como a Ocidente, e até à pandemia da covid19, foi um registo uniforme, com a excepção dos EUA, a braços com um colossal problema ao nível do consumo massivo de opiáceos por uma parcela muito relevante da população-, foi um dos principais temas de campanha, e demanda dos cidadãos nas últimas eleições presidenciais). Não admira, neste contexto ainda, que Portugal, e sua reforma do sistema de pensões há já cerca de década e meia concebida e implementada, continuem a ser dados como exemplos (a única vez em que Portugal é destacado – seja pela positiva, seja pela negativa; mas, no caso concreto, com elogio a esta reforma – neste livro de Minouche Shafiq). Portanto, se em outros âmbitos de atenção a dispensar do ponto de vista político, já aqui identificados (infância e, nela, papel das família e estado, distribuição de tarefas no interior da família), o posicionamento da ensaísta assume um contorno mais claramente “progressista” (o mesmo se refira relativamente à abordagem da fiscalidade), em nenhum momento da obra, porém, esta cede ao que se percebe que observa como o que se poderia traduzir por “primazia da ideia sobre a realidade” – por muito que alguns dos leitores que se identifiquem mais intensamente com um lado “progressista” (embora, sabemo-lo, não apenas estes) pudessem, para nos atermos ao caso citado das pensões, sonhar com uma diminuição da idade da reforma (outros apontarão, não sem razão, que em política sempre há alternativas, as quais, em todo o caso, seriam mais nefastas ao bem comum, tal qual este é configurado por M.Shafiq, do que a indexação – com possíveis excepções para profissões mais desgastantes; os pobres morrem mais cedo, entre outros motivos, pelo facto de, regra geral, desempenharem profissões mais duras – da pensão à esperança média de vida).
Do ponto de vista da forma, o ensaio político em apreço, apresentando um muito robusto suporte de estudos, relatórios, estatísticas, papers e livros sobre os temas relativamente aos quais se debruça, tende a contrastar com um modo, outro, mais ligeiro e voluntarista, mais enxuto, mas tantas vezes mais simplificador, menos académico, mas também menos fundamentado com que nos confrontamos quando nos precipitamos para algumas elaborações com idênticos objecto e objetivo, o de repensar o contrato social e as políticas públicas – e não podemos deixar de pensar, no caso português, de tentativas, na última década e meia, de alguns líderes partidários que se abalançaram a esse exercício porventura não demasiado conseguido (e no qual a bibliografia apresentada, para procurar ancorar as suas posições, quase se via dispensada, ou era francamente diminuta; não admira que, em tais casos, “a ideia fosse [e se viesse a revelar na assunção de responsabilidades políticas de envergadura por quem subscreveu tais manifestos] mais importante do que a realidade”.
Por outra banda, desde as primeiras linhas desta obra, e na busca de razões que expliquem as causas do “tudo se desmorona” – se é que “tudo se desmorona” mesmo – e do “reordenamento radical das nossas sociedades” – se é que, efectivamente, tal sucede (e dando por descontado que, para lá das percepções, autora e leitores identificam as mesmas realidades que se julgam inscritas em ambas as asserções, até porque, de imediato, quando a autora utiliza tais expressões se abala à descrição dos “indignados” e dos estudos e inquéritos que evidenciam a contestação, global, do(s) “sistema(s)”) – a autora satisfaz-se, como razão explicativa (bastante) para tal acontecer, com as consequências da crise financeira de 2008. Aqui, porventura filósofos como Gilles Lipovetsky ou Charles Taylor lembrassem a “crise de sentido” para lá (antes e depois) da crise de 2008 (pelo menos, a Ocidente: “a religião e a cultura são inseparáveis. Quando (…) na Faculdade de Teologia, se falava da morte de Deus, eu pensei: mas isso é na Europa, não é o que se passa na Índia, na África ou na Ásia!”, Javier Melloni, Expresso, 22-07-2022) como causa maior do “tudo se desmorona” (e o radical, eventualmente, em alguns sectores da população, de uma desorientação galopante); um economista como Branko Milovanovic apontaria a globalização e as desigualdades que aquela gerou no interior de cada país, como responsável (responsáveis) pelo “reordenamento radical das nossas sociedades” (ainda que os tipos de desigualdades económicas, e em que concretos sectores sociais, e sua evolução ao longo das últimas décadas tenha sido/continue a ser tema objecto de contraditório e discussão; vide, por exemplo, Ricardo Reis, Expresso, 05-08-2022); a desvalorização de profissões e profissionais sem o credencialismo académico mas fundamentais à sociedade, desrespeitando-se a sua dignidade (valor) seria apontada pelo filósofo moral e político Michael Sandel como um elemento crucial nesta hora (de “fogo e fúria”); um cientista político como Francis Fukuyama apontaria o dedo a uma aplicação extremada do neoliberalismo, no plano económico, e a centralidade das políticas identitárias e guerras culturais, propugnadas, respectivamente, por (certas, não todas no planeta, evidentemente) direita(s) e esquerda(s) – mesmo que sem simetria, em termos proporcionais, no desencadear da “tempestade perfeita”, erosão maior, segundo o balanço de Fukuyama, causada pelo extremismo mercantil – como principais responsáveis pelo “turbilhão” social sentido; um psicólogo social como Jonhatan Haidt colocaria o foco, da alteração e polarização a que assistimos nas nossas sociedades, na emergência e no funcionamento (deliberado para acirrar os ânimos) das redes sociais; um ensaísta e romancista como Pankaj Mishra tomaria as promessas, por cumprir, em/de (as) sociedades em desenvolvimento, na sequência do fim da guerra fria, se sentarem à mesa dos afluentes como geradora de imenso ressentimento, em múltiplas sociedades; a “acosmicidade”, a perda da relação com a natureza, a ida massiva para as cidades, a ignorância do mundo (pela perda de contacto com ele, no abandono, em grande escala, da agricultura), as últimas revoluções camponesas nos anos 60, o Concílio Vaticano II (que colocou, visando a sua actualização, a borbulhar a maior religião mundial) e o Maio de 1968 seriam factores decisivos, para o matemático e filósofo Michel Serres, conducentes a explicar as convulsões do nosso tempo; um pensador como Manuel Maria Carrilho apontaria a instauração nas nossas sociedades do “paradigma do ilimitado”, com a sua hybris de “sempre mais” (economia, consumo, direitos…) como raiz da insatisfação perpétua; o filósofo (ateu) francês Michel Onfray, olhando o Ocidente de modo mais detido, vê a descristianização (ou, nos seus termos, o finar do “judaico-cristianismo”) como a causa mais funda do “declínio do Ocidente”: “o poder de uma civilização desposa sempre o poder da religião que a legitima. Quando a religião está numa fase ascendente, a civilização também ascende; quando está numa fase descendente, a civilização decai; quando a religião morre, a civilização morre com ela” [“Decadência – o declínio do Ocidente”, Edições 70, 2019, p.18] (e a cientista política Marina Costa Lobo vincula um certo ‘à deriva’ de partidos ditos democrata-cristãos, na Europa, precisamente, a uma perda social da Igreja, à qual, não raro, se encontravam vinculados – ou em cujos programas, ou em limitadas partes destes, visavam plasmar uma mundividência que consideravam conforme à doutrina propugnada por aquela instituição -, ou da qual se sentiam próximos, ou assim, pelo menos, eram percepcionados); um professor de Estética como Roger Scruton realçaria a importância, nesta hora negra, de certas personalidades vociferantes que arrasta(ra)m multidões para o caos e atraem más paixões – e como sendo resultado, elas mesmas (tais personalidades) e os fenómenos que alcançam produzir, de uma decadência cultural, em última instância tributária de um ensino que pretendeu atirar ao ostracismo as Humanidades e claudicou no irrigar da exigência do sentido crítico e do escrutínio…
Se todos partimos de certo(s) viés – experiência(s) de vida, cultura, percurso académico, áreas preferenciais de atenção e interesse ou de investigação, profissão, etc. – é perfeitamente compreensível a centralidade – em uma muito reputada economista e diretora de uma escola que produz relevante trabalho, nomeadamente, na área da ciência política – que a elaboração/abordagem da autora siga o trilho que vimos apresentando, justamente situado no âmbito da pesquisa económica e em exercício de ciência política (e em que a busca do conhecimento se encontra muito adstrita à dilucidação de inquéritos, estudos empíricos, sondagens, relatórios, papers, etc.). Em todo o caso, talvez não seja excessivamente ousado não negligenciar um potencial de uma possível complexificação adicional, assente, é certo, em uma outra aproximação à compreensão da realidade, que, exemplarmente, a filosofia (política e moral) aqui poderia aportar (porque quanto melhor, mais denso o diagnóstico, provavelmente melhores também os contratos sociais e as políticas públicas – e sem menoscabo de algumas das questões sugeridas por autores, nem todos filósofos evidentemente, como os vindos de referir (e considerando-se a pluralidade disciplinar como significativa, aliás) comunicam, evidentemente, com a parcimoniosa e aturada perspectiva de Shafiq, nomeadamente, e em parte aquela destacada por Fukuyama ou Branko Milanovic).
Finalmente, a ideia, vincada neste libro por Minouche Shafiq – que emigrou do Egipto quando o estado nacionalizou as terras. Na sua infância, no país que a viu nascer, as crianças não podiam ir à escola, nem decidir com quem casar, nem quantos filhos tinham. “O que me salvou foram as bibliotecas locais, onde a minha mãe me levava aos fins de semana”, remata, em forte elogio, assim, ao papel que os livros e a leitura, o conhecimento, podem proporcionar aos indivíduos -, de necessidade e urgência de revisão e recomposição do papel que cabe acometer a estado e empresas recorda muito o objetivo, enunciado, praticamente nos mesmos exatos termos, pelo historiador Tony Judt, há já mais de uma década, em “Um tratado acerca dos nossos actuais descontentamentos”. Sinal, eventualmente, que mesmo as mais bem argumentadas e sugestivas elaborações políticas – como o caso desse ensaio do grande historiador social-democrata – tendem a confrontar-se (embater) muito com uma espécie de pré-compreensão muito estendida, reconhecida, de resto, por Shafiq quando refere o tipo de visão prevalecente sobre políticas públicas e programas sociais, que “naturaliza” o que é do domínio da opção, e assume como “evidente” aquilo que é controvertido e que não facilmente se deixa persuadir ou acede a alterar-se. Veremos se a atual diretora da LSE é melhor sucedida – do que Judt – numa obra com ambição de se filiar na lógica e na história de mudanças de fundo nos contratos sociais (e, nessa medida, creio que, apesar do contributo positivo, este livro não contém, para o bem ou para o mal, o alcance disruptivo alcançado por aquelas teorizações/programas político-ideológicos do século passado a que já nos referimos e a que Mark Lilla chamou grandes “dispensações”, antes procurando acomodar, nas propostas que formula, uma evolução relativamente suave – ainda que tais qualificações possam ter acentuações bastante diversas consoante os contextos geográfico-culturais em que sejam postas em prática).
Uma nota derradeira em jeito de post scriptum – antes de passarmos a um olhar sobre a sistematização temática, tão resumida quanto possível, realizada por Minouche Shafiq – para uma reflexão outra que o conjunto de indicadores deixados neste livro podem suscitar ao leitor português interessado na “coisa pública”. No interior do sistema partidário português, adquiriu certa centralidade, em anos recentes, o debate sobre a “ultrapassagem” que os países de Leste realizaram – partindo, em tempos nada distantes, de patamares bem inferiores ao nosso – à economia portuguesa. O caso polaco, em especial, é, muitas vezes, esgrimido, neste âmbito. Se tal vem sendo um tópico crítico muito presente no discurso de partidos e personalidades do centro-direita português, apoiando-se, estes, em um aparato estatístico que o referencia em termos europeus e considerando que a ausência de reformas (não apenas, mas muitas vezes focadas em uma maior liberalização da economia portuguesa) por parte do atual Executivo é a causa para tal situação, a resposta, à esquerda do espectro político-partidário nacional, tem passado por apontar factores como a adesão recente dos países de Leste à UE – e um efeito multiplicador, na economia, em maior escala, pelas transferências, da União, a estes consignadas, tal qual no início da integração de Portugal na então CEE, sendo, pois, que quem assim argui, termina, em exercício prospectivo, advertindo que, em breve, tal efeito passará e estes países verão as suas taxas de crescimento minguar -, a capacidade instalada na população em termos de preparação/qualificação da população face à qual Portugal partiria, historicamente, atrasado; o posicionamento geográfico, central e, em especial, próximo do gigante alemão daria uma vantagem competitiva aos países de Leste (além de alguns destes autores, que assim se manifestam, esgrimirem estatísticas, também, para anos vindouros que provariam que Portugal iria, de novo, “ultrapassar” alguns dos mencionados países de leste). O que um e outro sectores político-partidários, bem como os media, não têm facultado é um retrato mais completo das sociedades e comunidades políticas de Leste – para lá da prática, em alguns deles, das perigosas “democracias iliberais” -, mas com indicadores, por exemplo e entre muitos outros, como o vertido nas páginas de “O que devemos uns aos outros” quanto ao pagamento de uma prestação social contributiva como a do subsídio de desemprego no valor, na Polónia, de 30% do último salário declarado (65% em Portugal, 90% na Dinamarca). É necessário um retrato bem mais amplo do que alguns, curtos, e ainda que seguramente muito relevantes, indicadores económicos – por exemplo, com o mesmo salário que bens, como saúde e educação, portugueses e polacos (húngaros, etc.) têm que adquirir e a que preço; que valorações fazem, relativamente a diferentes bens de que carecemos coletivamente, portugueses e polacos; como é o sistema de pensões na Polónia; a satisfação com a vida declarada por polacos e portugueses, etc. – para perceber, uma vez mais, em que tipo de sociedade pretendemos viver e que experiências nos poderão ser mais úteis no nosso futuro (colectivo).
Sigamos, pois, agora, e pontuado, na sua globalidade o ensaio, de modo sistematizado, e por temas, as ideias de Shafiq. Âmbito Laboral: hoje, continua a pensar-se (a partir do pressuposto), ao nível do contrato social, em um modelo de trabalho a tempo completo e com descontos (efectuados). Ora, em sociedades de renda baixa, a maioria da população, em realidade, trabalha na economia informal, não conseguindo acesso a contratos legais, prestações por desemprego ou outras formas de seguro social. Mas também nas economias mais avançadas ao contrato de trabalho «a termo incerto» se acrescenta, cada vez mais, o «trabalho a tempo parcial», por «conta própria», ou os chamados contratos por «zero horas». Comum a todos estes novos modelos laborais: “recai cada vez mais nos trabalhadores a responsabilidade de decidir quantas horas trabalhar por dia, como manter as suas competências actualizadas para os empregadores, como sustentar-se a si próprio se adoecerem e como procurarem as suas próprias fontes de rendimento para quando forem demasiado velhos para trabalharem” (p.132). Atualmente, já não é o homem, entre os 18 e os 60 anos, que(m) trabalha, dada a crescente inserção da mulher no mercado de trabalho (para a qual mais oportunidades devem, contudo, ser criadas). Há menos jovens a trabalhar relativamente a outros tempos, porque estes estudam até mais tarde, quase sempre crendo que tal lhes valerá a obtenção de melhores salários para o resto das suas vidas. Há, pois, e em suma, uma maior variedade de género e de modelos laborais no mundo do emprego do nosso tempo (ex: trabalho “por encargo”, por “encomenda”). Foi a desregulação do mercado de trabalho dos anos 80 e 90, com a sua ideia de eficiência, que facilitou a actual situação. Um terço dos contratos de trabalho na Europa são (ditos) “alternativos” (ao modelo de contrato de trabalho tradicional; “a duração média dos empregos diminuiu, na maioria dos países”, nota de rodapé 5, p.278). Na Alemanha, por exemplo, as reformas Hartz (de uma governação de um SPD de “terceira via”, liderado por Schroeder) aumentaram o número de trabalhadores temporários em 5% (um milhão de pessoas). A maioria destes empregos durou menos de 3 meses e foram concentrados em sectores pior pagos. Assistimos ao fenómeno dos trabalhadores que não são funcionários da corporação, mas em que esta beneficia do seu trabalho (mas não participa dos seus encargos). 6,4% dos contratos de trabalho nos Países Baixos e 4% na Finlândia são de “zero horas” (aqueles nos quais os empregados têm que estar disponíveis para quem pretenda contratar os seus serviços sem ter garantido um mínimo de horas de trabalho e de ingressos). 77% das mulheres e 27% dos homens têm empregos a tempo parcial nos Países Baixos.
Flexibilidade laboral (vantagens): permite maior criação de empregos; maior eficiência das empresas; conciliar trabalho com outras dimensões da vida; onde os empregos são flexíveis, e há forte competição – a saber, os sectores do têxtil, das linhas aéreas (antes da pandemia, 20% do pessoal de cabina e 18% dos pilotos não tinham um contrato fixo com uma empresa), das comunicações, da restauração -, os preços descem (para o consumidor).
Flexibilidade laboral (desvantagens): insegurança para os trabalhadores, porque, em diversas formas contratuais atuais, sobre os seus ombros recaem todos os riscos (do suporte de uma situação de desemprego à doença). Flexibilidade que, não raro, se traduz, pois, em formas de precariedade, tanto quanto ao vínculo a uma determinada entidade patronal, quer quanto à duração do mesmo, ou remuneração mensal, impondo-se questões, à mente do trabalhador, como: ‘como vou pagar as facturas ao fim do mês?’, ‘como vou planear a minha vida?’. A saúde física e mental ressente-se, em absoluto, nestes contextos. À maior quantidade de empregos que a flexibilidade laboral permite criar, importa fazer acrescer a qualidade dos/nos mesmos (trabalhos).
Às empresas, os contratos flexíveis permitem-lhes pagar menos para a Segurança Social, menos indemnizações no despedimento de trabalhadores, menos aporte para pensões e coberturas médicas. Nos Países Baixos, se uma empresa contratar um trabalhador a “recibos verdes” em vez de o ter na empresa tal significará pagar menos 60% do que se o tivesse nos seus quadros (p.149). Flexibilidade laboral tende a significar, também e entre outras dimensões, como acabámos de ver, uma maior facilidade de despedimento de um trabalhador por uma dada entidade patronal. Do outro lado do problema, um trabalhador despedido tem i) maiores possibilidades de contrair uma doença que antes não possuía, no ano seguinte ao despedimento; ii) menos esperança média de vida (do que um não despedido); iii) em empregos subsequentes, em média, vai ganhar menos do que auferia no emprego do qual foi despedido e iv) a sua confiança nos outros passará a ser menor (Shafiq é exaustiva nas provas apresentadas para chegar a tais conclusões). As empresas, por sua vez, também sofrem com os despedimentos: i) desde logo, têm danos na sua reputação; ii) obrigam-se a gastar tempo, energia, recursos na busca e contratação de pessoal, bem como na iniciação dos novatos nas tarefas e funções que vão desempenhar (“vale mais reciclar do que despedir e contratar”, p.1557); iii) em muitos casos, observa-se uma redução do valor das suas acções; iv) verifica-se uma maior taxa de substituição do pessoal da empresa; e v) os que sobrevivem aos despedimentos, mantendo-se naquela entidade patronal, pioram o seu rendimento, diminuindo, em simultâneo, a satisfação com o trabalho daqueles que ficam (pp.137/138 e notas de rodapé 14 e 15, a págs.279/280).
Mercados mais flexíveis e menos pessoas sindicalizadas: em 1990, 36% e, em 2018, 18% (mais de 60% de filiados nos países nórdicos e menos de 10% nos países em desenvolvimento, atualmente) as pessoas filiadas em sindicatos em todo o mundo (os sindicatos “não cessam de perder peso”, sendo que se observou, nas últimas décadas, a Ocidente, uma clara perda do sector industrial face ao dos serviços).
O trabalho temporário, o trabalho independente ou os chamados contratos de «zero horas» tornaram-se realidades muito frequentes, um pouco por todo o mundo. Em termos globais, mesmo que na Europa tal não possa ser descrito do mesmo modo, para Minouche Shafiq a conclusão é clara: “a balança inclinou-se demasiado para o lado da flexibilidade sem um aporte de segurança e apoio suficientes” (p.141). Assim, a pergunta fundamental, neste âmbito, seria a seguinte: “como podemos conservar os benefícios da flexibilidade, reduzindo, ao mesmo tempo, o risco e a precariedade laboral dos trabalhadores?” (p.139). Na perspectiva, e estudo de caso(s) deste ensaio em recensão, apenas um punhado de países – como Dinamarca, Nova Zelândia, Japão e Austrália – alcançam “o ponto óptimo de flexibilidade e protecção elevadas”, isto é, conseguem que se equilibre “a flexibilidade que se dá às empresas para ajustar os seus planteis aos choques económicos com garantias suficientes de que os trabalhadores recebam apoio para poderem realizar uma transição para outros empregos sem perderem um nível de vida razoável pelo caminho” (p.141). A proposta para um novo contrato social no domínio do trabalho, passa i) pelo estabelecimento de um salário mínimo para uma vida digna – que permita, pois, pagar comida, abrigo e direito a um padrão mínimo sanitário (tal qual como definido pela Organização Mundial de Saúde); ii) proporcionar estabilidade a quem trabalha com formas não tradicionais de emprego, a tempo parcial ou flexíveis; iii) apoio ao trabalhador que enfrenta uma situação de disrupção económica, adequado à sua concreta situação, que pode ser trabalhar, por exemplo, noutra empresa, do mesmo sector, na região onde se encontra a viver, como pode implicar uma integral reciclagem profissional e a aquisição de novas competências, conhecimentos. A tecnologia foi o grande factor de queda dos salários dos menos qualificados (p.40).
Se, em nossos dias, 90% dos países membros da Organização Internacional do Trabalho têm um ou mais salários mínimos fixados por lei, ou por acordo colectivo, de outra sorte, a generosidade dos subsídios de desemprego, em todo o mundo, varia consideravelmente. O trágico, ao nível do mundo global, é que ¾ dos trabalhadores, por se encontrarem em situação de informalidade, ficam fora da possibilidade de acederem a esta prestação social contributiva. A Dinamarca, o país que, de modo sistemático, tem as mais baixas taxas de desemprego a nível mundial e aquela que, de entre todos os países, mais gasta em políticas ativas de emprego e que se centra nos que têm menos probabilidades de encontrarem um emprego, decretou que quem tem trabalhos flexíveis deve ter as mesmas prestações sociais dos que possuem contratos de trabalho tradicionais. Cada vez mais governos, com efeito, estão a actuar no sentido de vir a assegurar uma maior estabilidade e protecção dos “flexíveis”. Obrigar a jornadas laborais garantidas e horários anunciados, previamente, pela entidade empregadora contam-se entre as medidas adoptadas, e a adoptar, em várias regiões do mundo. Em Portugal, discute-se a agenda para o trabalho digno, na qual alguns destes objectivos – como o de uma maior estabilidade dos contratos de trabalho – se encontra vertida (debate-se quão bem, quanto intensamente assim é/deve ser: veremos os aportes e o pensamento/posicionamento/propostas dos diferentes partidos portugueses sobre a matéria, o que dirá a concertação social e o que decidirá, em definitivo, o Governo e/ou será aprovada em sede de Assembleia da República). Um conjunto de estudos, em países de diferente proveniência, evidencia a preferência, de quem se encontra vinculado a contratos de trabalhos flexíveis, por contratos estáveis (o que podendo parecer óbvio, na discussão pública nem sempre assim se apresenta). Em tempos bem recentes, a McDonalds ofereceu aos seus 115 mil empregados no Reino Unido a passagem de contratos de trabalho de «zero horas» a contratos fixos com um número mínimo de horas garantido por semana. Diferentes empresas – procurando colocar em prática o chamado “capitalismo de múltiplas partes interessadas” – deixaram de ter, ou anunciar, o lucro como único móbil, passando a ter de ter como referências indispensáveis e irrenunciáveis os seus trabalhadores, clientes, a sociedade como um todo (padrões ambientais, de segurança, etc.). A importância dos sindicatos em uma maior estabilidade e protecção dos contratos de trabalho não pode ser negligenciada (apesar da erosão no número dos seus filiados).
Uma dotação financeira para a educação e reciclagem profissional seria uma aceitável e a longo prazo efectiva de investimento nas gerações futuras e de busca da equidade – considera Minouche Shafiq. Um “bom exemplo de um método integral e bem planeado de apoio aos trabalhadores em risco de despedimento colectivo” são os “Conselhos de Segurança do Emprego da Suécia”: aí, os trabalhadores podem receber individualmente assessoramento, formação, ajuda económica e apoio para empreender novos negócios antes de perderem o seu emprego. Actuam em colaboração com os sindicatos e as empresas, centrando a sua actuação nos trabalhadores que, por motivos tecnológicos ou económicos, correm mais riscos de ficarem desempregadas. Preparadores específicos começam a trabalhar com estas pessoas 6 a 8 meses antes de se produzir o despedimento. Os resultados são muito positivos: 74% dos trabalhadores encontram logo um novo emprego ou continuam a alargar a sua formação e cerca de 70% que se voltam a empregar mantém ou aumentam mesmo o seu salário (p.155). Se os programas de “reciclagem profissional”, observados um pouco por todo o mundo, apresentam resultados divergentes, sabemos, hoje, que os programas formativos para necessidades concretas dos empregadores combinados com práticas e experiências laborais são melhores/obtêm uma maior eficácia do que uma “reciclagem” baseada, apenas, em aulas. Também a criação de emprego artificial no sector público, a prazo, não funciona.
Se a identificação exata dos empregos que serão criados no futuro resulta num exercício impossível, já assim não exatamente a perspectiva de “identificar, se não empregos concretos, pelo menos o tipo de competências necessárias no futuro, em função da evolução provável da tecnologia” e “preparar os jovens e trabalhadores actuais para esse futuro” (p.155). O mais provável é que não desapareçam, mas se transformem os postos de trabalho, aponta a diretora da LSE.
Infância e Educação: Na China, 6 adultos, dada a política de filho único – um pai, uma mãe, quatro avós – financiam a educação de uma pessoa (para além do que o Estado investe nela). Onde há menos mulheres no mercado de trabalho é no sul da Ásia e no Médio Oriente. No Japão, o envelhecimento é maior do que em qualquer outro lugar do planeta. Neste país, 10 pessoas com emprego sustentam 4 reformados e duas crianças abaixo de 15 anos. Na Europa, em média, 10 trabalhadores sustentam 3 idosos e 2 crianças.
Em 1960, 94% dos médicos e advogados no EUA eram homens brancos; 50 anos depois, eram 62%. (p.51). Aproveitar todo o talento à disposição – todo o género, etnia, etc. – aumenta a produtividade (podemos estar a desperdiçar o contributo de um Einstein quando não promovemos/empoderamos todos, por exemplo). Ficar com crianças ou idosos, cuidar sem remuneração, no mundo, em média, tem sido uma tarefa realizada, em maior medida, pelas mulheres: estas, ficam mais 2 horas/dia com tais encargos do que os homens. Acabar com as diferenças de género poderia fazer acrescer cerca de 35% ao PIB. Nos EUA e Europa, menos de 10% das crianças ficam, frequentemente, ao cuidado dos avós; 30% no leste asiático e 75% na África subsariana. As economias mais avançadas gastam em ajuda ao cuidado infantil 0,6% do PIB. Em França, a baixa remunerada por paternidade é de 28 semanas, enquanto na Suíça nem sequer existe essa permissão parental (para homens). Uma diretiva europeia obriga a uma permissão parental mínima de 4 meses e, desses, só se podem transferir duas semanas de um dos progenitores a outro. Nenhum dia de baixa por paternidade é autorizado na China e Índia. Muito pouco frequente, tal baixa, em África e no Médio Oriente. A permissão para ambos os progenitores partilharem a baixa remunerada, menos ainda. No mundo em desenvolvimento, o cuidado infantil continua a depender do apoio da família (pp.60-61). Existem 830 milhões de mulheres sem baixas de maternidade no mundo em desenvolvimento. A Islândia oferece 9 meses de baixa remunerada por maternidade/paternidade, obrigatoriamente gozadas da seguinte forma: três meses a para a mãe, três para o pai, três para serem partilhados por ambos.
Para além do exemplar México neste campo, existem, também, estâncias educativas de relevo na África do Sul e Índia. A perda do rendimento por filho – perda de rendimentos durante 5 a 10 anos depois de um casal ter o primeiro filho – varia entre 21 a 26% na Suécia e Dinamarca; 31 a 44% na Alemanha e Áustria e 51 a 61% no Reino Unido e EUA. Na Dinamarca, demora-se, em média, duas gerações a passar do nível de renda mais baixa à média; no Reino Unido, cinco gerações, tal como em Portugal, Suíça e EUA; no Brasil, África do Sul ou Coreia, com grandes índices de desigualdade, nove gerações.
Os primeiros meses dos bebés são cruciais para o seu desenvolvimento cerebral e emocional. Estudos demonstram que um regresso demasiado precoce ao trabalho por parte das mães redundou em pior rendimento académico dos filhos (não se sabe qual o efeito do pai, nem o efeito sobre as mães, em termos profissionais). Mas é bom para a criança o regresso da mãe ao trabalho, passado um ano. O emprego materno acrescenta rendimento/receita à família e diminui as tensões familiares. O envolvimento do homem na educação e cuidado dos filhos leva a um melhor desenvolvimento emocional e de conduta daqueles. Alguns estudos demonstram que as interacções com o pai podem ser mais estimulantes e enérgicas (do que as tidas com as mães) e favorecem a assunção de riscos e a exploração (do entorno) das crianças. O contrato social, por si só, não chega: há que mudar mentalidades dentro de casa (p.70). A Coreia do Sul tem, atualmente, a taxa de fertilidade mais baixa do mundo. As taxas de natalidade, aliás, só não caem em África. Em todo o mundo, ainda há 60 milhões de crianças sem estarem escolarizadas (p.73). De qualquer forma, os países de renda baixa têm tantos matriculados na primária como os de renda alta. Já o caso do ensino superior – universidades e ciclos superiores de formação profissional – é diferente. Há 200 milhões de pessoas nestas condições: 10-20% dos adultos, num país de renda média, como Brasil, China ou México; em países de renda elevada, como EUA, são 44%, ou 54% no Canadá; 42% no Reino Unido; 30% na Áustria. Numa amostra de 1120 anos somados de dados de 139 países, calculou-se que cada ano adicional de educação gera um retorno privado, em média, de 10%. No Reino Unido, cada libra investida no Ensino Superior gera 7 libras para o indivíduo e 25 para a comunidade (p.76). Nos países pobres, o retorno do investimento no ensino superior é, ainda, superior. Verifica-se, nos estudos efectuados, que as empresas contratam as pessoas não, propriamente, por estas possuírem um título académico, mas porque, de facto, verificou-se que esse acréscimo formativo redundou, em média, em uma maior produtividade laboral.
Atualmente, e quanto ao papel da escola e do professor, sustenta Minouche Shafiq, mais do que memorizar e repetir informação é preciso (os discentes terem acesso a) um critério de filtro, um crivo bem calibrado no tratamento de informação e conhecimento que se lhes procure transmitir; perceber como validar informações e perceber quais as suas implicações/consequências (das mesmas); a capacidade de encontrar novas soluções para velhos problemas vai ser muito recompensada. Quanto às carreiras profissionais: atualmente, já não se sobe a uma árvore em linha reta, por vezes é preciso passar pelos galhos laterais. Hoje, já há pessoas que queriam trabalhar a tempo inteiro e que só conseguem trabalho a tempo parcial. Em um futuro próximo, prováveis vidas laborais de 60 anos – uma criança nascida hoje tem mais possibilidades de viver 100 anos do que não chegar lá -, implica, fornecer, a esses cidadãos e futuros trabalhadores conhecimentos e competências e, também, a faculdade de adquirir conhecimentos e competências. Mais opções para as pessoas se reciclarem e terem segundas oportunidades. Papel do professor em esta nova época na perspectiva da diretora da London School of Economics: “o guia que nos acompanha ao nosso lado, em vez daquele que nos fala de cátedra”.
A arquitectura do cérebro forma-se antes dos 5 anos: é a fase mais importante para o desenvolvimento das capacidades cognitivas e socioculturais. É importante apostar no financiamento do ensino primário e de adultos. Várias investigações demonstram que os primeiros 1000 dias dos bebés são decisivos para o seu desenvolvimento. Na The Lancet: 200 milhões de crianças em todo o mundo não atingem o seu potencial devido ao atraso do seu crescimento físico, défice de iodo e ferro, e inadequada estimulação cognitiva. Em países como Equador, México e Nicarágua, pessoas recebem formação sobre como cantar e contar na primeira infância. Em todo o mundo, apenas metade do total de crianças entre os 3 e os 6 anos têm acesso à pré-primária. Islândia e Suécia gastam bastante na pré-escola, mas não assim EUA, Japão e Turquia (pressuposto de que cabe à família os primeiros anos do bebé). No Peru, a formação de quem lidava, até há pouco, com crianças em idade pré-escolar era tão fraca que a saúde e nutrição dos meninos era boa, mas não o desenvolvimento motor e linguístico.
A diretora da LSE, quando entrega diplomas a adultos sente orgulho, porque os vê como “a vanguarda da redefinição do nosso contrato social”. Sem embargo, os cérebros adultos aprendem com menor eficiência do que os cérebros infantis (daí as diferenças, também, entre andragogia e pedagogia). As instituições para os adultos aprenderem são mais diversificadas (do que as destinadas aos mais jovens). E que países, ou pessoas de que países aderem mais ao ensino à distância? Índia, China, Brasil. Mas as taxas de finalização do ensino à distância a grande escala não chegam aos 10%. A educação de adultos funciona: a longo prazo, beneficia a pessoa, nomeadamente a lidar com o desemprego e com as perturbações tecnológicas. Quem mais recorre à educação de adultos, porém, a nível global é quem menos necessita. O ideal seria detetar, com suficiente antecedência, os trabalhadores que podem cair no desemprego e dar-lhes competências necessárias.
Educação de adultos: beneficia o indivíduo, o empregador e o estado. O financiamento de pessoas adultas pelo estado é de 78% na Austrália e 2% no Canadá. Menos fatura tributária para as empresas que apostam na formação de adultos uma outra sugestão. EUA e Reino Unido facilitam créditos baratos para formação de pessoas inseridas nas faixas etárias não jovens. Singapura compensa atualmente as empresas com 90% do custo da “reciclagem formativa” dos seus trabalhadores de mais de 40 anos e também paga uma parte dos salários dos empregados enquanto recebem essa reciclagem. No Nepal, num curso de reciclagem para trabalhadores privados, cujo provedor era privado, a matrícula era paga, em 1/3, no momento da matrícula; 1/3 no momento em que o trabalhador conseguia trabalho; 1/3 depois dos trabalhadores estarem empregados há um ano. Singapura oferece um vale de 500 dólares anuais para o cidadão poder utilizar em formação adulta (e, se os não usar, acumula ao longo dos anos); a Estónia financia entidades que promovam formação de adultos, de acordo com um conjunto de critérios: x) taxa de abandono (dessa formação); xx) ajuste às demandas do sector (empresarial) privado; xxx) qualidade da formação. Ideia da autora: outorgar a todas as pessoas um direito à aprendizagem ao longo da vida, a partir dos 18 anos. No Reino Unido, tal equivaleria a 40 mil libras por pessoa.
Em França, uma pessoa que tivesse 20 anos, em 2018, de acordo com as contas efectuadas, teria recebido de provisão pública, da pré-primária à Universidade, 120 mil euros. Quem estudara (apenas) até aos 16 anos, recebera 65 mil/70 mil euros (p.97). Quem está em Universidades de topo, 200 a 300 mil euros (o que não é equitativo, por sua vez). Sob a forma de empréstimo ou bolsa de estudo, por exemplo, que se garanta este direito. No caso de empréstimo, a preço de custo, dado os ingressos que vai gerar em termos tributários. Num mundo laboral em rápida mutação, a adaptabilidade conta mais do que a experiência. Devia ainda proceder a: i) combinação entre provedores diferentes; ii) formação em linha com a presencial; iii) validação de nanotítulos (p.99).
Saúde, idade sénior, relações intergeracionais: o bem-estar subjectivo está no topo da descrição sobre a felicidade pessoal. A OMS aconselha os estados a gastarem um mínimo de 5% do PIB para alcançar uma cobertura sanitária universal mínima. A maior parte dos pais, no mundo, estão a gastar mais do que num passado recente com a saúde. Em países com nível de renda elevados, gasta-se, ao nível da saúde, 2937 dólares, em média, por pessoa; nos de renda baixa, 41; a OIT diz que faltam 10,3 milhões de profissionais de saúde no mundo, dos quais 7,1 milhões na Ásia e 2,8 milhões em África. O Estado financia, mas nem sempre é o provedor de Saúde, na Europa continental; na China e na Índia, está a surgir um modelo em que os pobres recebem apoio público, e os endinheirados têm seguros privados (e teme-se que o modelo não fique, ou não esteja já, pela China e pela Índia…). Média da OCDE quanto aos gastos em Saúde: 4 mil dólares por pessoa em saúde. Já os EUA, gastam, em média, 11 mil dólares por pessoa e 17% do PIB, mas obtém muito fracos resultados. Entre 2000 e 2015, o gasto de saúde nos países da OCDE cresceu 3% – e vai subir 2,7% entre 2015 e 2030 (p.107). Os maiores gastos, no sector da Saúde, devem-se à tecnologia (custo que implica criar novos medicamentos, ensaios clínicos, etc.). Muitos países ampliaram aquilo que os farmacêuticos podem fazer, bem como o pessoal de enfermagem e, com isso, diminuíram a necessidade de contratar tantos médicos, o que, já se vê, reduziu a factura da despesa/investimento públicos (p.111). Os copagamentos tendem a ter um efeito mais adverso sobre os mais pobres (p.112). Pergunta fundamental em âmbito do contrato social na área da Saúde: que tratamentos deve a comunidade suportar? Os encargos com tratamentos psicológicos não são assumidos por muitos países. Tal como as cirurgias para perda de peso (neste último caso, acredita-se que, na sociedade da imagem ou do parecer, o recurso às mesmas exorbitaria, pelo que o risco moral não compensará). Nem paga medicamentos sem receita. Um medicamento que acrescente um ano de vida com qualidade custa mais do que um adiciona somente seis meses. Há quem ache que temos direito a uma vida com boa saúde até aos 70 anos.
O SNS britânico não oferece/disponibiliza, sequer, determinados medicamentos, mesmo que o paciente os queira pagar (que o faça no privado). A medicina digital pode travar custos na área da Saúde, pelo mundo inteiro. Em países em desenvolvimento, tal pode ter um grande potencial, podendo evitar que as pessoas sempre tenham que marcar presença física em consultas. E de quem são os dados do paciente e quem os controla? Por um lado, há que proteger a privacidade dos dados, mas, no outro lado da balança, compreender que estes podem proporcionar importante contributo ao benefício coletivo (pelo que importa assegurar, sem contradição e com inteligência, ambas as dimensões). Hoje, existem já à disposição das pessoas, e tal tende a crescer, aplicações para, quando é caso disso, tomarem medicamentos, fazerem exercício ou irem ao fisioterapeuta (p.119). O retorno da investigação, em intervenções sanitárias preventivas, é de 14,3%. Um estudo nos EUA: imposto de 1% sobre bebidas açucaradas poderia fazer aforrar 23 mil milhões de dólares (em saúde). Daí a proposta de aumento do preço destas ou do tabaco (se afigurar como restrição razoável a mais alargados âmbitos de liberdade individual que um preço mais reduzido poderia aduzir). Mas, como alguns pretendem, faria sentido um adicional passo moralizante e penalizar comportamentos (individuais) de risco (para a Saúde), deixando a pessoa menos acompanhada coletivamente nas consequências/custos de tratamentos deles advenientes? Ora, tal implica, desde logo, saber que comportamentos são de risco, o que nem sempre é absolutamente claro: bronzear-se? Viajar de moto? (p.123). Minouche Shafiq considera esse caminho desadequado.
Em 1889, primeiro sistema de pensões por seguro social com Bismarck, mas a jubilação (reforma), como conceito, é um fenómeno do século XX. Em 2060, todos os países do G20 vão experimentar uma descida da população (p.161). Mesmo Japão e Coreia têm cada vez mais idosos a viverem sozinhos, apesar de um maior respeito pela idade sénior a Oriente. Face a esta realidade, de uma clara diminuição de pessoas activas no mercado de trabalho para poderem sustentar um conjunto amplo de população reformada, as pessoas terão de poupar o suficiente para esse período das suas vidas (segundo inquérito realizado em 140 países, metade dos adultos nas economias avançadas e 84% nos países em desenvolvimento não haviam poupado para a velhice; no Chile, Coreia e México a maior fonte de rendimento das pessoas com mais de 65 anos continua a ser o trabalho). Se, individualmente, assim será, 3 soluções têm sido tentadas ou colocadas em prática por diversos países em virtude no novo contexto: y) atrasar a idade da reforma; yy) aumentar as quotizações; yyy) reduzir as pensões prometidas. À medida que a idade média dos votantes aumentou, o gasto público com pensões aumentou. As pessoas tendem a reagir, compreensivelmente, a um “direito adquirido” – ao mesmo tempo que a demografia mudou profundamente e alcançar o que se obtinha com outra distribuição etária das populações torna-se uma missão impossível. As pessoas idosas votam mais do que os jovens (adultos) e isso não deixa de ter reflexos nos contratos sociais (Shafiq distingue entre o que no foro familiar é a tendência universal de pretender o melhor para a descendência, de atitudes políticas, ou consequências de demandas diferentes, dos mesmos cidadãos sentados à mesa – exortando os jovens a abeirarem-se das urnas de votos na procura da salvaguarda e disputa dos naturais interesses divergentes que se podem colocar). Nunca se deve perder de vista, em todo o caso, e em todos os países, a existência/criação de uma pensão mínima para todas as pessoas, refere a cientista política.
Uma medida (possível) de incremento das aportações à Segurança Social passa por incrementar as imigrações (ainda que, estas, também demandem e exijam outras políticas sociais para as acomodar; o Fundo para os efeitos das Migrações, no Reino Unido está sem dinheiro suficiente face às suas atribuições; nos EUA, o mesmo se diga do “Programa de Adaptação ao Comércio”). Os trabalhadores imigrados representam 65% da nova população trabalhadora nos EUA e 92% no caso da UE. Muitos países estão a facilitar a imigração de pessoas para prestar cuidados (de saúde e de qualidade de vida) aos seus cidadãos (e o Japão está a experimentar robots para auxílio dos idosos). Conseguir que mais pessoas trabalhem é outra forma de alargar as quotizações.
As pessoas entre 55 e 64 anos a trabalhar passaram de uns 47,7%, em 2000, para 61,4% em 2018. A duração das vidas laborais ampliou-se em vários países como Alemanha, França, Austrália. A idade da reforma está a aumentar em todo o mundo. Em países de renda média, com menor esperança média de vida, as jubilações ocorrem, naturalmente, mais cedo. Ao contrário do sucedido em Portugal, em vários países houve marcha-atrás na vinculação da idade da reforma à esperança média de vida.
Em muitos países, as mulheres têm idades de reforma mais precoces do que os homens e as suas pensões são mais baixas. Na Europa, as pensões das mulheres são 25% mais baixas do que as dos homens (não integraram tanto, nem com a mesma intensidade, mesmo que o pudessem ter desejado, os mercados de trabalho).
Algum tipo de incentivo fiscal para a poupança está a ser experimentado/levado a cabo em diversos países. Na Nova Zelândia, deu-se uma dessas experiências, em que ocorriam aportações públicas adicionais no mesmo montante para quem subscrevesse planos de pensões; no Quénia, com vista à poupança, procedeu-se a z) envio de sms a recordar essa necessidade, redigido como se tivesse sido escrita por um filho; zz) introdução de uma moeda de cor dourada que permitia aos participantes levar a conta dos seus aforros semanais; zzz) um programa complementar que acrescentava 10 a 20% a qualquer quantidade de dinheiro que o participante tivesse reservado – sendo que a introdução de uma moeda de cor dourada revelou-se a opção mais eficiente. Outra experiência, nas Filipinas, com um tipo de pressuposto do funcionamento do mecanismo psicológico humano diferenciado face às anteriores reportadas situações: os participantes comprometiam-se a poupar uma dada quantia e enfrentavam uma penalização se a não cumprissem; com isso, conseguiu-se aumentar em 81% a quantidade total poupada.
Em 2011, 48% das pessoas dos 18 aos 34 anos na UE vivia com os pais (os dados mais recentes do Eurostat dizem-nos que, em média, os portugueses estão a sair de casa dos pais aos 34 anos); tal deve-se ao trabalho precário e ao aumento dos preços da habitação, assume Minouche Shafiq. Nos EUA, eram 36%, um máximo histórico. “Cada vez custa aos jovens empreender a sua própria vida independente sem ajuda dos pais e [cada vez mais há] pais que se vêem forçados a viver em casa dos filhos”. (p.128)
Nos EUA, França, Japão, Itália ou Reino Unido quem nasceu depois do ano 2000 tem 50% de hipóteses de chegar aos 100 anos. Sendo, agora, a solidão um enorme desafio/problema em múltiplas sociedades, o Japão, visando a este responder, organiza “salões” que dão às pessoas (de idade sénior) a oportunidade de reunir-se para celebrar actos sociais, beneficiar de ofertas culturais e educativas, ou simplesmente fazer exercício físico. Alguns estudos evidenciaram que tal participação reduziu a metade a necessidade de assistência a longo prazo e que a demência tenha diminuído em um terço (p.181). Morrer em casa, surpreendentemente em época de mortes tristemente solitárias em hospitais, aumentou, muito substancialmente, de 2000 a 2015, nos EUA.
Em 2100, os gastos em Saúde e pensões consumirão 25% do PIB nas economias avançadas e 16% nos países em desenvolvimento.
Nos países emergentes, ao contrário do que sucede em muitas economias avançadas, acredita-se que as gerações futuras viverão melhor do que as atuais. O País de Gales foi o primeiro no mundo a ter uma ministra das gerações futuras: a sua missão consiste em supervisionar as políticas governamentais em áreas como o transporte, a energia e a educação para assegurar que, nestas, se tomam em consideração os interesses dos não nascidos. Por exemplo, esse ministério impugnou uma proposta de estrada de circunvalação por Newport pelo seu impacto potencial na biodiversidade e pelas suas consequências na dívida pública. De modo a atender essas gerações vindouras, David Runciman, de Cambridge, de modo corrosivo, propôs uma nova idade mínima para se poder votar (e fazer valer os seus interesses): 6 anos.
Os filósofos morais tendem a defender a necessidade de dar ao bem-estar das gerações do futuro o mesmo peso que damos aquelas que estão vivas hoje, pois, se não, estaremos a praticar uma discriminação por razões de data de nascimento. Os economistas, em termos globais, adoptam uma perspectiva diversa: quando ponderam os custos e benefícios de um curso de acção dado, tendem a dar um menor peso às gerações futuras do que às presentes. Eles «descontam» (reduzem o valor) da renda das gerações futuras em relação à renda das que estão atualmente vivas, de tal modo que um determinado benefício conta menos se o situarmos no futuro, do que se o situarmos no momento presente. Hoje, há muitas pessoas pobres às quais não se podem pedir sacrifícios pelo hipotético bem-estar de quem nem sequer existe, reclamam os que assim pensam. As gerações futuras serão mais ricas do que as actuais e terão novas tecnologias que nós nem imaginamos. Keynes escreveu a propósito de “A Branca de Neve”: “o homem ‘com pretensões’ está sempre à procura de alcançar uma imortalidade ilegítima e enganosa para os seus actos, empurrando o seu interesse por elas para o futuro. Não ama o seu gato, mas as crias da sua gata; nem, verdadeiramente, as crias, mas os gatinhos dos gatinhos e assim sucessivamente até ao fim no reino dos gatos”. Sacrificar-se hoje pelo amanhã poderá ser contrário à finalidade da nossa economia que é garantir que todos tenhamos o suficiente para viver com dignidade. O excesso de poupança pode gerar estagnação e, às vezes, consumir mais agora é a melhor maneira de conjurar uma catástrofe económica. Na ponderação das diferentes razões invocadas neste domínio, a autora considera que é legítimo pensar que as gerações futuras serão mais ricas, em virtude do que história mostra (a experiência pretérita assim o evidenciou); mas não que os interesses das gerações futuras e seu bem-estar valham menos. Escolher opções que deixem outras em aberto torna-se decisivo. Hoje o contribuinte paga a quem dizima o planeta (esses incentivos fiscais são nefastos e imorais). Devemos investir mais na conservação e restabelecimento da biosfera, por exemplo, plantando árvores. Um duplo legado da degradação ambiental (nos últimos 40 anos, perdeu-se metade da flora e da fauna selvagem do planeta, por exemplo) e de dívida pesa sobre os vindouros.
Atualmente, cada vez mais riscos são suportados pelos indivíduos, com fortes consequências na saúde física e mental destes. O contrato social é em torno do “nós” e não de “mim”: devemos mais uns aos outros. Desde 2008, a recuperação assentou em mais população ocupada, mas em postos de trabalho de baixa produtividade. Por exemplo, regresso a lavagem manual de automóveis, o que emprega muita mão de obra. Desde 2008, o ritmo de crescimento do ratio de capital por trabalhador foi o mais lento de toda a história do pós-guerra. No seu conjunto, de acordo com um estudo, a Europa só funciona a 12% do seu potencial digital; nos EUA, 18% (p.217). Em muitos países, cada vez há mais provas de concertação de preços e do poder dos monopólios em diferentes sectores de atividade (p.218). Dados recentes dos EUA mostram concentração na banca, aviação, farmacêuticas, seguros médicos, plataformas tecnológicas.
Na China, as famílias poupam mais de 30% da sua renda, porque até há muito pouco os seus membros apenas contavam com seguro médico, por desemprego ou jubilação. Com introdução desses seguros sociais, haverá possibilidade de maior consumo e aquecimento da economia. Na maioria dos sistemas há uma tendência surpreendente desde os anos 80 que é a menor cobrança de impostos aos ricos.
Os tipos marginais máximos do imposto sobre a renda caíram claramente em todo o tipo de países. O mesmo relativamente ao imposto sobre as empresas. Já os impostos e quotizações sobre o trabalho (salário) tenderam a crescer para compensar o aumento dos custos das pensões, saúde e seguro de desemprego (p.222). Aumentar a progressividade fiscal não resolveria os custos do contrato social, mas ajudaria. Mobilidade do capital para zonas onde pagam menos impostos tem sido uma constante, sobre a qual, em certa medida pelo menos, é possível actuar ao contrário do que pretendem convencer-nos. Estados cobrarem pelo local de venda, independentemente do domicílio da empresa devia ser medida a implementar – aponta a OCDE. Em segundo lugar, nível tributário mínimo, o que faria com que houvesse menos fuga para outros países (e chegou-se a um acordo, a esse respeito, cujos detalhes e principais beneficiários tem sido matéria que não tem gerado consenso); na Europa taxar em maior percentagem os lucros dos gigantes tecnológicos norte-americanos uma terceira medida a concretizar. Com essas medidas, OCDE estima aumento em 4% das receitas conseguidas, o que representaria 100 mil-240 mil milhões de dólares anuais (p.233).
Poucos países taxam o património (na actualidade, Colômbia, Espanha, Noruega e Suíça). Muitos defendem imposto sucessório, porque os indivíduos não fizeram nada para deter “aquele” património e tal pode, ao mesmo tempo, ajudar a aumentar a igualdade de oportunidades. Imposto de sucessões progressivo foi sugerido para dotar um capital inicial para todos (Picketty). Um imposto sobre o carbono é, realmente, importante. Mudaria o preço de todos os factores da economia e incidiria no que consumimos e em como nos comportamos. Para os indivíduos, andar de transporte público seria muito mais barato do que andar com veículo próprio. Alimentos produzidos localmente muito mais barato do que os transportados da outra parte do mundo. Empresas passam a ter incentivo para uma economia verde. É possível desenhar um imposto sobre o carbono que nem aumente a carga fiscal total, nem prejudique os pobres (p.226). Se fosse devolvido a 100%, teria um efeito de aporte fiscal neutro. 49 dólares por tonelada de emissões de carbono, nos EUA, melhoraria a situação dos 10% mais pobres da população.
Os contratos sociais vigentes têm produzido demasiados perdedores: “desde os anos oitenta, boa parte da política e dos governos centrou-se na maximização da eficiência e através da liberalização comercial, das privatizações e da desregulação do mercado laboral. As empresas puderam assim cortar custos, reduzir prestações extra-salariais e externalizar as suas cadeias de distribuição. Em geral, isto beneficiou os consumidores, mas alguns trabalhadores sofreram uma estagnação dos seus rendimentos e enfrentam atualmente uma maior insegurança nas suas vidas. Em teoria, quem saiu a perder com estas reformas – sejam indivíduos, sejam comunidades – deveriam ter-se visto compensados pelo crescimento rápido resultante e, inclusivamente, com o tempo, saído beneficiados. Na prática, sem embargo, isso quase nunca ocorreu e, desde logo, não na medida necessária” (p.228). O novo contrato social deve gerar mais vencedores. É preciso intervir na evasão fiscal. Todos os anos, 40% dos lucros das multinacionais vão para paraísos fiscais (p.232). No Reino Unido, mais de 50% das filiais de companhias multinacionais estrangeiras declaram não ter lucros tributáveis para o exercício em curso. Isto é injusto para empresas nacionais e para os cidadãos. Segundo o FMI, anualmente perdem-se 500 mil a 600 mil milhões de dólares em receita de impostos sobre as sociedades em todo o mundo (pp.232-233). As estimativas apontam para que os particulares possuam em off shores entre 8,7 e os 36 biliões de dólares, o que se traduz, em cada ano, em 200 mil milhões de dólares de ingressos fiscais perdidos pelos Estados.
Nunca houve fome em democracia, porque os governos precisam de prestar contas aos eleitores, diz Amartya Sen (p.235). Segundo uma investigação realizada a partir de 153 eleições parlamentares em diversos países europeus desde a década de 1970, a satisfação subjectiva dos cidadãos com a vida é um preditor muito melhor do sentido de voto destes do que indicadores económicos convencionais, como o crescimento do PIB, o índice de desemprego ou a taxa de inflação (p.235-236). E os elementos-chave do contrato social – uma boa saúde e um emprego satisfatório para o trabalhador – são factores determinantes (que concorrem para tal satisfação subjectiva). Em regimes políticos (mais) presidencialistas e menos baseados na representação proporcional, o Estado tende a ter um peso menor e os contratos sociais costumam ser menos generosos; os sistemas políticos maioritários, como o dos EUA e o Reino Unido, geram menores incentivos para atender às demandas das minorias (p.236); neles, os políticos têm uma maior motivação para concentrar vantagens e benefícios no grosso da classe média. Nos países regidos por sistemas de representação proporcional, os governos tendem a dar mais ajudas aos seus cidadãos, provavelmente porque necessitam de amplas coligações para governar com suficiente consenso político (mas atente-se que só 1/3 dos pobres a nível mundial beneficiam de apoio coletivo e que, ao contrário do que muitos julgam, o Estado de Bem-Estar, quando e onde o contrato social escolhe esta forma de provisão colectiva, é ¾ mutualidade social que assegura as pessoas durante todo o seu ciclo vital e apenas ¼ Robin Hood (transferências de recursos dos ricos para os pobres”, p.31).
Em regimes autoritários, não há incentivos para prestar contas. A Estónia utiliza o voto pela internet desde 2005 e experimentou um crescimento sustentado da participação eleitoral e da proporção do eleitorado que opta por votar online. Houve ali também, claro, muito debate a propósito dos riscos de fraude e manipulação, mas o sistema foi melhorando com o tempo.
Para que um (qualquer) novo contrato social possa ser prosseguido – desejavelmente, para a autora, de acordo com os princípios e algumas medidas e programas concretos, tal como por si propostos, como é evidente – será sempre necessária: a) participação eleitoral (dos cidadãos que nele se revejam e o pretendam ver implementado); ii) cobertura mediática destes temas; iii) fomento do discurso público e das pressões legislativas e judiciais sobre os decisores no poder. Citando Lincoln, “a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo” (p.240).