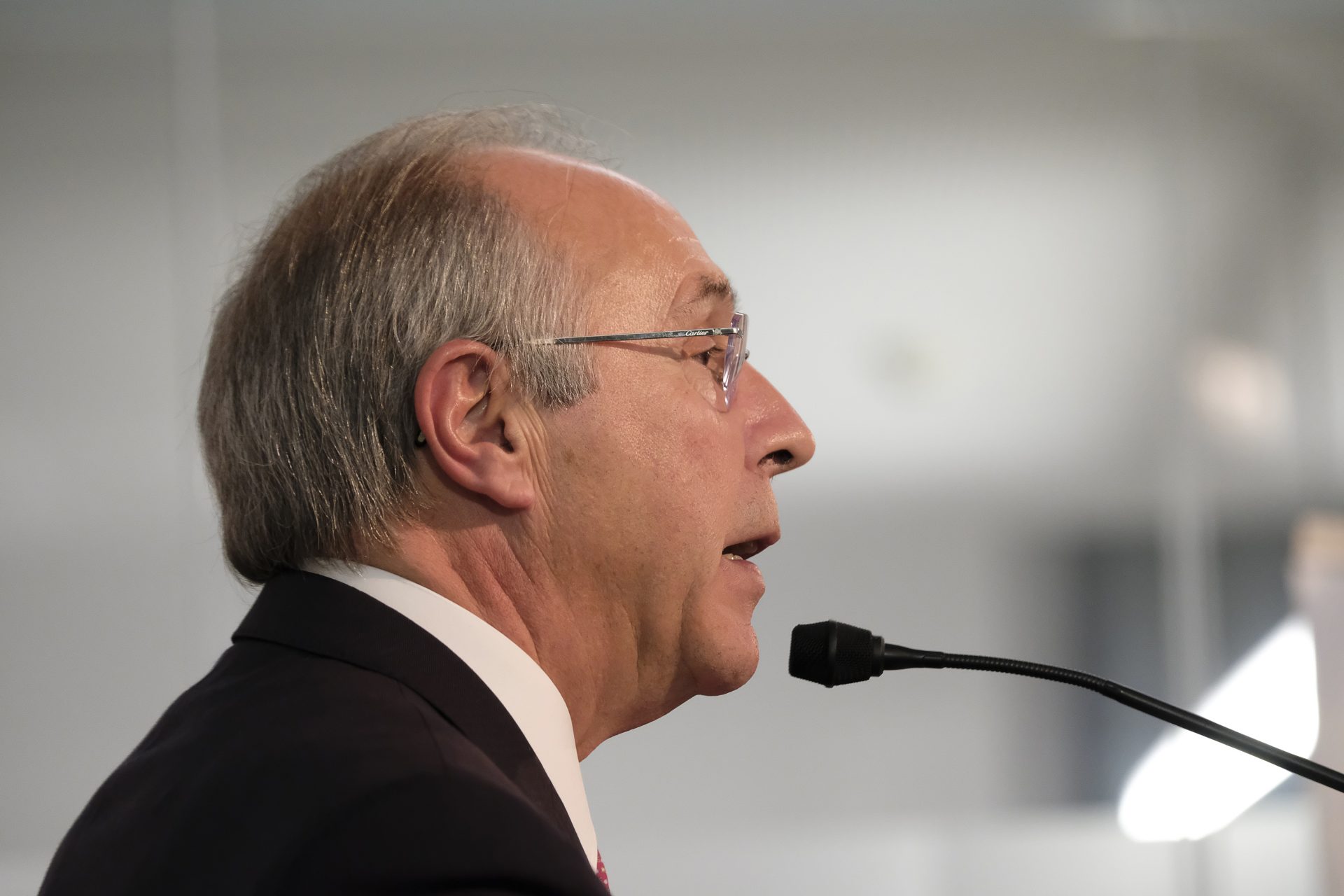Trata-se do único romance de Elias Canetti, Prémio Nobel da Literatura em 1981. Um só romance, mas que romance! É difícil contar a história (mas não será a importância da história secundária? Não se caracteriza um mau livro por reduzir-se apenas à sua intriga?), pois na verdade carece de unidade. Auto de Fé é um livro notável. O sinólogo Peter Kien é o personagem central, mas há muitos capítulos exclusivamente dedicados aos outros protagonistas do livro, sem que isso seja essencial ao desenrolar das desventuras de Kien. Para aqueles que não conhecem a obra e gostariam de saber de que se trata, digamos que Auto de Fé conta principalmente os dissabores de um erudito cuja vida é consagrada ao estudo e não tem senão uma paixão, a paixão pelos livros. O seu apartamento é uma imensa biblioteca constituída por 25 000 volumes, e Kien não consegue sair de casa – fá-lo apenas uma hora por dia, de manhã – sem trazer consigo mais uns quantos livros. É considerado uma sumidade mundial, apesar de se recusar a participar em todo e qualquer colóquio. Vive satisfeito até se consorciar (será assim com todos os homens?) com a governanta, que se revela uma pessoa abjecta, disposta a tudo pelo dinheiro, inclusive a vender os livros do marido, a ponto de o expulsar de casa. Thérèse, a governanta que se torna na senhora Kien, é uma das poucas personagens que vão entrar na vida de Kien para lhe dar cabo dela. Há ainda Fischerle, um escroque anão amante de xadrez que vai tomar Kien sob a sua voraz protecção para melhor o roubar, e Benedikt Pfaff, o seu porteiro, em casa de quem se refugiará, um velho polícia que só sabe expressar-se através da violência: é a sua maneira de amar ou de odiar, como o descobriram a sua esposa e a sua filha, mortas, de resto, com os seus golpes. No estudo que consagra a este livro em Vérité et mensonge, Vargas Llosa afirma que a imensa cultura de Kien «ergue uma muralha de incomunicabilidade entre si e o mundo». Vargas Llosa, um bom humanista, lamenta-o. Não é a cultura aquilo que une os homens, aquilo que permite que se aproximem? Talvez… A mim parece-me mais que a cultura isola profundamente, pois a maior parte dos homens são estúpidos, ignaros e mesquinhos. Aquele que pensa está necessariamente só, mesmo que rodeado de pessoas. O outro é-lhe absolutamente estranho. Kien está só no meio dos homens porque rodeado daquilo que transcende a secularidade:
«Enquanto tinha a cabeça ocupada a sopesar, classificar, coordenar factos escolhidos, informações e concepções, a utilidade da sua solidão parecia-lhe certa. Verdadeiramente solitário, só consigo próprio, nunca o estava. É precisamente o que faz o sábio: está só para estar com o maior número possível de coisas ao mesmo tempo.»
O homem cultivado é Atopon. Este termo encontra-se em diferentes diálogos de Platão para caracterizar Sócrates, que o aceita naturalmente quando, habitualmente, tende a recusar qualquer qualificativo. Atopon é geralmente traduzido por “atípico”, “original”, que é, efectivamente, o seu sentido. Infelizmente, a originalidade está hoje em dia tão edulcorada – não é toda a gente tão original que a verdadeira originalidade estaria em não o ser? – que uma tal tradução se revela insuficiente. Atopon significa literalmente “sem lugar”: Atopon é aquele que é tão singular que não está “dentro”, não está no lugar, na acção, no fluxo da vida quotidiana. As preocupações do atopon não são as de qualquer um, as preocupações de Kien não são as de Thérèse. Esta vive na obsessão do ter: dinheiro, móveis, a propriedade, posição social (uma vez casada, despreza os criados), enquanto Kien vive na obsessão do ser, os seus livros são o seu único universo («o seu mundo era a sua biblioteca.») e não tem, como mobiliário, senão uma cadeira, uma escrivaninha e um divã, i.e., o estritamente necessário para trabalhar e descansar (mas descansar unicamente com o fim de trabalhar melhor!). Não é por isso de espantar que se deixe tão negligentemente espoliar por todos aqueles com quem se cruza! Tal é, aliás, o que lhe censurará o seu irmão Georges, um ginecologista que se torna psiquiatra (um autêntico analista! por alguma razão ele não quer sobretudo tratar os seus pacientes!), o seu salvador e carrasco involuntário:
«Não vês o que se passa à tua volta. Não tens memória das tuas próprias experiências.»
O grande talento de contista de Canetti está em nos fazer sofrer com Kien, bem mais que consigo próprio, uma vez que nunca se apercebe realmente daquilo que lhe acontece, enquanto nós o vemos, impotentes, fazer-se humilhar. Kien tem com o mundo uma relação de alergia. A atopia é uma característica daquilo a que chamo “síndroma Bartleby”. Vila-Matas serve-se desta expressão para designar aqueles que se encontram na impossibilidade total ou parcial de escrever, mas parece-me mais apropriado designá-los como os que se encontram na impossibilidade de inscrever-se no mundo, não passando a impossibilidade de escrever de uma consequência. Os que sofrem desta síndrome são simplesmente incapazes de viver o quotidiano. As páginas iniciais do romance são disso típicas: Kien é insultado por um transeunte que lhe pede uma informação, pedido que ele ouve, mas ao qual não responde porque o julga dirigido a outro. Kien faz parte dessa categoria de personagens que, a exemplo de Bartleby ou de Bernardo Soares, vivem num mundo no qual estão fisicamente presentes sem nele se conseguirem integrar, o que deve entender-se menos como uma incapacidade propriamente dita do que como um natural desinteresse, desinteresse que será o motivo de O Homem que Dorme de Pérec e que Canetti descreve deste modo:
«Como ele [Kien] não sentia o mais pequeno desejo de prestar atenção às pessoas, mantinha os olhos baixos ou, ao invés, olhava-as por cima.»
Aliás, quando Kien é levado a fazer o mesmo que outro (um “topon“, poderíamos dizê-lo!), só o faz de maneira aparente. É assim que quando toma o lugar de Benedikt Pfaff por trás da fresta da porta da casa, fresta que permitia ao porteiro descobrir os mendigos pelas calças para lhes bater, Kien acha a ideia de escrever uma «caracteriologia das calças» seguida de um «apêndice dos sapatos». O que faz a desventura de Kien, como a de qualquer atopon, é que, ainda que veja a mesma coisa que todos os outros, ele não a encara da mesma forma. Kien é um inadaptado social, e é-o porque é um ser cultivado. A cultura separa dos outros porque muda a nossa maneira de ver o mundo. Há que escolher: ou vivemos (trabalhamos, criamos uma família, compramos um sofá em couro, um cão, etc.), ou pensamos. Compreender o mundo é afastarmo-nos dele. A melhor definição de atopia é, sem dúvida, a da fórmula de Pessoa parodiando Descartes no Livro do desassossego:
«Não penso, portanto não existo».
A tragédia de Kien é a de ser levado a frequentar o mundo exterior à sua biblioteca, esse mundo i-mundo, caótico, que vai destruí-lo. Fundamentalmente, com que é confrontado Kien? Com a estupidez e a mesquinhez das sociedades ocidentais modernas, estupidez e mesquinhez proteiformes que tomam a forma da cupidez (Thérèse), da violência (Benedikt Pfaff), da desonestidade (Fischerle) ou ainda do comércio (Rude, o comerciante de móveis que, por intermédio de Thérèse e sem conhecer Kien, irá estar na origem das suas desventuras)… O homem pensador está condenado a passar ao lado da vida. Mas não é o triunfar na vida apanágio dos imbecis? Não é a derrota final de Kien uma vitória sobre o absurdo do mundo? Isso explicaria o feliz acaso (?) de “Kien” ser o anagrama do grego nikè, a “vitória”.