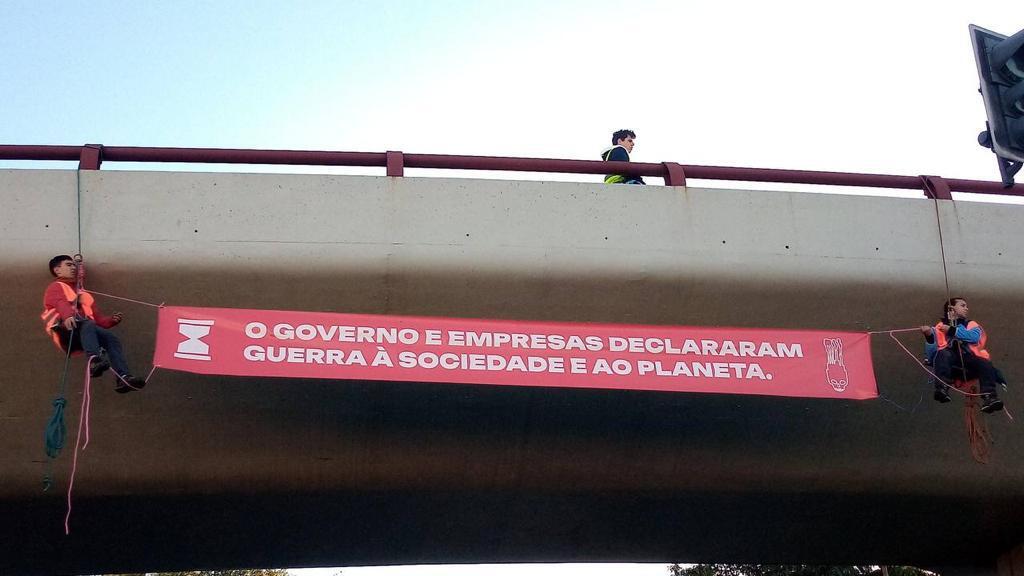Desta vez, não percamos tempo com preâmbulos nem grandes apresentações. Iríamos roubar espaço a Vasco Santos, editor da Fenda que depois de ter estourado uma fortuna para pôr de pé uma verdadeira quinta-coluna, com um catálogo de exigência fenomenal, teve de pôr fim à actividade pouco antes de esta fazer 40 anos. Regressa agora com a VS o também psicanalista que nos recebeu no consultório, convidando-nos a escolher entre o outro cadeirão ou o divã, enquanto preparava chá, que aceitámos.
Sim, pode ser…
Tenho bebido este chá de rooibos que ajuda a desintoxicar. Ando a tentar não beber para emagrecer. Mas é uma porra não beber… não fumar. Como dizia o Oscar Wilde, “envelhecer é um naufrágio”. Hoje só os ricos é que podem ser gordos. Um gajo pobre não tem para as contas com a saúde.
Em relação aqui à entrevista…
Vamos falar de uma forma jazzística, e depois compõe isso. Também ainda não sei o que é que me quer perguntar.
O que pensa que levou a que, hoje, e ao contrário do que acontecia há umas décadas, a massa crítica que se havia formado tenha deixado a cultura tornar-se outra das modalidade do consumo?
Há múltiplos factores. Primeiro, há uma decadência da influência dos intelectuais na Europa. É fácil perceber que, hoje, um cozinheiro é mais importante do que um poeta ou um filósofo. Só isso já é absolutamente incrível. Lembro-me do Sartre ter visitado Coimbra, no pós-25 de Abril, e de como aquilo foi um acontecimento que nos deixou electrizados. Hoje, se o Sartre viesse cá (alguém dessa craveira), não tinha qualquer impacto. E é por aí que se explica a crise da intelectualidade.
E quanto à actual ideologia?
Há aquele grupo de economistas de Chicago, que simplificaram estas coisas e introduziram uma dimensão a que podíamos chamar de biopolítica… Deixámos de ser um sujeito histórico, um sujeito trágico, para passarmos a ser indivíduos. Há um efeito de naturalização da vida. Se um indivíduo é mais forte, mais rápido, safa-se; se é mais fraco, e não consegue criar o seu próprio meio de sustento – se não é adepto do tal empreendedorismo -, está feito.
Quando se deu conta desta mudança?
É curioso reler “O Prazer do Texto”, do Roland Barthes, hoje. Saiu cá em Maio de 1974. Um mês depois da revolução. Com um prefácio bestial do Eduardo Prado Coelho. E se o formos ler agora, damo-nos conta de que tudo isto que está acontecer estava já ali descrito. A tagarelice, a naturalização do discurso e a naturalização da vida. No fundo, estão a dizer-nos qualquer coisa como: somos natureza, não somos cultura. Portanto, nós dois somos dois indivíduos numa selva e temos de nos safar.
Note-se que uma das primeiras coisas que as políticas neo-liberais fizeram foi destruir a contratação colectiva. Porque isso tem também um valor simbólico. Deixa de haver contratos colectivos, só há contratos individuais: é cada um por si. Isto leva a uma sociedade que antecede o holocausto. O holocausto o que trouxe foi o inominável. É como se nos devolvesse à infância. O que é que acontece com as crianças? São muito narcísicas até aos seis, sete anos. Depois entram numa coisa que se chama período de latência, em que o narcisismo fica adormecido para que a criança possa aprender com os professores, com os colegas, ter uma vida autónoma da dos pais. Depois de um período de latência dos conflitos, na Europa, após o Holocausto, este começou a ser esquecido… Basta ver as eleições na Alemanha, em que o sucessor do partido Nazi obteve uma percentagem alarmante… E isto porquê? Porque já não há memória do Holocausto. E, mais do que isso, eles reivindicam o orgulho das suas façanhas militares. Assim, passamos deste período de latência de novo para um período de grande narcisismo dos países. Tal como a criança que vai reeditar na adolescência a conflitualidade da primeira infância. Este narcisismo, com as divisões entre os países do Sul, os do Norte, a contra-reforma versus catolicismo, e isto reflecte-se depois na nossa vida quotidiana.
O que é que nos escapou?
Todos os dias passo pelas bancas dos jornais e é impressionante ver o que tomou conta das capas das revistas. Quando foi o dia das eleições na Catalunha, a revista “Sábado” tinha na capa: “O que pensam e sentem os animais?” Veja como isto se encadeia: Esta biopolítica leva a uma naturalização seja do discurso, seja da vida em geral, e leva a uma animalização do humano e a uma humanização do animal. Passa a ter direitos e não sei quê. Portanto, se o cão é molestado há uma petição…
Revê-se nas críticas de alguns Professores de Direito que encaram esta equiparação entre animais e pessoas como um alarmante “retrocesso civilizacional”? As pessoas querem ver reconhecida a dignidade dos animais, mas esquecem o outro lado, que é as pessoas serem postas ao mesmo nível…
Pois, mas a questão é mesmo essa. É que uma coisa é ética animal, que não é uma matéria recente… Vem do século XVII e XVIII. Mas hoje, já não é tanto a questão da razão, nem da linguagem, ou daquilo que nos diferencia, e passa a ser aquilo que nos une. E isso o que é? O sofrimento. Quer dizer: os animais também sofrem. Muitas vezes até sofrem mais do que nós. E pegam nisto, em que têm até um certo fundamento histórico-filosófico, e acabam por rebaixar o humano, e naturalizá-lo.
Há exemplos mais preocupantes do que as limitações em relação à entrada de animais em restaurantes, etc?
Se passar na Rua Garrett e perguntar aos rapazes que estão ali a pedir moedas… Já o fiz. Uma vez a um que estava perto da Bertrand: “Epá, diga-me lá: porque é que tem aqui três cães?” E ele – que era húngaro – disse-me: “Se não tiver cães não me dão esmola.” É interessante, não é? Portanto, a quem damos a moeda é ao cão. Não damos a moeda ao sem-abrigo, ao mendigo, etc.
Parece-lhe que o que o neo-liberalismo conseguiu criar foi um racismo contra os desfavorecidos? Contra o pobre? Se os Nazis conseguiram fazer a excepção do judeu, que não era bem humano, mas sub-humano, hoje essa mesma condição parece estar a abrir-se para o pobre. Fala-se cada vez menos dessa condição que afecta cada vez mais pessoas. E o pobre, que já vive no gueto, surge tantas vezes como um falhado, alguém que não conseguiu provar o seu valor social. Ou porque é preguiçoso, ou porque não tem ambição… Está cheio de uma série de vícios, de culpa, e isto quando tudo nos mostra que ser pobre é muito mais difícil, obriga uma pessoa a ser muito mais engenhosa do que quem acede, de nascença, ao privilégio. Todos os estudos nos mostram que a mobilidade social é cada vez mais um mito das sociedades ocidentais, e que hoje é dificílimo superar uma situação de pobreza extrema.
Essa é a grande vitória deste (não sei se lhe pode chamar neoliberalismo… mas) capitalismo feroz. Esse racismo dos pobres é um dos grandes trunfos destas políticas. E o criarem a aceitação quase pacífica de que a desigualdade e a pobreza são naturais. Voltamos à Natureza. “Tu és pobre, mas isso não resulta de haver uma acumulação estratosférica de riqueza em meia dúzia de gajos. Não. Tu és pobre porque não és capaz, porque não és competente, porque não és rápido, porque és preguiçoso…” Esta naturalização parece-me um condicionamento mental extraordinário e muito bem urdido.
Onde é que isso se torna mais aviltante?
Hoje, encontro pessoas que me dizem que ganham 800 euros e ainda acrescentam: “Nem ganho mal.” Quer dizer: “Tenho trabalho; ao menos trabalho.” E, portanto, esta aceitação e naturalização da desigualdade faz parte de um modelo mental de que o Barthes fala em “O Prazer do Texto”… E um dos seus sintomas é a tal tagarelice. Hoje, quando ligamos a televisão (e eu já não consigo ligar…), aparecem aqueles tudólogos. Tipos que tanto falam de Psicanálise, como de Arte, como do Médio Oriente, como da crise na Síria, como do PSD, como dos incêndios em Pedrógão… Sabem tudo. E tudo aquilo nem é a espuma dos dias, é essa tagarelice que simplifica tudo, como se tudo ficasse na mesma dimensão. De resto, é o que a televisão faz. Vemos um bombardeamento na Síria, os destroços, as mães em lágrimas, depois vemos o golo do pontapé de bicicleta do Ronaldo, a seguir já vem não sei o quê… O cãozinho alvejado em Castelo Branco. E tudo isto passa na mesma unidimensionalidade.
Em tudo o que vinha já sendo apercebido, o que é que lhe parece que escapou à previsão crítica deste modelo capitalista?
O telemóvel. Havia a noção de que a tecnologia não seria apenas uma ferramenta. Se assim fosse, era porreiro. O problema é que esta tecnologia criou uma nova forma de socialização, de relações sociais. Esta tecno-sociabilidade está, muito rapidamente (em cerca de 20 anos), a produzir alterações drásticas. Seja a nível da sexualidade, seja da própria identidade, e ao nível do fetichismo visual, também daquilo que o Mario Perniola, recentemente falecido, chamava o sex appeal do inorgânico… É como se passássemos desse conceito tão importante que é a intimidade para um novo conceito que é o da extimidade.
A nossa vida secreta está ameaçada?
Não é que não haja segredos, acho que as pessoas ainda os têm, há até mais segredos, mas não os contamos é aos nossos amigos. E voltando à pergunta inicial, parece-me que esta destruição dos laços sociais levou a um empobrecimento do pensamento, do pensamento complexo, daquele que não fica pela superfície dos fenómenos. Há dias ofereci o livro do Kraus [“Aforismos”] a uma pessoa que me disse: “Isto é difícil. Temos de voltar atrás, voltar a ler…” E isto acontece porque a malta está já adaptada à imediatez da frase límpida que funciona no Twitter, às notícias ao minuto…
A nível dos impulsos há uma articulação que parece estar a sofrer de uma anquilose. Já se rejeitam muito rapidamente noções de um segundo nível de complexidade.
Exactamente. As pessoas rejeitam um filme dizendo que é muito longo. Duas horas já é muito para se estar concentrado numa coisa só. Hoje o “Andrey Rubliov” do Tarkovski seria insuportável para a larga maioria deste público que se está a criar. A malta não aguenta porque já está habituada às séries. Não quero com isto ter um discurso profundamente conservador, do estilo: “No tempo da grande arte…”. Porque há coisas fascinantes que se estão a fazer hoje. Aquilo de que estou a falar é de um processo sistemático de alienação que está em curso. Alienação tanto no sentido psicológico, psiquiátrico, como no sentido marxista.
Hoje, entramos num café em São Pedro do Sul, ou em qualquer outra localidade periférica, e que conversa é que se pode ter com as pessoas? “Lê o ‘Correio da Manhã’, ‘a Bola’?” Vêem a CMTV… Sabem disto e daquilo muito por alto. Aliás, no que toca à questão dos incêndios, li um magnífico artigo “vítimas dos incêndios, vítimas da televisão”… O que se vê na questão dos incêndios, e está sempre a ser mascarado, e uma coisa que se vê igualmente na questão editorial, é a questão da pobreza. É um país pobre, um país miserável. Velhotes que não têm nada, e que morrem nos incêndios porque ficaram lá para proteger uma vaca. E depois vêm falar nos meios de combate aos incêndios, e que o que é preciso são mais Kamov!…
Em linha com a crítica de Karl Kraus aos jornais, hoje na televisão as vítimas parecem ser desapossadas, nem lhes sendo dado eco do seu drama, com os seus casos a servirem de mero ornamento para umas ficções globais, uma confusa narrativa que depois dilui tudo e perde toda a perspectiva sobre a realidade.
Pois. É um drama muito abstracto. Prefere-se a abstracção porque, na verdade, ninguém – seja nos meios jornalísticos, seja nos meios políticos – está interessado naquela gente. São pobres. O que é que nos interessam os pobres? Os pobres são os desgraçados que não conseguiram sair de Vouzela. Que não se tornaram empreendedores, e que não acabaram a dirigir o Lloyd’s Bank.
O tipo de pacientes que lhe apareciam há 20 anos e aqueles que lhe aparecem hoje, que diferenças nota?
Há uma discussão em curso sobre se foram as doenças que mudaram ou se foi a psicanálise que mudou. Mas, não entrando nisso, o que havia era o seguinte: os problemas num consultório de psicanálise eram problemas de natureza mais inconsciente, mais relacionados com a autognose, portanto, de imaginário. Hoje, o que temos são problemas muito reais. É como se a realidade entrasse pelo consultório dentro. E é evidente que, se um paciente fica desempregado, não há interpretação que resista. Isso leva a que hoje as narrativas sejam pobres.
Por exemplo?
Narrativas hiper-realistas – o desemprego, por exemplo -, ou narrativas que se ligam a um síndroma de ansiedade generalizado, com pânico ou sem pânico. Hoje, aparece muito o pânico, mas este é precisamente aquilo que não é mentalizável. De repente, o corpo parece que começa a falir, num estado de choque. Depois temos estes problemas todos da hiper-insónia… Também há um adoecimento físico muito grande. Ao mesmo tempo que se impõe uma grande ideologia da saúde, nunca como agora se vê tantos cancros em pessoas tão novas. Tenho vários pacientes que se debatem com doenças oncológicas ou enfartes ainda muito jovens. São sinais de que estamos numa sociedade altamente neurótica, stressante, onde não há direito ao ócio.
Que impacto isso provoca?
Se não está a trabalhar, você já sente culpa. Eu não trabalho de manhã, porque preciso de ler. Se trabalhasse de manhã estava analfabeto. Chegava a casa à noite, e o quê? Via o telejornal? Deitava-me? Depois as pessoas têm um tempo muito rotinizado. Ainda há dias foi o Natal, já veio o Carnaval, a Páscoa já foi, já estamos outra vez nas férias de Agosto…
Gostava de falar mais das edições do que da psicanálise, mas para arrumar este assunto, o que se passa é o seguinte: A psicanálise está a passar por apuros. O José Gil diz que a psicanálise foi algo feito para lidar com a histeria. Mas é evidente que a psicanálise tem um contexto, e Kraus foi um dos primeiros a malhar nela. De resto, há críticas poderosas de autores como Foucault, Deleuze, críticas a um Freud muito biológico, ao modelo médico do Freud, etc. A questão é que a psicanálise assenta em Édipo. E o que é que interessou a Freud neste mito? A primeira infância. Aquilo a que chamou processo primário. Ele diz: isto fica tudo definido até aos sete anos, e depois já é tarde. Di-lo num texto que se chama “Uma criança é espancada”. O tipo era um estilista do caraças. Hesitou sempre entre ser um cientista e ser um escritor. Tinha uma inveja enorme do Shakespeare, do Dostoiévski, do Goethe… Recebeu o Prémio Goethe, em 1930. (O ano da morte da mãe dele. Parece que não foi ao funeral da mãe, o que dá que pensar.) Mas ele interessou-se por esse processo primário, por aquilo que está em nós mas esquecido. Lembra-se do que lhe aconteceu quando tinha dois, três anos? Eu não. Mas foram momentos de vida muito intensos. Houve um tempo em que nós nem falávamos. Fomos infantes. Para onde é que isso foi?
Então, o Freud criou uma disciplina que se interessou por isso, pelo que estava por trás da barreira da amnésia. Ele dizia: a amnésia é o reposteiro que correu sobre experiências infantis angustiantes. E, de facto, as crianças sofrem que se farta. Não há infâncias felizes. Como ele era um tipo com imenso talento, um génio, vai a Sófocles… Os médicos da época liam os clássicos. Hoje não. A maioria não lê nada que não tenha especificamente a ver com a sua prática. Viena era, à época, a cidade mais cosmopolita da Europa. E ele vai a Sófocles, e vai à história do Édipo. Há mais do que uma história, mas ele vai a uma que lhe serve para ilustrar esta tragédia da sexualidade infantil. Édipo é a tragédia da nossa infância. Mas Freud viu-a como tragédia sexual. Isto é: a criança descobre a uma dada altura que não é o centro do mundo. De uma maneira simplificada, o rapaz percebe que a mamã não é dele, mas do papá. E que os pais fecham a porta do quarto. E tens de aguentar com isso e depois tens de arranjar um dia a tua própria mulher para substituir a mamã. Estou a caricaturar isto, mas o Freud andou à volta disto e chegou muito fundo.
Na esteira de Paul Ricouer, o que me interessa mais na leitura deste mito é a ideia de que Édipo é a tragédia da verdade. Ilustra que o sujeito não sabe toda a verdade sobre si próprio. Eu nunca me vou olhar de frente. Nunca saberei tudo sobre mim mesmo, e é isto que me torna um ser trágico. O inconsciente é o outro de mim mesmo. Ora, hoje estamos num tempo em que este homem trágico perdeu valor, e isto é o pilar da psicanálise e, de alguma maneira, da cultura ocidental. Nós temos uma versão deste mito em Hamlet. Aliás, o Harold Bloom chega a dizer que a psicanálise não é mais do que o Shakespeare aplicado. E é verdade que o Freud nutria pelo Shakespeare uma admiração e até inveja brutais. Hamlet é o Édipo moderno. Há três Édipos: o de Sófocles, o Hamlet, e depois temos os irmãos Karamazov. Hoje em dia, esta concepção dos nossos conflitos está muito debilitada. A ideia de pulsão foi substituída pela ideia do ‘Eu’. A palavra desejo está enfraquecido e passou a falar-se é de prazer. E o prazer é o prazer imediato. De resto, o conceito de pós-verdade mostra-nos que para a forma como hoje se encara o mundo os factos interessam cada vez menos. Édipo cede terreno para dar lugar a Narciso. É evidente que para vivermos temos de ter uma certa dose de narcisismo, mas nesta época o narcisismo extravasou o impulso vital, é um narcisismo maligno. Isto tem implicações no nosso modo de estar, na disponibilidade para os outros.
Hoje, se quiser marcar um jantar com alguém vou ter dificuldade. E não tinha noutros tempos. Telefonava ao Ernesto Sampaio, ele dizia-me: “Estou na Estrela. Aparece.” O Alface estava de pijama, levantava-se e vinha. Havia uma disponibilidade imensa que hoje não há. Você hoje está de guarda à sua leira, ao seu quintal, e, portanto, há uma diminuição das expectativas sobre a amizade.
Houve algo de muito profundo que mudou na nossa forma de nos encararmos?
Chegados a este momento, em que há este fetichismo da imagem, uma instagramação da vida… Às vezes vou almoçar e fico espantado com a quantidade de pessoas a fotografarem a comida. Hoje, estava um casal a almoçar que passou cerca de hora e meia ali, os dois agarrados ao telemóvel. Isto depois tem repercussões, como é evidente, também ao nível de uma psico-sexualidade. Freud aprofundou essa noção lembrando que a sexualidade não é uma coisa natural. Há um lado psíquico, e demonstrou que a sexualidade humana é bi-fásica. Hoje tendemos para uma naturalização da sexualidade, que se tornou uma espécie de aeróbica. O lado físico sobrepõe-se. Estou no Tinder, procuro alguém disponível num raio de não sei quantos quilómetros, e vamos a isso. Isto, evidentemente, leva ao afrouxar do lado pulsional da sexualidade. Neste quadro não é o desejo que prevalece mas o instinto, ou seja, voltamos à natureza.
Que papel tem a ideologia nisto?
O capitalismo conseguiu esta coisa magnífica: que a mercantilização chegasse ao amor. Tenho uma aplicação que me diz que a três quilómetros há um homem ou uma mulher a fim de ter relações sexuais comigo. Isto não é uma psico-sexualidade, porque isso implicaria desejo, uma construção… Agora, as pessoas chegam lá e até mudam de ideias: “Não, não gosto. Não me apetece. Afinal, a tipa é mais gorda do que eu esperava, tem óculos. Não quero.” É como se você chegasse a uma loja e se pusesse a escalpelizar o produto em busca de defeitos. Há, portanto, um capitalismo triunfante que vive de duas coisas: da mercantilização de tudo e da catástrofe.
Sentiu esse impacto na sua vida?
Nos últimos dois anos já passei por três bancos. Era do Banif, fui para o Santander, deste para o Popular… e depois voltei para o Santander. Já não é como aquele título de livro, “Tudo o que é Sólido se Dissolve no Ar” [obra mais conhecida de Marshall Berman], o que há é uma precarização de tudo, e para a qual o ser humano, em termos psicológicos, não está preparado.
O que é que está em causa?
Para o nosso próprio projecto de identidade contamos com uma expectativa de continuidade e esperança, ou ilusão. Quando perdemos a ilusão adoecemos. A doença mental é a perda da ilusão. Donald Winnicott estudou a fundo esta questão: ilusão, perda da ilusão, re-ilusão… Se lhe dizem que para o ano tudo só vai piorar, você não está preparado para isso. E esta precariedade vai até à reputação. Hoje, posso ser um tipo famoso, mas se um dia vou à televisão e toco no joelho de uma senhora, dando origem a um mal-entendido qualquer, fico sujeito ao rolo compressor deste fascismo moral, que manda a minha reputação por água abaixo. E um processo destes é quase incontestável, porque estamos num tempo de pensamento quase único.
No plano cultural, é fácil ver como isso afectou desde logo a crítica.
Acho graça aos poucos críticos literários que ainda saem da linha porque imediatamente parecem seres de outro planeta. Esta uberização da crítica, com as estrelinhas, sempre as mesmas editoras, e um tipo de sanitização em que se tenta prevenir a todo o custo qualquer polémica. Não há réplica, nem tréplica… Porra, pá! Mas como assim? Isto agora vai ser tudo com paninhos quentes? Há quem não se dê conta de que isto já nem faz parte da história cultural do Ocidente. O que é que seria da Literatura se este fosse o modelo há séculos.
Que diferenças vê hoje face há umas décadas?
Começa a instalar-se um pensamento único, uma mesmidade… Editam-se muitos mais livros, mas que livros é que vendem? São sempre os mesmos e porquê? Porque a censura é brutal. Os meus livros não vão estar na Bertrand. E não são só os meus que não estão, são os livros da larga maioria dos pequenos editores. Eles não os querem.
Cadeias como a Bertrand defendem-se falando em optimização dos serviços, adaptação e evolução…
Acho muito interessante que não tenha havido um movimento contra o que fizeram à Bertrand no Chiado. Destruíram o conceito de livraria e adoptou-se um modelo em que, em vez da diversidade, em vez de se consultar os livros pela lombada, eles estão de frente para nós. Prescinde-se de ter acervo, optando pelo modelo publicitário. Na montra estão quatro livros. Tudo é montra! Tudo é instagramação. E não vi ninguém protestar contra isso.
Parece que o meio intelectual, e a nossa suposta elite, foram precisamente os mais coniventes com os fenómenos de concentração editorial. Isto leva a que, hoje, a única editora de média dimensão em Portugal seja…
A Relógio D’Água. Mas isso é sintoma. Essa amorfia com que foi aceite esta rapinagem editorial, um verdadeiro saque à diversidade, e uma uniformização de produtos, e dos processos de mercantilização… Pensando agora talvez também isto seja sinal de pobreza. É a única explicação que encontro.
Uma pobreza…
Material. A ideia dos autores seria algo como: “Talvez assim ganhe mais algum dinheiro.” Penso que é a explicação mais simples mas também a mais verdadeira. Alguns autores meus saíram da Fenda para as editoras da Leya com a ideia de que iam ganhar muito dinheiro, que iam ser projectados, ter fama.
Com a Cotovia passou-se algo de semelhante. E hoje os autores mudam de editora como quem muda de camisa. Ou como os jogadores de futebol mudam de clube.
E para que é isto? Porquê? Só há uma justificação: é por dinheiro. Porque não é para terem edições mais bonitas, melhor editadas. Só vejo isso.
Há as questões da promoção. E agora entram nos cálculos também os festivais. Esse é o grande fenómeno que surgiu para colmatar e substituir o trabalho que os editores faziam no sentido de dar voz aos seus autores, defendê-los, influindo na agenda cultural. Quem garante maior presença nos festivais são os grupos dominantes. E os festivais são hoje o grande veículo para um autor aparecer. E como tudo está sujeito à lei do: O que é bom aparece, o que aparece é bom… E não basta ir a um festival. Nos 20 que já se realizam anualmente, é preciso fazer o bingo.
Mas vamos sempre dar à moeda. Não creio que a coisa se passe assim nos países escandinavos, onde os livros são comprados pelo Estado para as bibliotecas. Não é que não haja livrarias, mas há uma política cultural diversificada. Aqui, sentimos que o modelo americano penetrou com toda a sua ferocidade, seja na tecnologia, seja no entretenimento, seja na cultura, e impôs esse modelo dos show-rooms. O escritor já não precisa só de escrever bem, de ter imaginação, tem de ter uma certa figura, uma certa postura, fazer equilíbrios de salão.
Acha que este modelo pode estar já em declínio?
Não auguro nada de esperançoso neste ciclo. No entanto, há uma coisa que não quero deixar de dizer. Comecei a editar com 20 anos, e fico muito contente, agora que estou à beira dos 60, porque neste momento há novos editores com potência e engenho que me reconduzem a uma memória do futuro, ao passo que, quando comecei, estava um pouco confuso. Muitas das editoras de referência tinham já desaparecido – a Moraes, a Ulisseia, a Arcádia, a Afrodite… para mim, e ainda antes da & etc, e do Vitor Silva Tavares, o editor e a editora que eu tinha como meu grande exemplo é a Afrodite do Ribeiro de Mello.
Que teve, pelo menos inicialmente, como figura tutelar a Natália Correia.
Isso não sei. Eu não vivia cá. Não conhecia os meandros. Mas os livros da Afrodite causavam em mim um impacto, até sensorial, brutal. Também a primeira Dom Quixote.
Da Snu Abecassis.
Sim. A colecção de poesia, desde os poemas do Beckett aos do Ferlinghetti… Aquilo para um miúdo que estava a começar a aventurar-se pela literatura era muito forte. Da mesma forma que a colecção de livros da Europa América foi muito importante para a minha geração…
Diz que não vivia cá… Onde cresceu?
Estudei em Coimbra, mas sou de São Pedro do Sul. Portanto, era um rapaz da província. Simplesmente, em Coimbra havia duas livrarias maravilhosas: a Atlântida (que hoje é a Benetton…), com um excelente livreiro… E eles eram também editores. Editaram belíssimas antologias de contos, dos russos, daqui, dalém. E também o livreiro da Bertrand de Coimbra era maravilhoso. Eram os nossos pais pela forma como também nos aconselhavam.
Quando é que se deu conta de que não lhe chegava ser leitor, mas queria fazer livros?
Isso foi por volta de 1978. Tinha uns 19 anos, vivia em Coimbra, e o ambiente académico era mau. Era já o refluxo do 25 de Abril. Mas conhecia uma malta porreira, e desafiei-os: que tal fazermos uma revista. Estava a ler “O Prazer do Texto” certa tarde no Café Tropical e parei nesta frase: “Nem a cultura nem a sua destruição são eróticas; apenas a fenda entre ambas se torna erótica.” Esta frase do Roland Barthes ficou-me e pensei: “Olha, Fenda… Um nome porreiro.”
Como foi o começo?
Aquilo foi feito de uma maneira muito jazzística. Era um grupo de pessoas que não estavam ligadas às juventudes partidárias, e éramos, portanto, pouco bem vistos, porque ou se estava na juventude do PC, ou na do PS, ou na JSD. Começou por ser uma revista. Nunca fui um erudito, nem um pensador. Também não tenho um talento especial para escrever. Acho que sou um leitor razoável. Mas entusiasmou-me o fazer a revista.
Quem eram estas pessoas com quem se lançou como editor?
O Fernando Cascais, que é hoje Professor na Nova, o Joaquim Ramos de Carvalho, que é historiador, acho que também foi Professor na Universidade, o António Lindeza Diogo…
O seu ímpeto não tinha então nada que ver com um narcisismo autoral? Não pensava em si como autor?
Talvez no início, na adolescência ainda tenha tido alguma veleidade a esse respeito. Naquele tempo, na adolescência, o que queríamos era vir a ser escritores. Ninguém ambicionava ser banqueiro.
Hoje, se em 100 crianças houver uma que diga que quer ser escritor…
Tudo mudou. Nós líamos tipos como o Beckett, que além do mais era aquele figurão… Mas a revista era então uma maneira, como hoje a VS é ainda uma maneira de desentristecer. Coisa de que preciso hoje como precisava então.
Teve quantos números a revista?
Uns 12. Nem sei. Porque foi evoluindo. Tive a “Fenda, Magazine Frenética”, depois a “Fenda Não Ela Mesma”, A e B, depois a “Play Fenda”, depois a “Fenda Funda”… Havia uma performatividade da revista, porque a malta estava sempre a querer fazer coisas diferentes. A revista teve muita repercussão… O Luiz Pacheco escreveu no “Diário Popular” um artigo: “Ou Fenda ou racha”… Esse texto era giro. E o Assis Pacheco também escreveu algumas vezes sobre a revista. O Ernesto Sampaio interessou-se muito pelas coisas da Fenda. E a revista ganhou rapidamente um certo prestígio.
Que tiragem tinha?
Uns mil exemplares. Não sei se a primeira não teve uns 2000. Depois diminuiu.
E que pessoas escreviam na revista?
Muita gente. O Al Berto. Os primeiros poemas do Miguel Esteves Cardoso, quando estava ainda em Manchester. Isso foi na “Fenda Infinda”.
E como é que descobriu essa gente?
Essa gente chegava a mim. O Miguel Serras Pereira, o Jorge Sousa Braga, que foi dos primeiros autores que eu publiquei: “De manhã vamos todos acordar com uma pérola no cu” (1983). O Bernardo Frey, que é o Bernardo Pinto de Almeida, autor da primeira plaquete que publiquei. O António Pocinho, o João Damasceno, de quem gostaria até de reunir a obra. Não gostava de publicar poesia na VS, mas no caso dele faria uma excepção. É um rapaz que enlouqueceu, ficou esquizofrénico. Os pais eram tipógrafos em Coimbra, e o irmão ainda é. Ele tem uma obra pequena mas era um tipo interessante. O Helder Moura Pereira… tanta gente. Publicámos centenas de pessoas. Em relação ao Al Berto até tenho pena, porque ele mandava-me umas colagens muito bonitas, de Sines…
Ainda as tem?
Acho que o [João] Bicker ainda as tem. O Bicker é que é o meu arquivador. Quando deixei o escritório da Fenda vendi os meus livros todos. Estava teso. E a gente não pode fechar uma editora e deixar dívidas ao Estado.
Quando é que fechou a editora?
Há dois anos.
O que se passou?
A editora sempre foi deficitária. Mas o prejuízo passou a ser insustentável, pela renda, pelo salário que pagava a uma funcionária, pelos impostos, por tudo. As pessoas não queriam que eu fechasse a Fenda. “Não, tu és a Fenda”, diziam sem saber o que aquilo me custava. Em Coimbra sou o Vasco da Fenda. Aquilo era uma espécie de identidade, de segunda pele. Fechar a Fenda era arrancar um braço. Mas o João Bicker era meu sócio. E, por isso, também ficaria responsável pelas dívidas da editora. E eu não o queria meter nisso. Dei-lhe a quota, mas não lhe quis dar um problema.
E depois?
Pensei em não editar mais. Mas depois comecei a sentir uma nostalgia da edição. Porque isto são 40 anos. Se vir na história dos editores, ninguém deixa de o ser.
Ao longo dos anos, uma coisa que fui ouvindo, e que se tornaram como lendas urbanas do meio editorial, é que o Vasco foi dos editores mais maltratados pelos seus autores.
Sim.
Se houve editor que foi vítima da pulhice pela qual o meio é conhecido…
Porque é que isso aconteceu? Não sei… Com excepção do Alface, do Ernesto Sampaio e do Jorge Sousa Braga… Porque quando o Jorge quis passar para a Assírio & Alvim, ele falou comigo e eu achei bem. Sou amigo do Jorge, e aceitei. Na altura o Hermínio Monteiro corporizava tudo o que era a poesia em Portugal e eu disse-lhe que entendia a vontade dele de passar para a Assírio. Continuámos amigos. Mas a maioria dos outros autores que editei, zanguei-me profundamente com eles. E eles comigo. Porquê? Há várias respostas. Há pelo menos dois lados e duas maneiras de contar a história.
E a sua?
A explicação que eu dou, e por isso é que agora prefiro não publicar autores vivos, é porque eu era um mãos largas, afeiçoava-me aos autores, e, naturalmente, era muito generoso com eles. Mas não recebia na mesma moeda. Os nossos autores têm uma facilidade em crer na sua genialidade que é espantosa. Por exemplo, passavam na montra da Bertrand e diziam-me: “Epá, mas o meu livro não está na montra da Bertand, como é que é?” E eu dizia-lhes: “Não tenho poder para colocar os livros na Bertrand. Eles nem sequer compram o livro, quanto mais darem-lhe destaque.” Depois havia o mito de que eu me enchia de dinheiro com os livros. Temos autores, e no caso da Fenda isso era óbvio, que eram pessoas com um grande complexo narcísico. Mas é claro que, por outro lado, deve haver também nisto alguma responsabilidade minha.
Porquê?
Porque, sendo muito generoso, e não exigindo receber na mesma medida, talvez se convencessem de que eu estava a lucrar de outra maneira. Depois, é claro, ficava furioso com a ingratidão deles. Mas tive também o azar de conhecer autores que, humanamente, eram uns crápulas. E fui eu que não me apercebi disso a tempo. Era como se estivessem escudados pelos textos. O texto era bom, mas a pessoa não o era.
Dada a sua profissão como psicanalista, conhece também muitas outras pessoas que nada têm a ver com o meio editorial. Acredita que o meio literário é uma recolha particularmente suja dentro do género humano?
Eu acho que sim. Tenho a pior das opiniões. E é curioso que, editando há 40 anos, depois da morte do Ernesto e do Alface, salvo raras as excepções, as minhas amizades não sejam no meio. Dou-me muito bem com os meus amigos da Letra Livre, com o Eduardo e o Carlos… Dava-me com o André Jorge, da Cotovia… No meio dos editores era dos poucos. O Hermínio Monteiro tentou lixar-me…
Roubando autores?
Roubando autores, pagando mal… Porque ele foi meu distribuidor. Dei-me muito bem, e ainda dou com o Rui Martiniano, da Hiena.
Que também foi lixado, não é? A Hiena acaba na sequência de uma denúncia…
Não sei bem a história. Não sei porque acabou. Teve um papel muito importante. O Rui tinha uma força e uma energia editorial magníficas. Conheci-o porque ele trabalhava no BPA, na Rua do Ouro, onde eu tinha conta… Saíamos de lá a correr para falar de livros.
A história que ouvi é que ele pediu a pensão por invalidez porque a actividade de bancário lhe deu cabo da cabeça…
Foi.
E com esse dinheiro é que abre a Hiena.
Ele reformou-se, sim, por motivos psiquiátricos.
Mas o Vasco não teve nada a ver com isso?
Não, não. [Risos] Mas aconselhei-o a fazê-lo. Porque no caso do Rui havia um grande contra-senso entre o trabalho que ele fazia ao balcão do BPA e os interesses dele… Mas os autores que me trataram mal e que eu tratei muito bem, isso causa-me alguma amargura porque nunca ganhei dinheiro com os livros, e gastei muito dinheiro, muito tempo com os livros dos outros… Também foi fantástico. Não imagino a minha vida sem a edição. Mas não tenho nenhuma ideia elevada do meio. Pelo contrário, é um meio onde se encontram pessoas muito mesquinhas, muito cadaverosas, muito invejosas. Se você tem talento está lixado. Se tem talento fazem-lhe a folha. Nunca vi grande companheirismo editorial. Uma vez tentei fazer uma distribuidora de pequenos editores…
Quem recentemente se lembrou de que seria uma medida decisiva para o apoio hoje às editoras independentes foi Castro Mendes, que falou disso numa entrevista à Renascença… Talvez se tenha esquecido de que, como ministro da Cultura, está capacitado como ninguém para pôr em marcha uma coisa nesses moldes.
É, eu não entendo porque nunca se avançou para uma coisa dessas. Porque o problema hoje das pequenas editoras é essencialmente um problema de distribuição.
Mas se o próprio ministro está ciente disso, quem falta ainda convencer?
Sim, mas o nosso ministro é muito mole. Vimos isso agora nesta questão do programa de apoio às artes. Ele foi para Berlim, e teve de ser o Costa a resolver o problema. Parece uma pessoa amável, mas evidentemente é alguém sem peso político. Acho que é isso que o caracteriza.
Voltando à VS…
Não sendo a continuação da Fenda, é a continuação da minha paixão editorial. A determinada altura pensei: vou morrer a editar. Quero morrer com um livro na tipografia. Que se foda. Mas vou publicar pouco. Quero publicar um livro por estação, mais ou menos. E mais de ensaio. Um ou outro clássico, livros cuidados, mas agora sem o carácter empresarial.
Estou muito ligado ao Carlos Bernardo e à Andreia Baleiras, da Maldoror, porque temos uma sintonia humana.
E, de resto, a Maldoror com as devidas diferenças, é um projecto sucessor da Fenda.
Sim. E irá reeditar alguns dos títulos da Fenda. Reconheço no Carlos o que eu sempre pensei sobre a edição. Editamos os livros de que gostamos muito, se vender ainda bem. É claro que isso teve um custo brutal para mim… Também não é que eu quisesse ter um Mercedes. Quer dizer, gostava de ter um Bentley, mas um Mercedes não. [Risos] Eu admirava o Roberto Calasso com a Adelphi, onde ele conseguiu um equilíbrio entre as duas coisas. Mas já o [Jacobo] Fitz-James Stuart da Siruela teve de a vender.
A editora espanhola…
Sim. Ele é o filho da duquesa de Alba. Era um tipo bestial, e tinha muito dinheiro, mas acabou por ter de se desfazer da Siruela. O Franco Mari Ricci também teve de fechar [a editora italiana do mesmo nome].
O Calasso disse certa vez que um projecto editorial sério para se impor tem de preparar para perder dinheiro nos primeiros dez anos.
Pois. Dez ou mais. E é preciso vermos que Itália é gigante. Portugal por comparação…
E Itália ainda tem uma elite cultural.
Sim, tem. Como França. A Minuit era a editora francesa mais rentável em relação ao número de funcionários. Tinha uns oito. E editou coisas do arco da velha. A Actes Sud prossegue, a Fata Morgana continua a editar. E isto porque há ali malta que lê. A Gallimard continua autónoma, e em França também ocorreu o fenómeno da concentração editorial. Mas, assim mesmo, a Gallimard continua a ser uma força no terreno da edição como não há paralelo em Portugal. E porquê? Porque há ali civilização. Civilização no sentido alemão: kultur.
Entre o final dos anos 80 e até à crise de 2008, não lhe parece que houve um momento em que Portugal estava a começar a criar uma pequena massa crítica?
Sim, estava. Mesmo em termos de leitura, houve livros que vendi muito bem. Os jornais tinham todos suplementos literários. Havia revistas com interesse.
Hoje, parece que recuámos de volta aos anos 1960.
Eu acho que é pior. Porque na altura havia a Moraes, surgiu a “Tempo e o Modo”, havia a Arcádia, depois apareceu a Ulisseia. Editava-se pouco mas as tiragens eram significativas, e vendiam-se. Havia curiosidade. Em Coimbra a Almedina vendia os livros estrangeiros por baixo da mesa. Agora não. Entro na Fnac, vejo o Top e fujo. Acho que houve um processo de empobrecimento, a que outros países ainda vão resistindo… A Amazon contribui muito para isso, com esta digitalização do mundo. Mas isto é evidente. Você vai a livraria italiana ou a uma francesa, e aquilo ainda são livrarias. Ainda se nota ali uma força daquele médium: o livro.
O que se nota até nos livros. Lá as colecções não nos dão estes mamarrachos. A VS parece adoptar uma sobriedade alemã…
Mas eu quero fazer uma coisa alemã. Não é rico, mas é sóbrio.
Há uma certa volúpia num livro com esta dimensão e peso [“Aforismos”, de Karl Kraus]…
Sim, porque há um cuidado material na escolha da cartolina e do papel. Mas isso eu devo-o à excelência do meu cúmplice João Bicker. Se vir os alemães, eles são poupados a fazer livros. Os livros da Surkamp, a edição alemã… não a imitei, mas foi daí que tirei o modelo. Só não consegui que ela dobrasse sem partir. Com a edição alemã, faço do livro um rolo, e o livro volta a si e não parte. É um livro pequeno, não sei se o tenho aqui… E pequeno porque é para a malta andar com eles no bolso. Nós aqui fazemos uns tijolos que são impossíveis de ler.
E não são pensados para a vida que terão depois de saírem da livraria, mas apenas para estar ali, naquele espaço comercial, competindo… São pensados só até à venda.
Sim, para ocupar o espaço. Se estiver deitado ao lado da sua mulher e quiser abrir um calhamaço daqueles mata-a.
Nas edições de poesia, e particularmente da Assírio & Alvim tornou-se patético.
É uma coisa que mete medo. Porque aquilo podia ser feito com um terço do tamanho… É incompatível aquele tipo de edição com a poesia. A poesia tem de ser portátil também. Eu quero ler no cimo de uma serra, quero ler no autocarro, no metro…
Parece ser uma manifestação de desinteresse pelos leitores. Leva-nos a pensar se não lhes preocupa saber o que os leitores de poesia sentem quando têm de descobrir poetas em calhamaços daquele tamanho e que custam 40 euros. Em Espanha, compramos as obras reunidas a menos de 20 euros.
Mas sempre foi assim. Eu perguntava ao Carlos Veiga Ferreira da Teorema: “Você está a editar o Sebald (que é um autor que eu amo), porque é que não faz igual à edição da Penguin?” E ele: “Ah, não. Nós temos de fazer um super seller para ocupar terreno na livraria.”
Então isso é admitido… É que já ouvi a conversa de que os leitores portugueses preferem dar mais dinheiro mas levar para casa uma coisa pesada, para sentir que o dinheiro que deram…
Isso é mentira. É a oferta que determina a procura. Isso é uma lei básica. Se o Sebald estiver ali numa edição igual à da Penguin as pessoas compram aquela edição. É com esse argumento que os programas de televisão da manhã têm astrólogos, e curandeiros, e não sei quê… “Ah, é o que as pessoas gostam! E do Manuel Luís Goucha…” Sim, pois. Mas se houvesse outros programas, haveria outras respostas do público. Você vai à La Hune, a livraria em Paris, ou à Feltrinelli, em Roma, e o que lá está não é o que está ali, na Bertrand. Os livros têm outra forma, são pequenos. Os livros da Einaudi são pequenos, as colecções alemãs são todas de livros pequenos, portáteis. Exemplo disso foi a edição do D. Quixote em português. Fizeram-se duas edições, e as traduções até são boas…
A do Miguel Serras Pereira e a do José Bento…
Sim. A do Aquilino era má. Aquilo é difícil de traduzir. Mas como é que você anda com o D. Quixote? Transporta-o como? Tem um empregado para andar atrás de si com o livro? Ou anda com uma mala daquelas de rodinhas? É uma coisa absurda.
E na VS que tiragens vai fazer?
Fiz mil exemplares do Dagerman e 500 do Kraus. O Dagerman é um livro que quis editar para fazer uma ponte, uma ponte entre o passado e outra coisa. Como se levasse uma jóia de casa dos pais para a nova casa.
Foi o livro que se deu melhor na Fenda.
Acho que não. Talvez o “Manual de Civilidade para Meninas” [de Pierre Louÿs], ou “A Fala do Índio”, que também vendeu muito bem. O Michaux vendeu muito bem. Mas o “Manual de Civilidade para Meninas” foi um grande sucesso. E agora o editor da Guerra e Paz fez uma nova edição, com a mesma tradução… E ninguém me disse nada. Também se vê por aí uma certa falta de rigor ético no mundo editorial.
Mas curioso é que ele [Manuel S. Fonseca] assina a tradução…
Assina, mas esta é muito parecida com a da Fenda. (Bem, eu não estive a ver palavra por palavra a comparar as duas… Não tenho pachorra para isso.) Mas não há ética… “Estou a pensar editar este livro, você fechou a editora, não fechou, pretende reeditá-lo?” É uma falta de ética tanto mais que ainda temos livros disponíveis em armazém. É claro que o livro está em domínio público. Teoricamente, qualquer pessoa pode editar.
Sim, mas ir buscar uma tradução que foi encomendada e paga por outro editor…
Pois, isso já não sei como foi feito. Nem sei se é ipsis verbi a mesma. Agora, que é um livro dificílimo de traduzir por causa do calão… Quando editei o livro, não fui buscar a tradução do Aníbal Fernandes. Já tinha havido uma edição na &etc. Editei uma tradução do Júlio Henriques, ilustrada pelo Pedro Proença. Mas só editei depois de falar com o Vitor e ele me ter dito que não iria reeditá-la e que não havia problema nenhum em eu o fazer. Havia esta ética entre os editores.
Esta falta de civilidade entre os editores, que sempre viveram pela sua palavra, pelo nome que tinham na praça, parece hoje um insanável contra-senso do meio editorial, e, sobretudo, mesmo no que respeita àqueles que editam os anarquistas, os pensadores livres ou os filósofos sociais que malham ferozmente naquilo que são os efeitos da perda do sentido ético e comunitário… Parecem estar-se cagando para estes sinais, ou até para o que os outros editores pensam deles.
Mas isso tem a ver com aquilo de que falávamos no início… com a naturalização, com a biopolítica. Há também uma biopolítica editorial. Eu quero safar-me, eu editor X, e estou-me a cagar para a Fenda, a Maldoror, estou-me a cagar para os princípios ou valores, inclusive naquilo que dizem os próprios textos que se editam… E atenção: é preciso ver que muitos editores não gostam de livros. O meu veterinário uma vez confessou-me que não gostava de animais, e eu tive de mudar de veterinário. E há editores que não gostam de livros, e temos de ter isso em conta. Não gostam de livros no sentido quase amoroso da coisa. Fazem livros como quem podia ter seguido outro negócio. Por acaso foram os livros, mas podia ter sido as mantas eléctricas, electrodomésticos, móveis. O que interessa é a caixa. Penso que isso tem a ver com uma biopolítica editorial. Não é por acaso que a Porto Editora ficou com os autores todos. Passou-se tudo para a Porto Editora. Mesmo autores estimáveis. Porquê? Com que argumento? “Ah, é o mais seguro, é o mais cómodo. É o leão editorial.” Nenhum desses vem é para a VS, ou para qualquer das pequenas. Isto supondo que os queríamos, o que não é nada líquido.