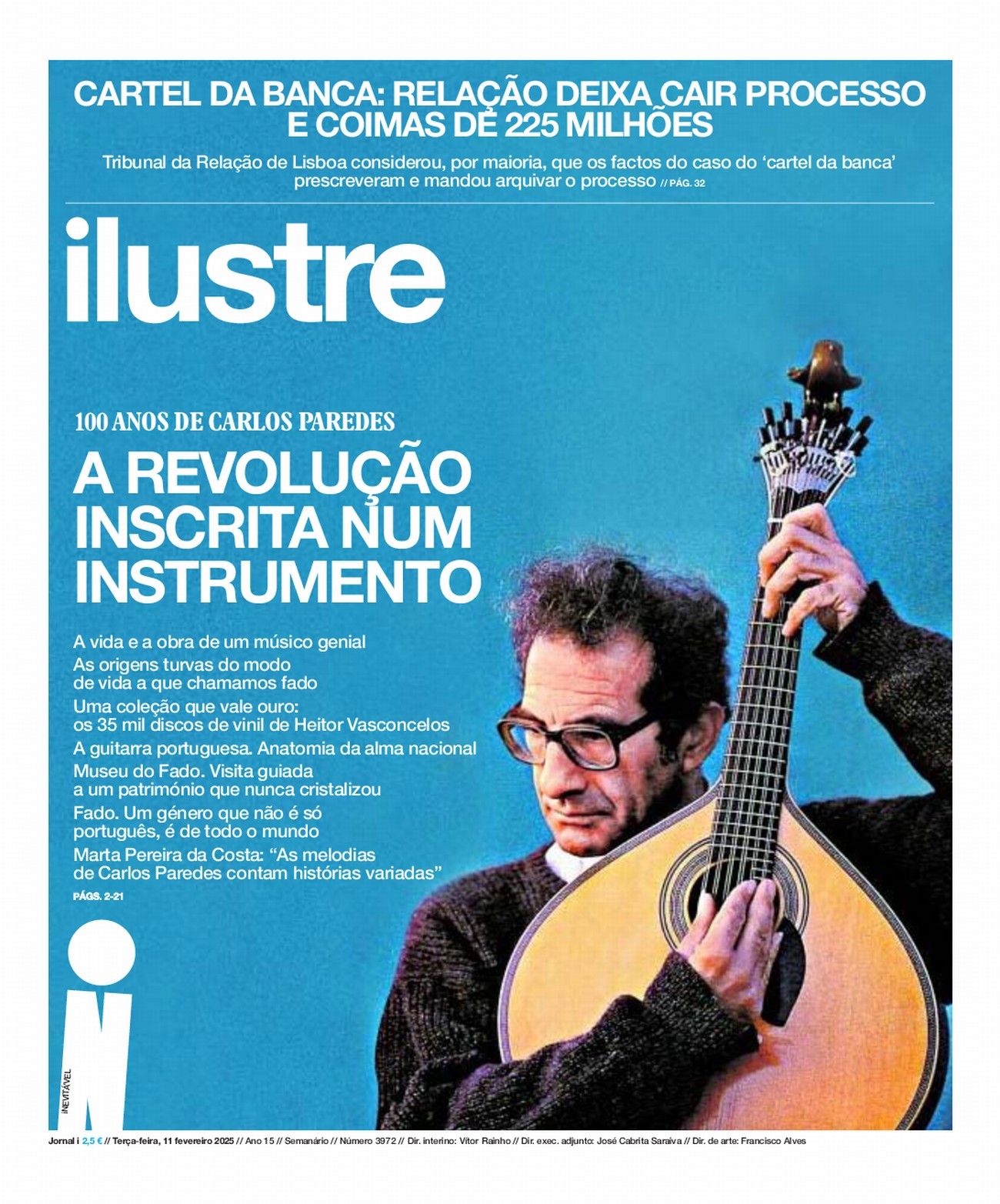Mathias Enard nasceu em Niort, uma vila no oeste da França, em 1972, e tem vivido pelo mundo, sendo que, ao contrário do turista, a viagem pouco lhe interessa, a estranheza e novidade por si só também dispensa, interessando-lhe mais fixar-se, aprender a cultura, partilhar os hábitos, viver a vida como o fazem os de lá. Tendo-se encantado pelo Oriente, passou uma década em países como a Síria, o Líbano e o Egito, mas isso foi antes do 11 de Setembro, antes da Primavera Árabe, antes destes países serem notícia pelos piores motivos. Hoje, o inferno vai enviando postais dos lugares onde viveu ao escritor francês, e de algum modo ele responde através da sua escrita, de amplo espetro e que não perde tempo com generalizações, mas consegue fazer um poderoso inventário das coisas que se perdem na guerra.
O seu livro mais recente, “Bússola”, venceu, no ano passado, o prestigiado prémio literário francês Goncourt. Licenciado em Língua Orientais e especialista no mundo árabe e persa, Enard estreou-se com “La Perfection du Tir” (2003), onde seguia um francoatirador num país ficcional muito parecido com o Líbano. A consagração chegaria em 2008, com “Zona”, as falsas memórias de um espião que lhe permitiram explorar a história da bacia do Mediterrâneo durante o século passado. Com “Fala-lhes de Batalhas, de Reis e de Elefantes” (2010), um romance histórico com ação a desenrolar-se no período do Renascimento, tinha já sido finalista do Goncourt.
Desde há uns anos vive em Barcelona, onde abriu com um amigo Karakala, um restaurante libanês. Foi em Berlim que passou uma temporada para escrever “Bússola”, protagonizada por um musicólogo vienense de saúde frágil e fumador de ópio. Fascinado pelo Oriente, o romance inteiro desponta e encerra-se numa noite de insónia, através da revisitação de lugares e memórias, com o esqueleto narrativo a servir de gaiola para uma história de amor entre dois arabistas.
Mas Enard é um escritor “imensamente ambicioso”, como notou Alberto Manguel na crítica que escreveu ao livro no “El País”, e ao contar-nos a vida de Franz Ritter procura “narrar a história universal”. Assim, a trama não é mais que um ardiloso percurso que permite que uma obra enciclopédica case a erudição com um ritmo fluído, transformando-se numa composição musical e intimista. Para lá dos personagens, Enard consegue assim explorar os laços que unem Oriente e Ocidente, a criação artística e as transfusões de ânimo entre um e outro. Ficção e realidade, a gaiola e o canto do pássaro.
Franz Ritter, o protagonista de “Bússola”, é uma personagem que não sei se é possível inventá-la tanto como é preciso vivê-la. É um pouco difícil inventar as suas memórias se não tiver vivido muitas daquelas coisas. Quanto deste personagem é biográfico?
Pouco e muito, ao mesmo tempo. Não tenho nada a ver com o Franz Ritter a nível pessoal, de vida, de personalidade. Mas utilizei as minhas lembranças de viagens, de cidades onde vivi, e passei-as a Franz Ritter. O que descrevo de Damasco, de Teerão, de Istambul… Os ambientes, as pessoas… São lembranças minhas que transformo com o personagem, que é totalmente inventado. Mas não sou musicólogo, não sou vienense, tudo isso é já ficção.
Já foi notada a diferença quase antitética na sua relação com o Oriente, nomeadamente com o mundo árabe, com a forma como o encara Michel Houellebecq. Qual o principal traço distintivo entre as vossas abordagens?
Houellebecq utiliza o Islão, a cultura muçulmana, para fazer a sua caricatura da França dos nossos dias. O que lhe interessa é o seu país. E o Islão surge nesse retrato para dar a ver o que ele toma como uma França decadente, com necessidade de renovação. Mas não se interessa verdadeiramente em ir mais além na realidade do que são as culturas estrangeiras. Eu quase não falo de França, e aquilo em que me centro são outros aspetos, procuro ver as conexões entre o este e o oeste de um ponto de vista histórico. Creio que temos pontos de vista totalmente distintos.
Mas acompanha a ideia de que há, nos nossos dias, uma certa diluição da cultura ocidental por comparação com a oriental?
O que é preciso é deixar de entender as diferentes culturas e abarcá-las em grandes blocos. Não há uma cultura ocidental, são várias coisas distintas. O que me interessa é dar a conhecer e a ver a forma como estas culturas orientais e ocidentais, ao longo dos séculos, se mesclaram e utilizaram elementos alheios para se modificarem. De alguma forma, sempre se foram transformando umas às outras. Obviamente, nisso muitas coisas influíram. Por um lado, a dominação política, económica, militar da Europa sobre o Médio Oriente, isto nos últimos três ou quatro séculos. Mas esta dominação deu lugar a intercâmbio noutros sentidos, mais subterrâneos, culturais, que levaram a que tenhamos criado laços. Acontece que, no momento atual, devido à situação geoestratégica, a perspetiva que temos do Islão radical, impede-nos de ver além disso, desta violência quotidiana, e fica difícil perceber o quão significativos são os nossos traços em comum. Assim, vemo-nos como duas identidades distintas e que nunca se falaram. E não é assim. Há uma continuidade muito clara nas nossas relações.
O sentido de comunidade, até de sociedade, que Margaret Thatcher pôs em causa, parece estar em risco em alguns países ocidentais. Isso é particularmente notável no contraste que vemos em tantos bairros em França ou na Bélgica que estão já muito identificados com a cultura muçulmana. A tal ponto que alguns franceses se sentem aí estrangeiros. Não vê isso como um contraste em relação ao tipo de sociedade ocidental?
É verdade que os contactos entre diferentes formas de viver não são simples. Não se pode negar que estas fricções existem. Sobretudo em França, nos arredores de Paris e de outras grandes cidades. Mas creio que isto resulta, mais que tudo, de um problema de urbanística, um problema económico, e não se deve a algo de fundo cultural. O problema nasce da criação de bairros que funcionam um pouco como guetos, e de onde, justamente, não se pode sair por motivos económicos. Assim fabricam-se pequenas culturas locais muito fechadas e que têm dificuldade em comunicar-se com o resto da sociedade, francesa, por exemplo. Mas não creio que se possa generalizar este fenómeno, e não creio que necessariamente tenha alguma coisa a ver com o Islão.
Numa entrevista, apontou uma falha de empatia gerada em parte pela forma como a realidade nos é transmitida. Nomeadamente nos noticiários, em que imagens da guerra na Síria trazem em rodapé a informação da meteorologia. À literatura cabe criar condições para que nos relacionemos de forma empática e tomemos consciência da real dimensão humana de uma crise como a que se vive na Síria?
Creio que sim. A literatura tem, além do mais, de cumprir um papel decisivo e que passa por ir mais além do que podemos ver nas notícias, na televisão, neste mundo que é cada vez mais conectado mas também, de certa forma, muito superficial. Aquilo que podes ver no Facebook ou no Youtube é limitado. Ao contrário, a literatura pode ir muito mais fundo, porque pode ocupar-se de coisas que não se ficam meramente por um nível informativo, mas permitem construir uma experiência real do ponto de vista da empatia para o leitor. Levá-lo a comunicar de outra forma com os refugiados, por exemplo, ou com o que está a acontecer na Síria, ou mesmo com a realidade contemporânea do mundo árabe. Esse ponto de vista parece-me muito mais útil e profundo do que aquilo que sai na maioria dos meios de comunicação.
Tendo vivido na Síria, qual foi a sua experiência ao acompanhar o evoluir dos acontecimentos no país?
Foi bastante traumático. A catástrofe na Síria é de tal magnitude que se torna quase inimaginável. Pensar que este país onde vivi alguns anos está praticamente reduzido a destroços e que, dos vinte milhões de sírios, só metade continua a viver no país… Se escrevi “Bússola” foi precisamente para ir além da guerra, tentar encontrar, também para mim, uma forma de esperança. Ver para lá das chamas, além da destruição e da morte. É isso o que a arte, a literatura, podem contra a guerra.
No livro há uma discussão entre Franz Ritter e a mulher por quem está apaixonado, Sarah, sobre “Danúbio”, do Claudio Magris, na qual esta critica que os primeiros mil quilómetros representam dois terços do livro ao passo que os 1800 quilómetros seguintes são despachados. O seu trabalho é uma tentativa de dar uma visão do outro lado?
Não me interesso pelo Danúbio, mas sim, pensando noutros territórios… O livro de Magris é uma grande obra, e ele um grande intelectual. Se os últimos 1800 quilómetros já não lhe interessam realmente isso é porque, para ele, o Danúbio é uma forma de mostrar como o rio transmite, desde o norte, a civilização austríaca e alemã aos territórios a sul. É claro que este irá também ao encontro dos povos otomanos, as minorias balcânicas entre a Bulgária e a Roménia, culturas que ele já não vê porque a cada um de nós cabe as suas especialidades. Por isso criei esta cena em que dois personagens discutem um grande livro e que notam, no entanto, essa falha, esse outro lado que está ainda por escrever. Mas isto é normal, há sempre livros que nos falta ainda escrever.
Há um conjunto de escritores, em que possivelmente o Mathias se inclui, aqueles que vêm de um background académico, intelectuais que abandonam a escrita dos ensaios e procuram inventar uma forma de transformar o seu conhecimento por via da literatura em algo mais atuante. Neste sentido, que tipo de influências foram centrais para a sua obra?
Creio que, no século XXI, o romance, enquanto género, pode fazer tudo. Cabe nele o ensaio, cabem as imagens, escritos jornalísticos, diálogos, cabe tudo. É claro que isto nos dá uma grande liberdade, mas por outro lado temos de inventar uma fórmula para mesclar tudo isto. Aprender a escrever é aprender a tomar liberdades. Alguém que me ajudou muito foi Roberto Bolãno. “Bússola”, que é um livro em que se fala também de poesia, deve muito ao livro “Detectives Selvagens”, do Bolãno, que para mim foi uma grande revelação. Também o Sebald, não tanto do lado do romance, mas mais a partir do ensaio, me mostrou também o quão longe o ensaio pode ir, através da literatura, adquirindo uma forma brilhante. Estarei algures entre estas duas referências.
Este romance desenrola-se no período de algumas horas, numa noite de insónia. Os livros que escreve são planeados num longo período de tempo ou partem de uma crise de uma noite em que sente a necessidade dar curso a um ímpeto?
Sabia que tinha muitas coisas para contar. Tinha uma série de personagens e as relações delineadas entre eles, mas necessitava de uma forma de cruzá-los todos num romance. Este ponto focal de uma noite de Franz Ritter permitiu-me ter um quadro muito enclausurado a partir do qual posso mover-me com grande facilidade e voltar sempre ali. Sei assim que o leitor não se vai perder porque estamos dentro deste quarto, no apartamento do personagem. Necessitava também de um tempo e decidi dar um ritmo muito preciso ao tempo da noite que passa no livro. O tempo passa a 90 segundos por página. Como um metrónomo. Isto fixa claramente as dimensões desta noite…
E o livro segue à risca esta regra?
Sim, sim. Não exatamente nas traduções, porque aí há pequenos desajustes, mas também fica muito perto disso. Por isso as horas que marcam os capítulos são horas precisas, porque marcam o tempo de forma precisa. Isso dá uma realidade quase física ao livro. Assim, podia ir muito longe, retroceder, porque estava tudo contido dentro deste espaço de tempo real.
Neste livro conta-nos imensas histórias, há uma infinidade de parêntesis, uma grande deriva. Isto foi algo que lhe sucedeu acidentalmente ou procurou cada uma daquelas histórias, criando este quadro?
Estava preparado. Tinha todo um mapa, sabia onde havia de entrar cada um destes devaneios e o trabalho, na verdade, é encontrar as transições, saber como passas de uma coisa à outra. É aí que está o trabalho do romancista. Tinha já tudo armado antes de começar o livro.
Quanto tempo foi preciso para construir este livro?
É difícil dizer; uns quatro ou cinco anos.
E durante esse tempo foi escrevendo outras coisas, teve outros projetos, ou dedicou-se só a este livro?
Não. Só havia este.
A Sarah, este personagem a que às tantas chama “detetive selvagem”, é uma ensaísta com um fôlego e uma capacidade intelectual notáveis. Conheceu pessoas assim no meio académico?
Não. É um personagem ficcional, não existe. Mas baseia-se em várias pessoas que conheci. Vi aspetos dela noutras pessoas, mas ela agrupa-os. Contudo, não podemos esquecer-nos de que tudo isto nos é contado por Franz Ritter, e ele está apaixonado por ela. Vê-a como a perfeição absoluta. O retrato que nos faz dela é tingido por esse encanto. Já se sabe que as pessoas não são muito objetivas quando descrevem o amado ou a amada.
E quanto à figura do intelectual. Acredita que o seu papel se perdeu, desprestigiou? E, perdoe-me voltar outra vez ao Houellebecq, mas entre os dois, enquanto ele parece pôr o dedo na ferida para aprofundá-la, o Mathias parece antes estar empenhado em mostrar que simplesmente não estamos a ver toda a dimensão do problema.
Como encara hoje os intelectuais, como figuras que instigam a sociedade a uma certa resposta agressiva, ou encontra mais exemplos de pessoas que procuram acalmar as tensões?
Normalmente o papel de um intelectual seria dar a entender, apaziguar, tentar afastar a violência, centrar-nos em coisas, precisamente, intelectuais. Promover o debate e não pôr lenha na fogueira. Mas o problema é saber qual seria o espaço para os intelectuais intervirem nos dias de hoje? Se é a imprensa, o que esta vai destacar são as frases mais agressivas, aquelas que servem de parangonas, coisas que possam provocar sensação, e nesse espaço funciona muito bem o Houellebecq porque é muito provocador, usa esse tipo de linguagem que funciona nos ecos pelas redes sociais. Mas afinal onde há espaço para a reflexão de um intelectual? Ser a luz no espaço visível resulta em quase nada num meio que é o do imediato, do rápido. É muito triste. Creio que o problema dos nossos dias é que para encontrar a palavra do intelectual, das pessoas que pensam realmente, é preciso procurá-la. Por exemplo, um grande intelectual europeu, Giorgio Agamben, acaba de publicar um livro que me parece muito interessante sobre o que significa a aventura, isto na história da humanidade e desde o Renascimento, como a aventura faz parte de nós. É um exemplo, há muitos mais. Para ler e ouvir Agamben é preciso estar num círculo de intelectuais, porque o espaço mediático e público está ocupado por gente que grita e não pensa. É uma desgraça.
Fala árabe, fala francês, castelhano, catalão… Que outras línguas fala?
Persa, inglês, alemão.
Dá por si a pensar de uma maneira diferente entre estas línguas, seduzido pelos ritmos ou pela musicalidade destas?
Para mim as línguas são uma riqueza e também uma paixão. Aquilo que mais tenho é curiosidade, e o que permitem os idiomas é entrar realmente num lugar, entender desde o interior o que está a passar-se ali. Eu não gosto de viajar. Gosto é de estar nos sítios, passar tempo, aprender o idioma, tentar viver como as pessoas que vivem no lugar, entender os seus problemas, as formas de se relacionarem, as suas paixões. E o idioma permite-nos desenvolver uma partilha. O que também é possível sem a língua, mas é mais difícil. É essa a minha relação com as línguas, são um utensílio para chegar a outra pessoa.
Com este grande movimento de populações que não acontecia na Europa desde a II Guerra Mundial, vê a chegada dos refugiados como uma oportunidade para as sociedades europeias, ou acha que, em vez de este ser um momento dominado pela empatia, pode é levar à rejeição, provocando a reemergência da extrema direita?
Penso que o movimento de refugiados pode ser benéfico e creio que nesse sentido os alemães estiveram bem. Merkel disse que vamos ser capazes de lidar com isto, acolher as pessoas. Esta gente traz o seu idioma, a sua cultura, os seus instrumentos musicais, com tudo aquilo que cultiva um ser humano. E isto é uma riqueza para a Europa. Mas também é verdade que fomenta o medo, o receio face ao outro, e faz crescer a base de apoio aos partidos de extrema direita. Mas é curioso que isso acontece sobretudo em zonas onde não chegaram os refugiados. Onde mais se vota no novo partido de extrema direita alemão não é em Berlim, onde chegaram centenas de milhares de refugiados, é nas pequenas localidades no sul da Alemanha e no leste.
Onde só imaginam o outro?
Claro, é um medo que se espalha mas que não tem nada a ver com a realidade. Creio que a solução passa, antes de mais, por conseguir a paz na Síria, porque julgo que a grande maioria dos refugiados sírios sonham voltar um dia ao seu país. Quanto à Europa, terá de colocar mais meios à disposição para acolher os refugiados. Ao mesmo tempo, é preciso repartir melhor os esforços. Em França quase não entraram refugiados, em Espanha também não…
Uma das estratégias que parece usar no livro para gerar empatia em relação ao Oriente passa pela admiração do lado místico, as lendas, as figuras míticas, “os djinns, os hinn, os nisnas, os hawatif, povos semi-humanos e animais fantásticos”. Em vez de demonizar o outro, criar este espírito de aventura pode predispor-nos a mostrar maior curiosidade e interesse?
Essa foi a imagem que se construiu no século XIX. A de um Oriente misterioso, erótico, um Oriente fascinante porque é distinto. Essa é a retórica de um certo orientalismo, da alteridade, o despertar a paixão por uma alteridade positiva. Acho que a solução não está nem numa abordagem nem na outra. Não devemos colocar o Oriente nesse espaço misterioso e da alteridade nem tampouco ter-lhe medo. É a mesma realidade que a nossa, o que há é que ver as diferenças e também querê-las. Apaixonar-se por estas diferenças, perceber como elas têm algo em si que nos permite amar-nos. Se fôssemos todos os mesmos, tudo era igual e indistinto, não havia o que amar. Penso que onde surge a criação, esse lado criativo, é precisamente do hiato entre eu e o outro. Entre o mesmo e o diferente.
Disse, numa outra entrevista, que este receio em relação ao outro tem servido a grupos terroristas como o Estado Islâmico (EI), que alimenta o monstro que fazemos deles. Ou seja, que reforça as ideias erradas que fazemos dos muçulmanos e que o grande objetivo é produzir uma cisão nas nossas sociedades.
Essa é a tática do EI. Com atentados na Europa procuram despertar um sentimento islamofóbico por parte dos europeus que não são muçulmanos, de forma a que essa rejeição leve mais combatentes para as fileiras dos grupos extremistas. Têm todo o interesse em motivar essa desagregação, de outro modo, desaparecem.
Há uma passagem no livro em que Franz Ritter fala no seu respeito pelos livros, diz que guarda tudo, mas tem tudo amontoado num tal caos e desordem que não encontra nada. E lembra-se de edições raras pelas quais pagou bom preço, imaginando que um dia essas mesmas edições acabem a ser vendidas a outras pessoas, mencionando-se apenas que o anterior dono morreu. Alguma vez deu por si a pensar o que poderá ser a posteridade?
Não temos grande poder para decidir o que ficará ou não para a memória do que fizemos. Não se sabe o que acontecerá à literatura em geral, nem muito menos aos meus livros. O mais provável é que desapareça quase tudo. Na verdade, não é um tema que me preocupe.
E preocupa-o que, um dia, o romance se torne um artefacto do passado? Imagina que um dia um grande romancista possa não ter leitores?
A literatura pode mudar e vai mudar, nas formas, nos suportes. Mas espero que continue a existir como um espaço privilegiado para a reflexão. A herança da literatura é um património decisivo da humanidade, que nos diz de onde vimos e pode ajudar-nos a pensar sobre para onde iremos. É um imenso corpo a que cada escritor acrescenta a sua pedra. É isso o que é importante que sobreviva, o corpo. Quanto à obra de cada um, logo se verá.
É um dos escritores europeus mais novos entre os mais celebrados, alguém a cuja obra é reconhecido um papel de grande reflexão cultural sobre o mundo em que vivemos, e o sucesso crítico é acompanhado pelo sucesso ao nível dos livros vendidos. Que papel é que a receção dos seus livros tem na sua vida enquanto escritor?
Não sei. Dá-me a liberdade de poder fazer o que quero. Ver que há pessoas a quem interessa aquilo que escrevo, que sente que os ajuda a desfrutar do ponto de vista estético, mas também a refletir sobre a vida. Isso dá-me mais liberdade para continuar a fazê-lo, escrever mais livros. Tenho novos projetos mas agora vou precisar de tempo. Porque o que quero fazer vai nesse sentido de encontrar novas formas de devolver ao mundo a sua complexidade. Aquilo que nos têm vendido nos meios de comunicação são coisas simplistas, branco ou preto, culturas em choque… Mas não, o mundo é mais complexo, e o que faz a literatura é devolver essa complexidade, encontrar uma forma em que caibam os vários ângulos. É isso o que o “êxito” – entre aspas – me permite fazer. Persistir. Ter mais liberdade para investigar mais, criar objetos mais diversos.