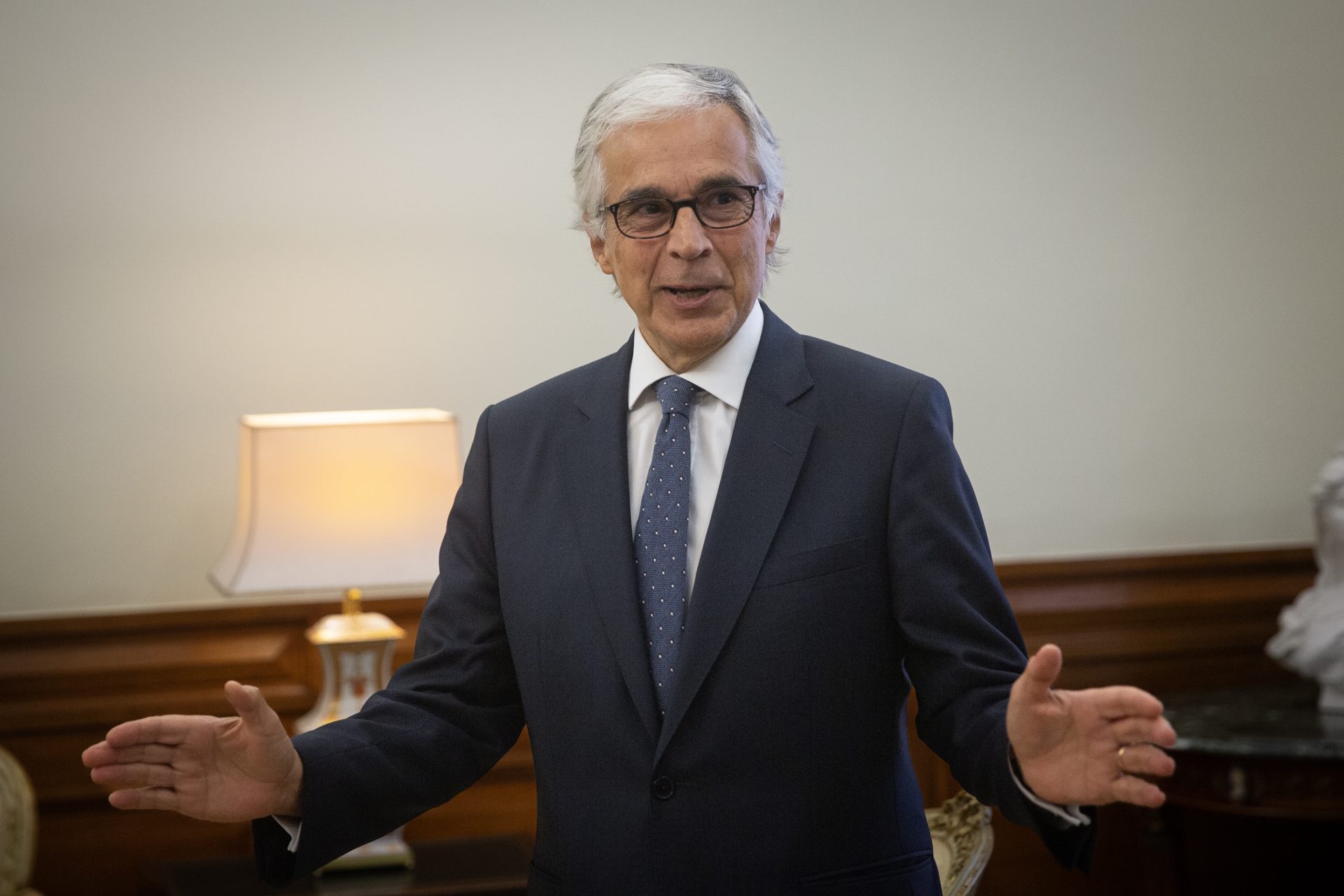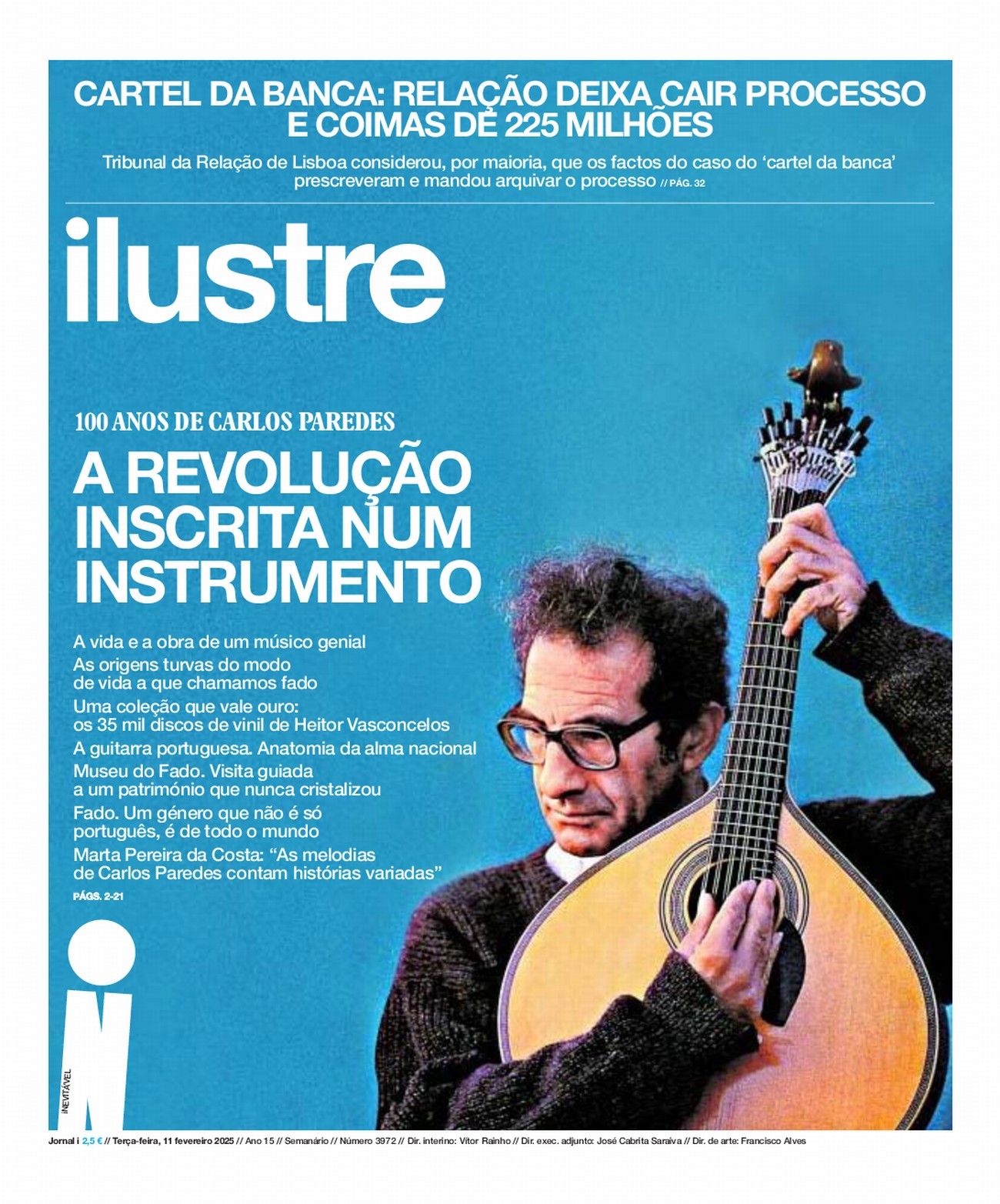Teresa Martins Marques dirigiu a organização do espólio de David Mourão-Ferreira (DMF) e publicou este ano um estudo monumental em torno da sua obra, um livro raro que parte da tese de doutoramento da autora mas que, na sua extensão, não redunda nos exercícios tântricos comuns nos trabalhos académicos, nem cai também no insosso relambório ou em arqueologias desnecessárias. Direta e clara, esta é uma abordagem que se obriga a um sério esforço de resgate de um grande poeta e ensaísta, ficcionista também, e que revela ainda a sua faceta de apaixonado dramaturgo. A partir de materiais tanto editados como inéditos, incluindo o “Diário Íntimo” da juventude, “Clave de Sol – Chave de Sombra: Memória e Inquietude em David Mourão-Ferreira” é um esforço exemplar para reclamar de novo aspetos diversos e mais interessantes de um escritor que, a certa altura, ficou demasiado conotado com um lirismo de índole erótica e hoje parece condenado a um eco demasiado parcial.
O que faz de DMF a grande figura do intelectual de letras que hoje, com a exceção de Eduardo Lourenço, parece ter-se extinguido no nosso meio cultural?
Há um conjunto de circunstâncias na figura de David Mourão-Ferreira que são realmente raras. Desde logo, a condição familiar. Quando ele nasce, em 24 de fevereiro de 1927, temos a revolução de fevereiro de 1927, que é a primeira revolução contra o Estado Novo. E nela o seu pai, que era secretário de Jaime Cortesão, o diretor da Biblioteca Nacional, é um dos atuantes. Imediatamente a seguir à revolução de 3 de fevereiro, o pai é demitido. A influência que isso tem dentro da sua orgânica familiar é enorme. Aquela criança começa cedo a ter uma politização relativamente à República. Entre os primeiros textos encontra-se a frase: “O David é um republicano.”
Quem são os amigos do pai?
Os grandes intelectuais do tempo. O próprio Jaime Cortesão é padrinho do irmão de David, que morreu em 1977 e se chamava Jaime Mourão-Ferreira. José Rodrigues Miguéis (JRM) é outro dos amigos. São companheiros da “Seara Nova”, daquela primeira geração. O primeiro número desta revista é de 15 de outubro de 1921. O pai de David é de 97, o Miguéis já é de 1901, portanto eram jovens seareiros que, à sombra de Raul Proença, do António Sérgio, naturalmente de Jaime Cortesão, também de Câmara Reis, fazem logo a sua formação cívica. Porque a “Seara Nova” foi um movimento cívico, intelectual e literário. O próprio professor dele. Ele teve uma escolaridade bastante errática, mas teve um professor particular que foi decisivo para a sua formação, Teófilo Júnior. Era um professor do ensino secundário que tinha sido expulso pelo seu papel revolucionário e que dava lições em casa. Mas não se pense que isto acontece porque a família abundava em dinheiro. Foi por solidariedade do pai do David, que procurou ajudar o amigo que tinha sido expulso confiando-lhe o filho como aluno. Estes movimentos de solidariedade política acabavam por ter grandes consequências. Naturalmente, a ida dele para o Colégio Moderno também teve um papel importante na sua formação. Este colégio tinha sido fundado em 1935, era uma instituição ainda muito jovem, e a figura do seu diretor, João Soares, o pai de Mário Soares, é decisiva para o David.
Há algum momento-chave?
Ele começa a brincar com umas peças de teatro, chega inclusivamente a fazer um jornal que se chama “Diário de Lisboa”, de que ele é “dicretor”. Enganou-se, em vez de “director” pôs “dicretor”. Se olharmos para o jornal, o que é que se lê? Tudo o que podíamos ver na época. Ele faz infantilmente uma espécie de reflexo do que é a vida adulta da época e à qual ele vai tendo acesso através da cultura da sua família. Voltando ao Colégio Moderno… Aos sete, oito anos começa a fazer essas pequenas peças, põe notas de autor, tudo a encenar o futuro escritor. E às tantas perde as peças. Uma delas chamava-se “As Pérolas Perdidas”, uma intriga sobre um colar e quem o teria roubado. Perdeu-as. Ele, que não fazia os trabalhos de casa – porque David não era o modelo do bom aluno –, perde as peças, e o contínuo que as encontra vai levá-las ao director. João Soares lê aquilo, manda chamá-lo ao gabinete e diz-lhe: “O menino vai continuar, porque vai fazer–se um grande escritor, isto está imensamente bem feito para a sua idade.” Esta frase teve uma importância extraordinária na formação da sua personalidade.
Como foi a entrada na vida académica?
O primeiro ano dele na Faculdade de Letras levou a um rotundo chumbo. Notas péssimas. Não está preparado para a instituição. Tem uma autoformação que lhe vem desde sempre e não reage bem às aulas, por exemplo do Vitorino Nemésio, de quem mais tarde vem a ser assistente. Há um momento até em que ele diz: “Como é possível este homem ser o autor de ‘Mau Tempo no Canal’?” No fim desse primeiro ano da faculdade quer desistir, quer-se empregar. É o pai que não o deixa. Outra coisa que achei engraçada é que, no dia em que faz a licenciatura, em que defende a tese, escreve: “Nunca imaginei que fosse capaz de acabar o curso.” Na última entrevista que dá volta a falar na importância do João Soares. “Foi ele a primeira pessoa que acreditou em mim, e que me incentivou e disse que eu iria ser escritor.” Veja que o que parece um incidente de infância o acompanhou a vida toda. Acabou catedrático porque era necessário dignificá–lo aos olhos da instituição.
Temos outros grandes poetas que tiveram dificuldade com as instituições portuguesas, como Jorge de Sena, Ruy Belo…
Fez bem em falar de Jorge de Sena. Mesmo assim, veja que o Jorge de Sena acaba dentro da instituição. Mal vai para o Brasil… E ele vinha de uma posição pior, porque a sua formação de base é como engenheiro. No caso do David, ele é licenciado em Românicas, com média de 17. E gostaria de lhe dizer uma coisa importante que geralmente as pessoas não sabem: ele ganhou o estímulo onde menos se pensava. Não foi nos grandes mestres, mas em duas jovens. A primeira chama-se Andrée Crabbé Rocha. Foi casada com Miguel Torga, e ainda tive o gosto de a ter como professora de Literatura Francesa. A segunda é a Maria de Lourdes Belchior, ele teve-a como professora de Literatura Portuguesa. Foi nessas duas cadeiras que foi o melhor aluno. Chega a dizer, quando consegue as melhores notas da turma com a Maria de Lourdes Belchior: “Pela primeira vez sou o melhor nalguma coisa.” Mas di-lo espantado.
E as influências a nível de leituras?
Ele começa a escrever poesia justamente por influência do Régio, dos “Poemas de Deus e do Diabo”, e também na prosa do Régio “O Príncipe com Orelhas de Burro”. É essa a influência que ele traz logo no princípio da sua carreira, e há um texto que também não é nada conhecido que mostra estas relações discipulares. É um conto impensável em DMF, sobre uma figura de um militante comunista chamado Jaime Rebelo, que cortou a língua quando estava na prisão para não denunciar os camaradas.
Em que medida o próprio DMF conduziu este seu trabalho?
Alguns dos trabalhos que fiz sobre o David ainda os discuti com ele em vida. Quando passei a estudar a obra dele como objeto de doutoramento, estava habituada a discutir com ele como meu orientador. Isto para lhe dizer que, neste livro, faço uma leitura daquelas quatro narrativas ou novelas, como ele as designou, cruzando-as, porque há personagens comuns que são principais na primeira e secundárias na segunda ou terceira. Então estudo o trânsito daquelas personagens das novelas umas para as outras e leio-as como um romance. Chamo-lhe mesmo “como um romance”. E se aquilo funciona individualizado como novela, funcionam também como romance.
DMF colaborou no “Jornal de Letras”, esteve à frente da “Colóquio Letras”, deu aulas na universidade, teve programas na televisão… A partir de certa altura é a figura mais aparente das letras no nosso país. Nos nossos dias, o que se passou com essas figuras que existiam no espaço universitário e tinham a capacidade de chegar à boca de cena na sociedade e ter algo a dizer às pessoas?
Gostava que se percebesse como isso aconteceu com o David. Foi por um conjunto de circunstâncias que fizeram dele isso. Entre 1954-57 ele é o crítico de poesia do “Diário Popular”. É a sua rampa de lançamento. Quando me pergunta como é que a universidade lá chegou, a resposta é que foi ao contrário, ele é que fez o caminho do mundo real para a universidade, nunca sendo propriamente do sistema, pois nunca chega a entregar a tese de doutoramento. Ele, com 23 anos, funda a “Távola Redonda”; depois, em 1954, recebe o primeiro prémio, o Delfim Guimarães, por “Tempestade de Verão”. E esse prémio chama a atenção para ele. Imediatamente o contratam para crítico literário de poesia. Em 1957 convidam-no para assistente da faculdade pelo prestígio que já traz. Ele vem do jornalismo, vem da sociedade civil, vai para a faculdade e está seis anos como assistente, mas o importante para ele era a continuação da publicação da sua obra. E publica alguns dos livros mais importantes no tempo em que devia estar a fazer a tese – que depois não entrega –e volta para a sociedade civil, para o organismo que é hoje é a SPA, como consultor literário. Quando vai para secretário de Estado da Cultura é justamente por ser um nome conhecido na sociedade civil. Mas pergunta-me sobre os programas de televisão. É uma oportunidade que lhe é dada porque é um nome conhecido, novamente porque se destaca na sociedade civil. Era um homem do mundo real e concreto da cultura. Ele começa a fazer programas na televisão logo que esta começa. Mas há entrevistas que lhe fazem na época, e quando lhe perguntam o que faz, ele diz que é assistente da Faculdade de Letras. Em 1969 dá-se uma espécie de boom do seu reconhecimento público, quando é contratado para fazer o programa “Imagens da Poesia Europeia”. E mantém-se em 135 programas até 1974. É nesse período que toda a gente fica a conhecê-lo. Pergunta-me porque é que isso aconteceu. Se calhar, porque não fazia carreira dentro da faculdade. Ele é posto fora em 1963 – há pessoas que julgam que foi por razões políticas, mas sejamos razoáveis, o contrato era por seis anos para fazer o doutoramento e ele não o fez, naturalmente teve de sair. Só volta em 1970. Se tivesse sido um universitário de carreira, iria ter obrigações rigorosas e nem teria tempo para fazer outras coisas. E essa é que é a falha: porque é que a instituição universitária é tão fechada.
Acha que as instituições de ensino não dão hoje condições…
Não dão, não. Ainda há bem pouco tempo falava com uma colega com larga publicação, que há sete anos é contratada para esta faculdade, e diz-me que no momento em que passou a dar aulas institucionalmente deixou de poder fazer esse trabalho que fazia. Além de serem muitos alunos, são muitas exigências burocráticas que nos afastam. Nos centros de investigação temos outra liberdade, escolho um determinado tema e determino o tempo que será necessário para o levar a cabo – como agora estou a preparar uma edição de 180 cartas do José Rodrigues Miguéis. Mas quando as pessoas têm obrigações docentes, não têm a mesma liberdade.
Disse-me que isto se tornava uma fábrica de produzir licenciados. Acredita que as universidades perderam o papel social que se lhes atribui?
Não depreenda daqui que a culpa é dos professores. Mas veja, por exemplo, o processo de Bolonha. De alguma maneira, é um abaixamento do nível. Um licenciado com três anos, que preparação é que pode ter? Houve um encurtamento muito grande na formação. Então quando comparo com a minha geração… Tive cinco anos de parte escolar, depois tive 500 horas de mestrado. É muito tempo de formação. Os regimes de agora encurtaram tudo e as pessoas têm de obedecer a normas internacionais e, portanto, não é propriamente a universidade portuguesa. Há todo um mecanismo global que tende a diminuir a formação. E, como sabe, as humanidades estão muito desacreditadas, desde logo porque há desemprego, não há saídas profissionais… Defendo que todos os cursos científicos deviam ter uma cadeira de Literatura e outra de História. Porque não há de um engenheiro ter estas formações na sua base?
Um tecnocrata dir-lhe-á que daí não advém nenhum ganho.
Mas engana-se. Aumentando a cultura literária, a cultura histórica, o convívio com os grandes mestres, desenvolve-nos a linguagem e abre-nos horizontes. Eu não seria quem sou se não tivesse lido o que li. Eu sou o que li. Por exemplo, a Academia Militar tem cadeiras de Literatura obrigatórias em todas as áreas de formação. Se até a tropa acha que os seus formados ganham com esta formação, porque não a hão de ter as outras universidades ?
Cavaco Silva não foi muito conhecido por ter uma cultura muito brilhante ao nível das humanidades…
Pelo contrário, não sabia quantos cantos têm “Os Lusíadas”. Já viu se ele tivesse tido uma cadeira de Literatura na faculdade? Com toda a certeza, não passava por essa vergonha. Acabou de me dar o melhor argumento.
Acredita que DMF teria lugar num governo de Passos Coelho ou António Costa?
De Passos Coelho não, nem pensar. Neste governo do PS não teria grandes dificuldades. Ele era dessa área política. Nunca teve posições de direita, situou-se consistentemente dentro do ideário da “Seara Nova”. Aliás, ele apoiou o Jorge Sampaio antes de morrer, em 1996.
Na poesia portuguesa parece que hoje a figura do DMF é secundaríssima em relação a uma Sophia de Mello Breyner, Eugénio de Andrade ou Mário Cesariny. Porque acha que isto aconteceu?
Se calhar, por causa da tal redução temática. Quando se põe um rótulo em alguém, diminui-se a curiosidade. É por isso que tento, por todos os meios, mostrar outras facetas deste autor. Mesmo na própria poesia, dei-me ao trabalho de fazer a contagem dos poemas de incidência erótica e são em menor número do que outros em que a linha de força é uma angústia, uma meditação sobre a morte, a precariedade da vida humana. Por exemplo, o poema “Equinócio” – que fiquei agora muito satisfeita por ver cantado pelo Camané –: perguntei muitas vezes às pessoas se se lembravam dele, e ninguém se lembrava. É um poema que está colocado, na obra poética, mesmo no seu centro. Se fizermos as contas do número de páginas da obra e dividirmos por dois, temos o “Equinócio” no meio, como um ângulo. Um poema em que ele diz, e estou a citar de cor: “Apetece-nos um ombro e dão-nos um sabre” [“Chega-se a este ponto/ em que apetece um ombro e nos pedem um sabre”, no original]. Isto é a negação de todo esse erotismo da obra.
Mesmo em relação a um poeta como o Jorge de Sena, há a sensação de que hoje é pouco lido. Acha que isso tem a ver com o facto de todas essas áreas técnicas e científicas virarem as costas à literatura?
Acho que houve isso na sociedade portuguesa. De repente, toda a gente vai tirar cursos científicos, crianças claramente dotadas para as humanidades e a quem tenho ouvido os pais dizerem que não os mandam para a Faculdade de Letras porque isso não lhes oferece um futuro. Acho que houve uma desvalorização. Hoje, o jornalismo também já não é visto como uma carreira. Há uma desvalorização do que é pensamento, do que é elucubração sobre as coisas.
Participa nas redes sociais? Tem alguma ideia do que se passa ali?
Tenho. Não é muito habitual ao nível das universidades ter-se Facebook. Tenho praticamente desde que este surgiu porque, lá está, quero essa ligação ao mundo. Em 2012 publiquei em 28 capítulos um romance no Facebook. Foi o primeiro romance português, e até agora que eu saiba o único, publicado na sua primeira versão no Facebook. Todos os sábados publicava um capítulo à maneira do folhetim no século xix. Não imagina o que aquilo teve de leitores. O título é “A Mulher que Venceu Don Juan”, que depois saiu como livro na Âncora. Teve imensa saída e está a ser traduzido em três línguas. Vai-me perguntar: “É uma coisa levezinha?” Não, não é tão leve assim. O tema é a violência doméstica. E entre várias coisas que acontecem, há uma jovem que está a fazer um doutoramento em Filosofia sobre o “Diário de um Sedutor”, do Kierkegaard. Mesmo isto, as pessoas gostaram de ler. E acredite que muita gente na minha página de Facebook nunca teria acesso a nada do pensamento do Kierkegaard se não fosse através do que eu ali estava a publicar em regime de folhetim.
E olhando à sua volta o que vê, ao nível dos comentários nas redes sociais? É um polo de divulgação de alguma cultura?
Claro que é. Talvez os meus amigos de Facebook sejam especiais. Tenho a Teolinda Gersão, o Mário de Carvalho, uma quantidade de poetas e ficcionistas de primeiro plano, mas mesmo outros que o não são têm a preocupação de colocar poemas nos seus murais. Os comentários da maior parte das pessoas podem não ser muito interessantes, lá está, porque não têm o hábito de comentar… Um comentário a um poema não é assim uma coisa tão fácil como isso. Mas o simples facto de se publicarem essas coisas é importante. Sobretudo num momento em que as páginas de cultura nos jornais estão a desaparecer.
Pelo contrário, DMF reagiu, não, evidentemente, contra a internet, mas acusava a sociedade de estar a caminhar para um estado de conformismo, uma incapacidade de intervir no plano social…
Não penso assim. Acho que, neste momento, temos intervenção de qualidade a muitos níveis. Quando olho para uma miúda como a Mariana Mortágua, por exemplo, fico agradavelmente surpreendida. A que concorreu para as presidenciais, a Marisa Matias, revelou uma preparação extraordinária. Encontro hoje jovens com uma preparação fora de série. A nível político, acho que essas camadas mais jovens dão cartas. O Ricardo Paes Mamede, um rapaz com quem andei ao colo, porque a mãe dele é minha amiga, basta olhar para o programa na RTP3 em que ele está com dois craques, com vasta obra publicada, e ele é de longe quem se destaca. Não se demite das suas responsabilidades. Não sou pessimista, acredito que temos uma elite de jovens, hoje, que não me deixam nada pessimista em relação ao futuro.