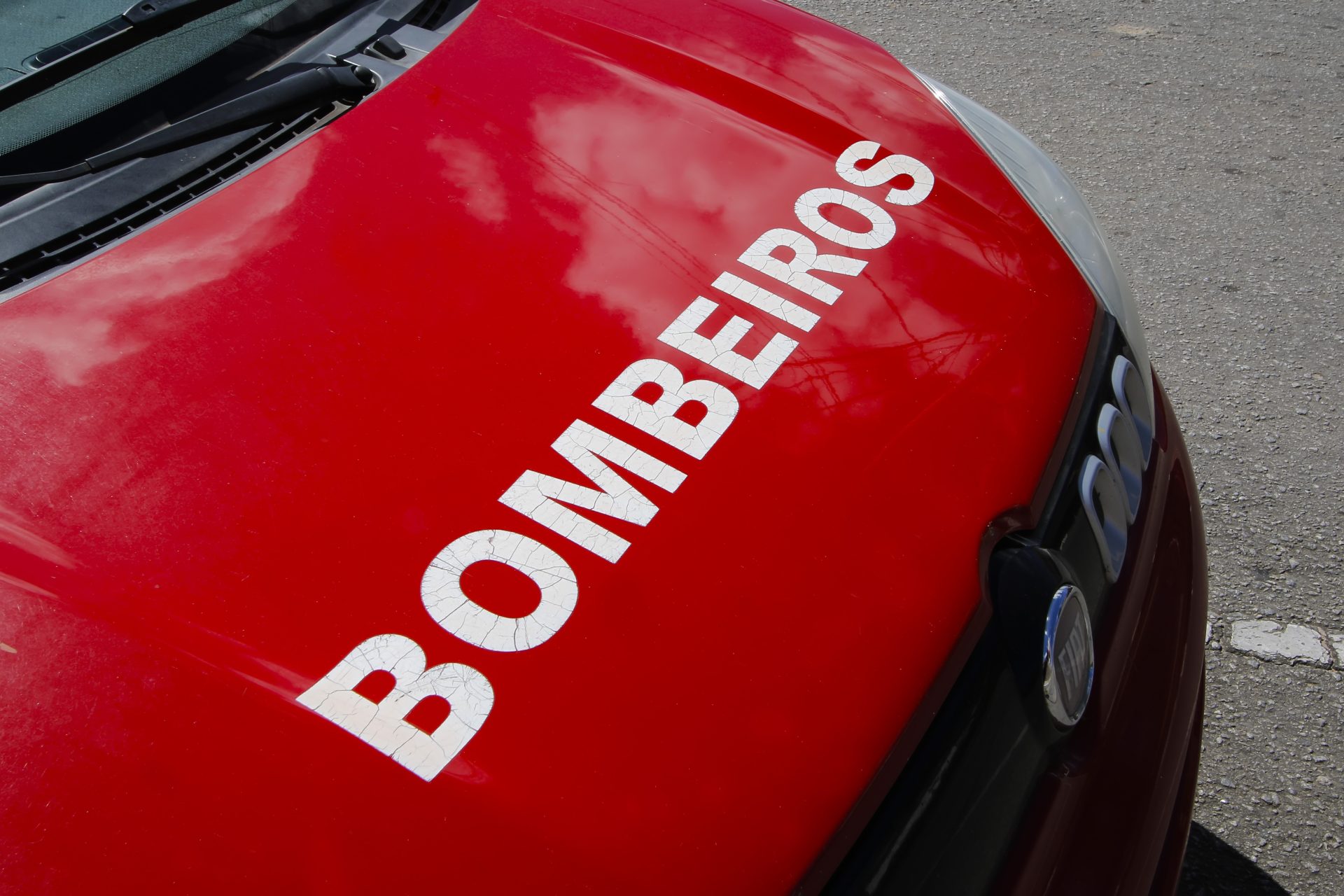Poeta, nas suas muitas declinações, Maria Teresa Horta era a imagem feminina da insubmissão e da fulguração criadora. Das escritoras da sua geração foi a que mais longe levou o desígnio e o programa de rasgar o caminho de uma literatura dita feminina. Sempre preferiu os caminhos do risco e do perigo à navegação prudente. O desenho fálico que muitos dos seus poemas exibem foi ele mesmo uma «haste de coragem».
Senhora de si mesma e das suas volições, ousou estreitar a carne e o verbo, numa afirmação corajosa do desejo feminino, num país onde a mão máscula e prepotente da censura persistia em empurrar as mulheres, em situação de vulnerabilidade constante, para o espaço dos limites moralmente desejáveis, fazer delas carochinhas prendadas, a sonhar com o véu e o bouquet, encasulá-las no lar (quantas vezes amargo), estacioná-las no curto trajecto que ia da copa à salinha de costura, entregar-lhe um dedal, apontar-lhe o dedo, pespegar-lhe às mãos uma esfregona e um pano do pó. Não por acaso, vassouras, baldes e outros símbolos da opressão feminina, comparecem numa famosa manifestação, no Parque Eduardo VII, ocorrida no início de 1975, organizada pelo Movimento de Libertação das Mulheres, fundado em maio do ano anterior por duas das Três Marias, Maria Teresa Horta e Maria Isabel Barreno, porque a revolução de Abril deveria ter mudado a vida e mudara apenas o regime. Os cartazes levantados pelas mulheres do MLM e rasgados, espezinhados por centenas de homens que acorreram e que esperavam encontrar o equivalente pornográfico do maio de 68, falavam alto e claro: «Democracia sim, falocracia não».
Ao ideal educativo feminino do regime fascista ousou Teresa Horta contrapor Educação Sentimental (1975, edição não autorizada), um título que não é apenas a paráfrase de Gustave Flaubert, mas a denúncia da condição da mulher-objecto, vergada ao peso da ditadura. Ao interdito respondeu a autora de As Mulheres de Abril (1976, curiosamente o ano em que foi abolido o direito do marido de abrir a correspondência da mulher) com o seu espírito livre e com um canto de ímpeto que percorre desinibidamente, na contramão da oficialidade literária, do cânone, que virou do avesso, o corpo do homem enquanto ser desejado: «Não contes do meu/ vestido/ que tiro pela cabeça// nem que corro os/ cortinados/ para uma sombra mais espessa// Deixa que feche o/ anel/ em redor do teu pescoço/ com as minhas longas/ pernas/ e a sombra do meu poço// Não contes do meu/ novelo/ nem da roca de fiar// nem o que faço/com eles/ a fim de te ouvir gritar». O seu canto desinibido não dispensava a nomeação dos lugares físicos onde se encena o desejo.
A escrita, acerca da qual disse nunca lhe ter dado desilusões, foi para Teresa Horta rebelião e abrigo, tratando cada palavra com o desvelo que se põe num corpo frágil. Assim o seu, mais e mais ressentido desde a perda, em 2019, do marido, o jornalista Luís de Barros, companheiro de uma vida, repentinamente a morrer-lhe nos braços.
O feminismo foi para Maria Teresa Horta triunfo e maldição. Desde a publicação do emblemático, quanto decisivo, Minha Senhora de Mim (1971), saído na colecção Cadernos de Poesia, da D. Quixote, e alvo de um auto de busca e apreensão pela PIDE, atirou-se-lhe às canelas para não mais largar: rasgou-lhe um percurso acidentado, difícil, arrancou-lhe a possibilidade de uma vida literária sem sobressaltos aviltantes, sem marginalizações, aprofundou feridas nunca totalmente cicatrizadas. Pelo acúmulo de doenças que desde pequena começou a somar, Teresa Horta incluía-se na categoria dos frágeis, mas carregou o peso da infâmia, suportou epítetos que mal lhe assentavam, ameaças e vigilâncias e até uma «tareia às mãos de fascistas» («É para aprenderes a não seres como és!»). Mas também houve rasuras, omissões, friezas e silêncios críticos. Ao posicionamento activista centrado na causa das mulheres fica a dever a autora o reconhecimento vagaroso, sempre com bolsas de resistência, as quais, agora que partiu, parecem romper-se, a confirmar a corrente noção sentimental de que Portugal apenas aprecia os seus nomes maiores depois da morte.
Morreu na Lisboa onde sempre viveu, na última terça-feira de manhã, aos 87 anos. Ainda que alcançasse os cem, e como fez notar, não haveria de faltar «gente surda e endurecida» a dizer que queimou soutiens no Parque Eduardo VII, como que a forçar fragmentos de uma existência contrafactual. Falso, pimenta na língua: «Ninguém queimou soutiens». A fogueira não existiu, só o medo se reacendeu diante de uma turba masculina em cujas iras estas mulheres, em luta pela paridade, tinham incorrido.
E há também equívocos que persistem e convém desfazer: a vasta obra poética que construiu não é a expressão de um feminismo absoluto. Nunca a autora abdicou da perseguir a palavra, a rima, o alinho da sílaba, corporizando a audácia desafiadora dos limites.
Maria Teresa Horta nunca arredou pé das suas convicções e começou cedo a construir um currículo de ‘nãos’: não ao ideal de virtude passiva fixado nos códigos morais do contexto da sua infância e juventude, riscados com «desobediência selvagem», o que levou o pai – teria ela uns 15 anos – a atirar-lhe: «Já me bastou a tua mãe!». Não ao discurso raso de um quotidiano de rotina baça, entorpecido, amesquinhado, sem projecto. Não à força da inércia. Não às pressões políticas mascaradas de simpáticos convites. Não às amarras da tradição lírica trovadoresca e cortês que fez do sexo masculino o soberano, e que invertidamente Teresa revisita. Não à prescrição poética alheia. Não à inclusão na classe do «escritor sofredor»: a escrita sempre foi para esta poeta paixão criadora, prazer intenso, avassalador. Não à entrega do Prémio D. Dinis, da Fundação Casa de Mateus, pela mão do então primeiro-ministro Pedro Passos Coelho. Não – e esta uma recusa plena – ao Prémio Oceanos, que em 2017 a fez quarta vencedora ex aequo com o escritor brasileiro Bernardo Carvalho: «Caros senhores, sois livres de dar a aplicação que vos aprouver aos 15 mil reais (quatro mil euros) que me caberiam, não fosse esta inultrapassável questão que se me coloca e dá pelo nome de dignidade».
Nascida em Lisboa, a 20 de Maio de 1937, no seio de uma família de linhagem aristocrática, foi jornalista de profissão durante várias décadas, tendo entrevistado todos os grandes escritores estrangeiros, ajudou a mudar o rosto das redacções, e foi chefe de redação da revista Mulheres, a convite do Partido Comunista Português, do qual foi militante entre 1975 e 1989. Esta publicação permitiu-lhe entrevistar figuras como Maria de Lourdes Pintassilgo, Marguerite Yourcenar, Marguerite Duras ou Maria Bethânia.
O seu nome começa por ser associado ao movimento Poesia 61, que procurava revitalizar a palavra como unidade central do texto poético e no âmbito do qual publica Tatuagens. Mas o escândalo mediático, sem precedentes, desencadeado pela publicação, em 1971, das Novas Cartas Portuguesas, que assinou com Maria Velho da Costa e Maria Isabel Barreno – acusadas, por esta publicação, de «atentado ao pudor e pornografia» – veio convertê-la em figura máxima do feminismo e abalar-lhe a vida. Não é ao acaso que Teresa horta foi recentemente eleita, pela BBC, uma das ‘100 mulheres mais influentes e inspiradoras de todo o mundo’.
O percurso feminista não o idealizou, «mas era por ele que foi preciso lutar para mudar a mentalidade da sociedade. Não foi fácil, pois além de lutar contra o marialvismo que persiste entre os portugueses, foi preciso consciencializar as mulheres para a necessidade da mudança de cultura social». Só depois, disse, «é que se pôde iniciar o caminho pela diferença entre o homem e mulher. Esse sim, o verdadeiro feminismo». Quando, em 1960, publica o seu primeiro livro, Espelho Inicial, Maria Teresa Horta não poderia supor que haveria de se tornar ícone do internacionalismo feminista e converter-se no rosto mais visível do feminismo em Portugal. Tão-pouco que a etiqueta, redutora, se lhe colaria com força teimosa, tantas vezes indiferente à sua concepção de feminismo. Pese embora a firmeza das suas posições, a sua obstinada luta em nome das mulheres, não apenas não se reconhecia na imagem estereotipada da «feminista militante» como se afastava das formas mais radicalizadas do feminismo actual. Da «uberização do sexo», para usar o título de uma crónica de António Guerreiro, e suas variações, sempre guardou distância máxima.
A sua experiência da linguagem é indissociável da exaltação do corpo, tanto na obra poética que prossegue, na década de 60, com títulos como Jardim de Inverno (1966), Cronista não é Recado (1967), como na ficção que pratica desde Ambas as Mãos sobre o Corpo (1970). A este volume seguiram-se romances como Ema (1984, distinguido com o Prémio Ficção Revista Mulheres), A Paixão Segundo Constança H. (1994), um título que ecoa Clarice Lispector cuja obra Teresa Horta tanto admirava, ou As Luzes de Leonor. A marquesa de Alorna, uma sedutora de anjos, poetas e heróis (2011). Este último é um monumental romance, feito a golpes de talento e de trabalho, centrado na figura ímpar de D. Leonor de Almeida Portugal, 4.ª marquesa de Alorna, sua penta-avó, e ao qual foi atribuído, em 2011, o Prémio D. Dinis, e que conta com 8 edições. Na obra que construiu com coerência, densidade e assombro, a estimular plurais e polissémicas hipóteses de leitura, poesia e prosa não celebraram entre si nenhum tratado de Tordesilhas: vivem lado a lado, numa fluência convivial que o romance As Luzes de Leonor apenas veio confirmar, estendendo, por interposta mulher, o catálogo de recusas que vestem bem aos tempos que vivemos: «Não gosto, não aceito, não consinto: o torpe, o mal à minha beira. A hipocrisia, a intriga e o acinte. O medíocre, o parco, o muito que escasseia».
A sua mão de escritora desobediente, nunca alheada de um sentido de responsabilidade social e de uma noção de compromisso com o colectivo (não redutoramente político, mas encarado também de um ponto de vista ético e intelectual), assinou também as crónicas que o título Quotidiano Instável veio em 2019 reunir.
Publicada integralmente no volume Poesia Reunida (2009, Edições D. Quixote), edição que lhe valeu o Prémio Máxima Vida Literária, a sua obra poética prosseguiu com mais títulos: Poemas para Leonor (2012), o belíssimo A Dama e o Unicórnio, ilustrado com reproduções da série de tapeçarias La Dame à la Licorne, do Museu de Cluny, em França, nas quais se inspira. Destaque para Anunciações (2016), centrado num romance de maravilhosa heresia.
Maria Teresa Horta tracejou um programa de vida que encontrou na sua obra a justa forma de expressar-se. Curiosamente, o primeiro galardão literário importante com que foi distinguida, o Prémio D. Dinis, chegou quando tinha já dobrado os 70 anos. O justo prémio veio, desta vez, por mão amiga, diligente, talentosa, no tempo certo: A Desobediente, Biografia de Maria Teresa Horta, com a chancela da Contraponto. Assina-a Patrícia Reis, a quem ficamos a dever este texto.