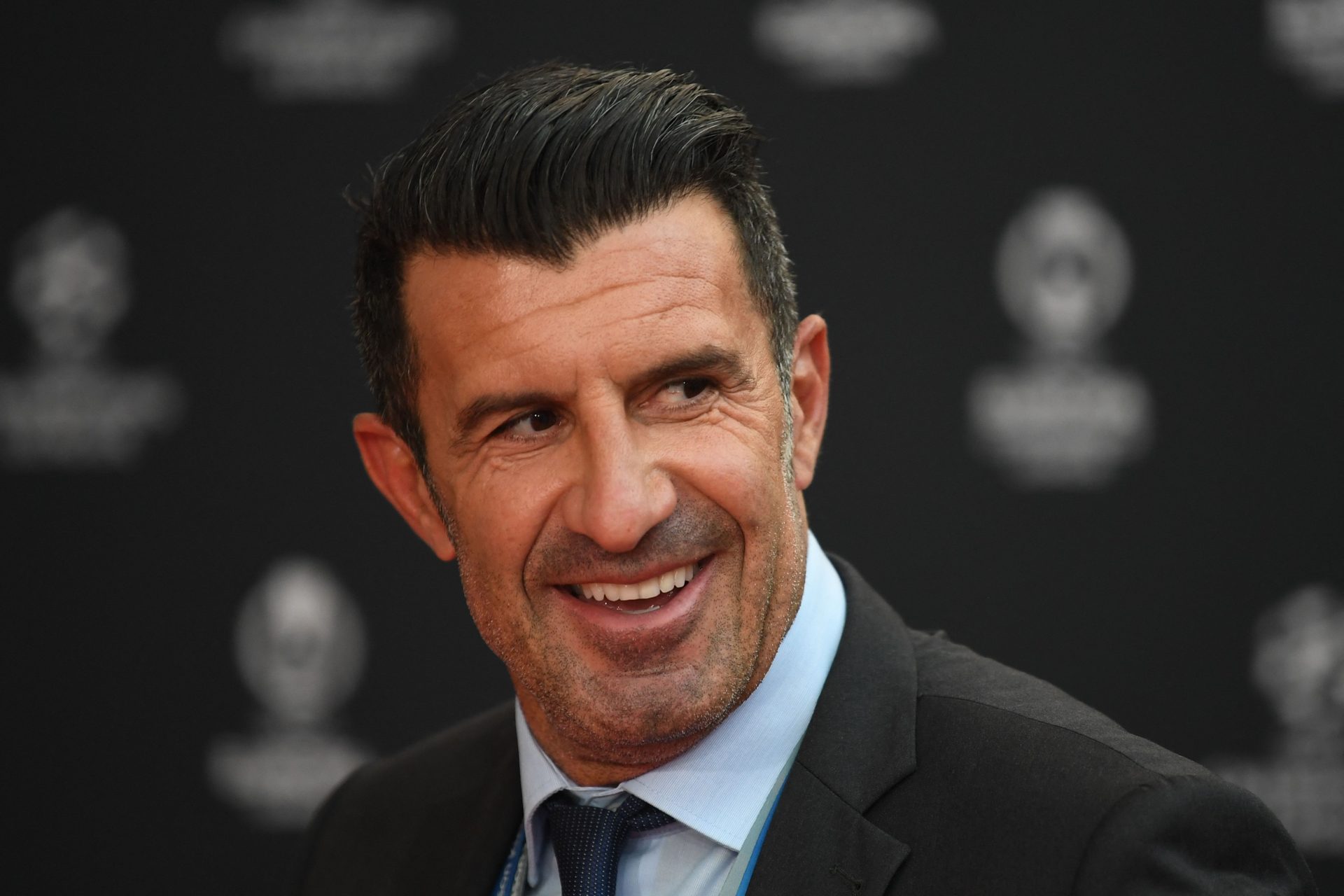Nos anos pós troika e, sobretudo durante o governo da Geringonça, o país viu nascer uma série de novos sindicatos, com práticas incomuns desde os anos 80 do século XX. Derrotados os operários da Lisnave, impôs-se, nessa altura, um modelo de concertação social, a que podemos chamar neocorporativo. Os interesses de trabalhadores e patrões não seriam antagónicos, a sociedade, portanto, um “corpo”, em que o Estado seria um árbitro, equidistante entre as partes.
No essencial, nos países europeus, este “modelo” – que, de certa maneira, vigorava na Alemanha há várias décadas e foi imposto em Inglaterra depois da derrota dos mineiros – trouxe, com a aceitação de muitas direcções sindicais, a deslocalização para a Ásia de partes da produção, entrada dos novos contingentes de jovens trabalhadores no mercado de trabalho como massa de precários, o fim do direito ao trabalho (substituído cada vez mais pelos subsídios sociais no desemprego de longa duração e programas assistencialistas), privatizações dos serviços públicos e substituição dos serviços sociais públicos (“Estado social”) por programas assistenciais. O grande contingente de precários, ciclicamente desempregados, pressionava os salários reais à baixa, congelando-os por 30 anos. Nos países de empresários/classes dirigentes dependentes como Portugal, os lucros cresceram, de novo, a partir da extracção violenta de mais-valia absoluta, na forma de aumento sistemático do horário de trabalho e recurso a horas extraordinárias baratas. As patologias da sobrecarga, conhecidas como desgaste ou burnout, tornaram-se o padrão.
A táctica de “conservar direitos para os mais velhos, deixando os mais novos precários” – evitando uma revolta social imediata contra as contra-reformas, foi realizada com a cumplicidade passiva de muitos sindicatos, que tinham 60 a 70% de filiação – e que acabaram por perder sistematicamente força. Na verdade, ao contrário do que se veicula, não é a precariedade por si só que leva à perda de força dos sindicatos. Estes nasceram, afinal, no século XIX, eram inicialmente ilegais e todos os trabalhadores eram precários. O que leva à perda de filiados é a ausência de resultados conseguidos em lutas vencedoras. A concertação social servia para dividir e apaziguar os trabalhadores e, por isso, acabou, sem surpresa na degradação dos salários (os direitos não são outorgados, são conquistados).
Mas como há sempre limites ao que os trabalhadores aguentam, a maré volta, sem surpresa, a encher: é a contestação social que vivemos.
Depois de 2008, quando as horas extraordinárias são cortadas para metade, a vida tornou-se um fardo. Se juntarmos agora a inflação, tornou-se impossível.
Foi nesse quadro que, alguns deles inspirados nas lutas dos estivadores, cujo sindicato foi o único que nunca “deu descanso” à troika – e cujos membros foram sumariamente despedidos no 1º dia do estado da emergência da pandemia imposto pelo Governo da Geringonça e pelo PR – , vários sindicatos nasceram, nessa década, sobretudo de rupturas com a UGT e a CGTP, casos do SIAP (energia), SNMMP (matérias perigosas), de saídas da UGT (pessoal de voo e cabine, então), novos sindicatos de enfermagem, o STOP (de ruptura, em parte, com a Fenprof), o STASA (contra o trabalho compulsório ao Domingo na AutoEuropa), o dos call centre, também novos sindicatos no Metro, funcionários públicos, entre outros.
Todos eles nascem com um programa de direitos laborais e sociais. Reclamam direito ao descanso, medidas contra o burnout, o desgaste e o assédio moral; pagamento de horas extraordinárias de acordo com valores anteriores à troika; fixação de precários; na sua maioria têm dirigentes de esquerda e, inspirados nos estivadores, adoptam fundos de greve; acções, ainda que tímidas, de solidariedade; mais democracia interna (recurso frequente a plenários); extensão da sindicalização a associados de diferentes profissões, como agora o STOP ou antes o SEAL. Não sendo apolíticos, definem-se pelo “apartidarismo” – em contestação ao que consideram ser a ligação umbilical da CGTP ao PCP e da UGT ao PS.
O futuro, creio, será para ganhar terreno o “novo sindicalismo”, ou seja, o regresso aos sindicatos de combate, cada vez mais associando-se, nacional e internacionalmente – seja pela criação de novos sindicatos, seja pelo surgimento de novas direcções em sindicatos existentes. Com as políticas laborais, por todo o lado, viradas para o ataque aos direitos mínimos, o sindicalismo combativo é tão certo como o vento.
A contestação social não existe por “falta de comunicação” dos Governos. Existe porque a vida se degradou a níveis intoleráveis.
Professora FCSH-UNL