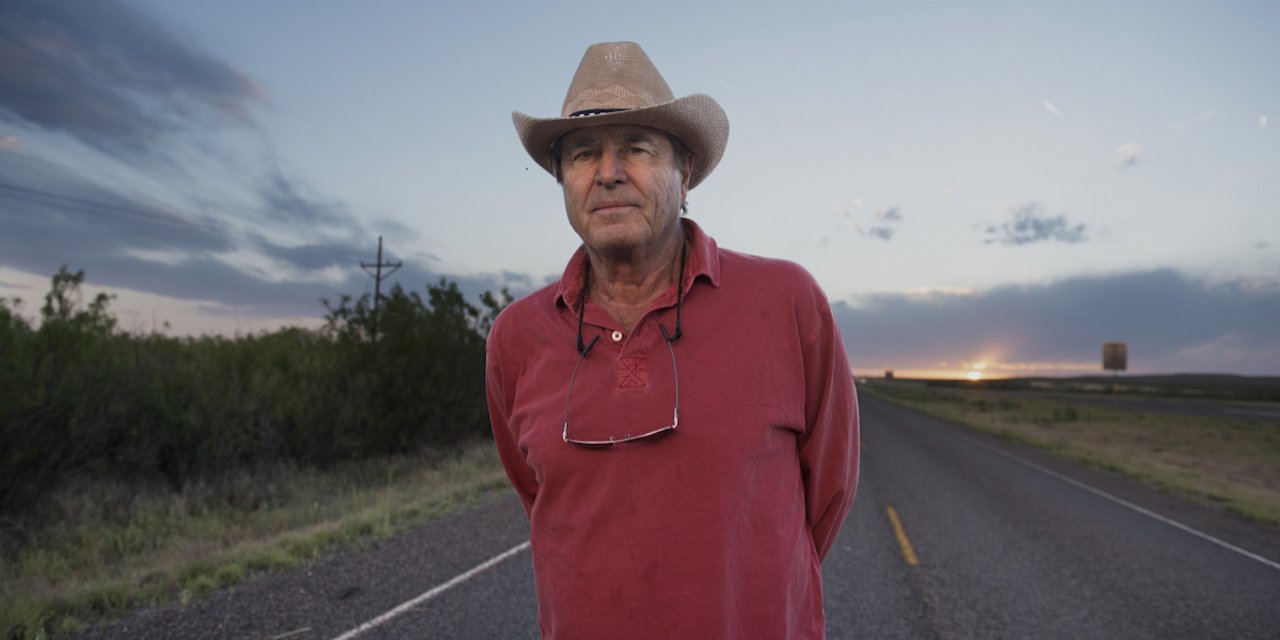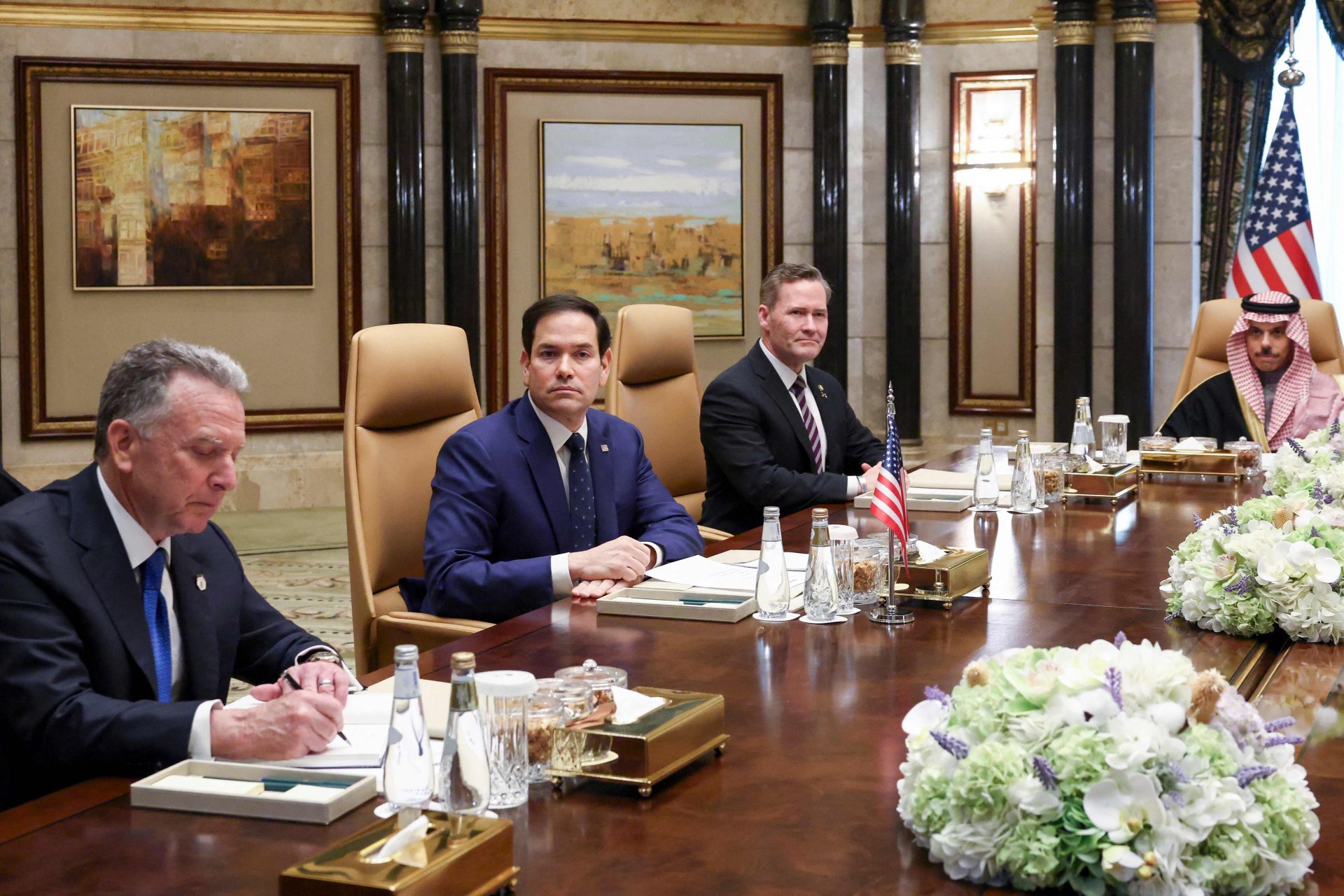Já vai longe o tempo em que este era um país que, talvez até pelo asco no seu interior, o que mais produzia era uns estuporados viajantes, uma raça imensamente inquieta, que preferia lançar-se ao mar, entrar por ele adentro como quem se atira à jugular da aventura, talvez mais com ganas de se livrar disto, ou sabendo como um português só obtém provas da sua grandeza se for medido lá por fora, voltando para ajustar contas com tantos quantos quiseram fazer dele um ser menor, ou, pelo menos, igual a tantos. Nos últimos séculos e depois da fúria que se foi fazer um império depois do mar, os portugueses deram em ir lá fora só nesse regime sem grandes cansaços nem trabalheiras ou terrores que ultrapassar, junto com as vagas turísticas, a abismar-se da coragem de gerações que faziam a fama desse país pequeno que parecia o rim com que a Europa lançava golpes a um mundo por descobrir. Mas esse espanto era já um não acreditar, um suspirar para dentro do próprio sangue a ver se este se elevava de novo endemoninhado. Afinal, parecia ter-se esgotado a fome de mundo, e até os cronistas ganharam uma espécie de vertigens do horizonte, de tal modo que depois de os grandes poetas de outrora terem andado dispersos pelas províncias mais rudes ou infames do além, trazendo-nos obras parturejadas com a dor e a desventura e não contadas silabicamente pelos dedos, chegando a este futuro sem desejo de fazer estremecer novos lugares e voltar com relatos vibrantes e quase difíceis de acreditar, temos só esses literatos agarrados aos livrinhos como à prancha do náufrago. Ora, assim, dos nautas de outros tempos, fomo-nos reservando, sem querer ficar longe de um colo ou de um fogão, de tal modo que, para lembrar um título de Vitorino Nemésio, hoje viagens só ao pé da porta. Mesmo Camilo Castelo Branco, que não falhou o encontro com diversíssimas peripécias e uma boa dose de dramas ou actos trágicos, viajava pouco e sem gosto, e numa carta confessava isto: “Eu tenho a mais inveterada negação para viajar. Já tive em diferentes épocas por muitas vezes a mala aviada para ir a França, e, chegada a hora da partida, sentava-me à banca a ler um Guia de Viajantes, e satisfazia a minha curiosidade.”
O que há mais entre os da escrita nos nossos dias são esses que se fazem caixeiros-viajantes das suas delambidas obrinhas, os que andam sempre de um lado para o outro, calcorreando o país e indo amiúde à estranja, raramente para se fazerem valer de uma desorientação reveladora, dessa estranheza que, de súbito, se enche de sentido para nós, limitando-se a vagar passeando as suas presunções, que geralmente até saem reforçadas. De algum modo, estamos cada vez mais confinados, hesitantes, amofinados, representando as ansiedades e pavores daquele ser que resume a sua epopeia a uma angústia estéril, “na véspera de não partir nunca”, considerando, de qualquer modo que, no estado actual das coisas, viajar não poderia resultar noutra coisa senão em perder países, fragilizar essa tentação da imensidade e o sopro que conspira na imaginação um atlas que vê o mundo como algo de tenebrosamente vasto, cheio de dobras capazes de nos revolucionar o espírito.
É certo que tudo o que nos sinaliza o progresso e avanço da mancha humana sobre o planeta aponta para um abate sistemático dessa força de estranheza capaz de nos engolir e perder. Como refere o teórico do urbanismo Thierry Paquot: “O ‘ali’ parece cada vez menos procurado, a favor de um ‘aqui’ ilimitado, invariavelmente presente, tranquilizador, contínuo, globalizado (…) Sem ali já não existe utopia (as ‘utopias’, segundo Thomas More, alimentam-se das narrativas de viagens de navegadores, missionários, aventureiros, comerciantes, etc.), sem ali a viagem empobrece, dado que este se encontra ligada à nossa condição humana, a qual, em última análise, não se cumpre a não ser através da descoberta do outro em nós próprios.”
Viajar não se resume, portanto, a uma mera deslocação para se abismar perante uma outra formulação da realidade, e há um poema de Jacques Izoard que nos fala dessa tensão íntima e confronto que procura aquele que obriga as suas percepções a sentirem um abalo, obrigando o seu espírito a grandes desconfortos no sentido de se debater com algo que lhe era, até então, exterior e incompreensível, avaliando também desse modo o verdadeiro alcance da sua imaginação: “Quem sonha com e contra tudo/ detém maravilhas e vertigens./ E no casulo do corpo/ eis os marinheiros a dormir,/ as aves do alto mar,/ os viajantes mortos de cansaço./ Baques. Balanços. Passadiços./ Ali está uma criança a desenhar/ um coração de vidro/ num sol de água clara".
Para voltar ao início, é bom lembrar como a própria literatura nasce desse esforço para abranger distâncias, experiências, realidades diante daqueles que ficaram para trás, relatar impressões e assombros, abranger num fôlego descritivo essas dilatações dos horizontes, esse rombo que se sofreu no casco das expectativas, uma vez que toda a verdadeira viagem acaba por transformar-se num perpétuo naufrágio, arrastando-nos para o fundo, afectando a escala interior, de tal modo que uma verdadeira aventura surge como algo que se nos impõe, e, de tanto nos castigar, ainda quando nos encanta, faz ansiar pelo regresso a casa. Como vinca Claudio Magris, “a grande pergunta que um Ulisses sente dirigirem-lhe e dirige a si próprio é se ele, atravessando o mundo e a existência, pode voltar a casa, a Ítaca, ou seja, a si mesmo, confirmado – não obstante tantas perturbadoras peripécias – na sua identidade e confirmando o seu sentido da vida ou se será forçado a ir sempre adiante e sempre mais longe, descobrindo a impossibilidade de formar a sua pessoa e de encontrar um significado nas coisas, perdendo-se pelo caminho e tornando-se continuamente um outro.”
Sobre a nossa época impende a denúncia de que tudo nela se esvazia de sentido até não passar de um simulacro, de tal modo que a própria sensação do o tempo, em vez de organizar a existência, torna-se ameaçadora, constrange-nos face à crescente abstracção e irrealidade da vida, devorada cada vez mais pelos mecanismos da informação colectiva e transformada na sua própria na sua própria encenação. Se “o turista faz parte da paisagem da nossa civilização, como o peregrino na Idade Média” (V.S. Pritchett), e se o turismo se impôs como o maior fenómeno social, antropológico e económico do nosso tempo, não faltam aqueles que têm denunciado como, para lá dos sinais de irrequietude, do desenho cada vez mais complexo de deslocações e trocas permanentes, a um nível mais profundo, parece haver aqui uma imobilidade mortuária, no sentido em que cada indivíduo se sente acorrentado à cópia de si próprio. O tempo fere-nos, morde, e a vida torna-se uma flecha desferida para o nada. A ânsia de visitar o desconhecido esconde muitas vezes uma nostalgia da fuga e uma impaciência de metamorfoses perante a um mundo que, enquanto nos promete a conquista de todos os horizontes, se dobra sobre si mesmo como um mapa, fazendo-nos sentir como prisioneiros de um “aqui” que se estende por toda a parte, que coloniza tudo. Vemos desenhar-se um projecto de acessibilidade e uma parábola de perfeição que esteriliza a vida, e são esses seres muitas vezes sem casa, esses autores que, desenganados e irónicos, mais defendem a condição dos vagabundos e dos seres errantes, defendem sobretudo uma margem extrema de individualidade irredutível, que não se deixa aplanar completamente pela serialização. Por outro lado, e mesmo se manifestam algum desprezo pelas massas, não estão entre esses snobs que, “empilhados uns contra os outros no autocarro a transbordar ou na auto-estrada engarrafada, se consideram, cada um no seu canto, habitantes de solidões sublimes ou de salões requintados e desprezam, cada um deles uma vez mais, o vizinho, sem saberem que são retribuídos na mesma moeda, ou que então lhe piscam o olho, para lhe darem a entender que, naquela barafunda, só há aquelas duas almas eleitas e cheias de espírito, forçadas a partilhar o espaço com o rebanho” (Magris).
Marguerite Yourcenar, que foi também ela uma grande viajante, embora entendendo que o seu privilégio apenas lhe permitia dar uma volta pela prisão que era o mundo, anteviu essa espécie de contaminação e contágio de um regime de consumo que parece ter como destino final transformar o mundo inteiro numa imensa superfície indistinta, onde em todo o lado estamos encerrados no mesmo: “Meios de comunicação maciços ao serviço de interesses mais ou menos camuflados farão correr sobre sobre o mundo, com visões e barulhos quiméricos, um ópio do povo mais insidioso do que qualquer religião jamais foi acusada de espalhar. Uma falsa abundância, dissimulando uma crescente erosão dos recursos, dispensará alimentos cada vez mais adulterados e divertimentos cada vez mais gregários, panem et circenses de sociedades que se julgam livres. A velocidade, ao anular as distâncias, anulará também as diferenças entre os lugares, por toda a parte arrastando os peregrinos do prazer para os mesmos sons e as mesmas luzes factícios, os mesmos monumentos tão ameaçados nos nossos dias como os elefantes e as baleias, um parthenon que se desfaz e pensam pôr debaixo de vidro, uma catedral de Estrasburgo corroída, uma Giralda sob um céu que já não é tão azul, uma Veneza apodrecida pelos resíduos químicos.”
À medida que o fenómeno do turismo adquire cada vez maior expressão, ao ponto de se tornar até sufocante, cresce também o número daqueles que aderem a uma visão elitista de condenação ideológica do turista. Mas o etnólogo e sociólogo Jean-Didier Urbain insiste que, se separarmos os aspectos da exploração desta actividade da viagem, esta é antes de mais uma actividade na origem da qual se encontra um sujeito que se inspirou em todas as formas de viagem antigas, novas ou raras, rituais ou de aventura, vagabundas ou nómadas, de descoberta ou de retiro solitário, reflectidas ou apaixonadas… “Sejam essas formas históricas ou de ficção, factos, mitos ou romance: de Ulisses a Robinson, ou de Colombo a Bougainville; de Casanova a Bruce Chatwin a Lévi-Strauss, o turista utiliza os modelos de acordo com os seus sonhos e desejos. Este sujeito recorre a esse vasto reservatório de papéis, de narrativas e de actividades não turísticas para construir as suas viagens, o seu universo e as suas práticas.” Apesar deste entendimento benévolo, não é difícil, ao mesmo tempo, reconhecer que, ainda que inspirados num entendimento muitas vezes romântico, os turistas não são grandes viajantes, e a verdade é que até se deslocam a contragosto, forçando o desconsolo dos seus equívocos, das suas expectativas absurdas, tornando-se esse “intruso pueril”, que não cessa de se multiplicar e que não é apenas um filho tardio na história da viagem, mas representa muitas vezes a caricatura mais leviana dos antigos peregrinos. Assim, um escritor como Paul Bowles fazia questão de não ser qualificado como turista, de modo semelhante ao protagonista de O Céu Que nos Protege, Port, que é descrito desta forma logo no início do romance: “Não se considerava um turista; era, sim, um viajante. A diferença reside em parte no tempo, explicava. Enquanto o turista geralmente está com pressa de voltar a casa ao fim de algumas semanas ou meses, o viajante, não pertencendo mais a um lugar do que a outro, move-se lentamente, ao longo de anos, de um lugar da Terra para outro.”
Na transformação que se operou, o que desapareceu foi a antiga e nobre arte da errância e do saber perder-se, de que falou Walter Benjamin. O turista surge, assim, cada vez mais como esse “descendente desocupado da viagem, herdeiro ocioso e supranumerário”, e quanto mais se esforça para imitar o aventureiro, o etnólogo, o missionário, o peregrino ou o indígena – Indiana Jones, Philéas Fogg, Tintin ou o “habitante local”, mais se encerra no regime da cópia destituída dos elementos distintivos e originais, tornando-se “o exemplo da alienação consumista, do terror predador e do conformismo mercantil, que faz do pitoresco o fantasma da autenticidade (…) do estereótipo a falsificação do conhecimento, do mimetismo a fraude da descoberta, da aventura a farsa da rotina, do fetichismo a contrafacção do sagrado, do guia turístico o espectro da Biblioteca de Babel”, como se lê no editorial do terceiro número da revista Electra, cujo dossier central é dedicado precisamente ao turismo. Entende-se cada vez mais a forma como este fenómeno de massas exprime, no entender de alguns, a má consciência da nossa sociedade, e assim, o turista é tido como um sujeito de medíocre reputação, “um viajante duvidoso”, de acordo com a expressão de Flaubert. E porquê? No entender do etnólogo Marc Augé, não passa de um consumidor que se toma por um viajante. Num dos contributos capitais para o dossier da revista, Urbain, começa por traçar esse perfil humilhado do turista, para depois fazer um esforço no sentido de recuperar a sua importância enquanto elemento central de uma antropologia da mobilidade, insistindo que “não deve ser julgado e maltratado sob o simples pretexto de que a sua viagem é considerada inútil, nem deve, por vingança, ser estigmatizado como um concentrado de vícios e defeitos congénitos de todo o tipo, e condenado a expiar as faltas e delitos dos seus antepassados”. Nesta heroica defesa em que Urbain não deixa de aparecer como o advogado do diabo, provando mais a sua virtude para salvar o impulso do homem que sonha com viagens, mas que, muitas vezes, incorre nos erros inescapáveis de uma indústria que procura explorar as suas ânsias e que, no final de contas, permite que se reduza o seu papel ao de um mero “avatar mercantil indesejável do viajante, unicamente tolerado pelo seu interesse económico, e pobre em modelos e em valores”. Nessa caricatura tantas vezes grotesca e que os próprios turistas não hesitam em reforçar, seja cedendo a ela, seja tentando furtar-se a essa condição que se tornou em grande medida inescapável sempre que alguém busca evadir-se às suas rotinas e ao trajecto regular no espaço que habita, damos pelo turista como o membro falhado da família dos viajantes: “Um bastardo embaraçoso. Uma forma degenerada da viagem, sem origem precisa nem função definida, sem verdadeira história, a não ser a de uma corrupção que degrada as virtudes cardeais dos primogénitos, membros de uma aristocracia da Viagem da qual o turista se encontra excluído”, diz-nos Urbain.
O problema, segundo este sociólogo, resulta de “uma espécie de estupidez original que consiste em querermos encontrar no mundo um lugar que não existe, ou em, interrompendo a viagem, pararmos e tentarmos fundir-nos”. Cada vez mais se entende que a predação que tem ocorrido de forma muitas vezes inadvertida se dá pela forma como “o olhar do turista é o olhar sobre o ‘outro’ enquanto atracção, fantasia, performance, simulacro” (John Urry), à medida que noções que fundam a própria ideia do que constitui a vida num grande centro urbano (civitas ou polis) se perdem na azáfama ruidosa e colorida da cidade convertida em parque temático. No fundo, a partir do momento em que é “definida como intrusão num mundo estranho, a viagem falha, entre outros aspectos, em termos do encontro com o Outro”, diz-nos Urbain. Ora, o viajante e escritor Paul Theroux vinca que “o que faz sentido em viajar é chegar sozinho, como um espectro, a um país estranho ao cair da noite, não à capital feericamente iluminada, mas pela porta das traseiras”. Seja como for, não se pode negar que a urgência que compele um número crescente de pessoas a sentirem esse apelo e também ansiedade de descobrir o que resta ainda de “autêntico” no nosso mundo, a busca de experiências de valorização das culturais locais e ameaçadas, a reivindicação das identidades perdidas, são um diagnóstico e reagem à forma como a própria pressão do turismo, os processos de gentrificação e especulação imobiliária têm tido efeitos evidentes e violentos sobre as populações, operando “uma radical alteração da forma da cidade e da forma de vida debaixo do neoliberalismo”, como aponta o arquitecto Pedro Levi Bismarck. No seu entender, a metrópole neoliberal corresponde à afirmação de um paradigma de poder biopolítico que substitui a política pela economia enquanto modo de governação, fazendo do território um vasto campo logístico e financeiro, constituindo uma forma de vida reduzida à sua dimensão económica. “As cidades já não são, apenas, mercadorias vendidas no mercado global dos best european destinations, elas têm de ser ‘marcas’, isto é, empresas. Assim, “a vida biológica e social dos indivíduos está integrada e, mais, está directamente indexada, como nunca antes, aos circuitos globais do capital e aos seus ritmos intempestivos”. Por isso, nunca como hoje se pode afirmar que o tempo é dinheiro, e só o dinheiro pode comprar tempo livre, o que significa o poder de fazer escolhas e de circular livremente numa cidade onde se assiste ao “apagamento de toda e qualquer noção de comum”, em que os espaços públicos estão cada vez mais afectos ao regime das transacções, de tal modo que, mesmo ficando quietos, somos cada vez mais importunados, assistindo a esse efeito de erosão e despossessão. “Na patologia da viagem”, escreve Theroux, muitos viajantes que parecem perseguir um objectivo são conduzidos pelos demónios, tentando fugir, muitas vezes sem êxito, a algum estado de espírito.’” Em grande medida, o aspecto em que o turista mais se inscreve na grande tradição dos viajantes é neste reconhecimento da destituição que nos leva a buscar um lugar de estranheza que nos possa arrancar à superfície higienizada, a esse ciclo de simulacros e ao luxo, uma vez que, como sublinha Theroux, “o luxo é inimigo da observação, um prazer dispendioso que induz uma sensação tão boa que não reparamos em nada. O luxo estraga-nos e infantiliza-nos e impede-nos de conhecer o mundo. É esse o seu propósito, a razão pela qual os cruzeiros de luxo e os grandes hotéis estão cheios de imbecis que, quando exprimem uma opinião, parecem ser doutro planeta.” É por esta razão que o turista, mesmo se viaja com fins hedonistas, não deixa de buscar prazeres associados a uma “erotização do mundo” (Urbain). E é por isso que este ém em grande medida, um fenómeno crucial e que, acima de tudo, parece evocar a experiência de tudo o que falta. É um desencontro essencial num mundo que se volta cada vez mais para um passado mítico, buscando esses restos de um esplendor longínquo e dissipado. Em certa medida, boa parte do turismo sinaliza, hoje, a tentativa de recuperar uma certa nitidez, uma sintaxe humana capaz de hierarquizar o pó caótico de um mundo que se transforma a um ritmo imparável, desfasado já de qualquer promessa de utopia.