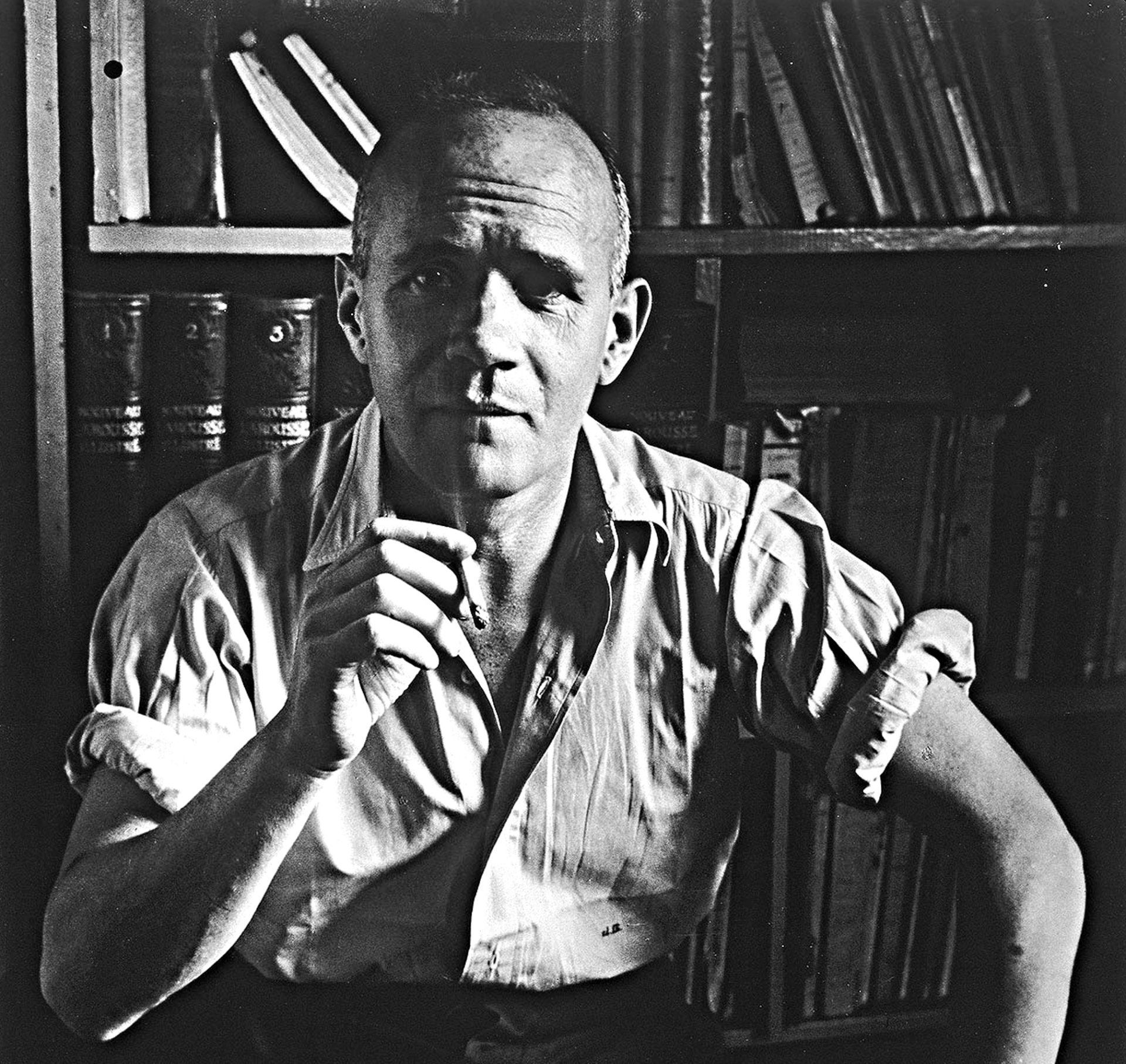Começa a ser fastidioso ver invocada a «crise da Justiça» sempre que alguém, com mais ou menos informação e formação política e económica, disserta sobre os problemas do país.
Em rigor, ninguém sabe em que ela se diferencia da crise generalizada de eficiência dos serviços públicos: saúde, educação, segurança social etc.
Lidas as estatísticas europeias, a nossa Justiça nem sequer está muito mal colocada entre as demais: melhor na área criminal (descontados os megaprocessos), suficiente na área cível, mazinha no que se refere à área comercial, administrativa e fiscal.
E, todavia, ressoa um queixume permanente contra a Justiça que, se se pode entender do lado das partes vencidas nos diferendos judiciais, menos compreensível é quando ele provém de profissionais do foro ou de académicos e especialistas no seu estudo, pois, em demasiados casos, são eles os responsáveis pela ineficiência da Justiça.
Não pretendo com isto dizer que a Justiça está bem e que não está ao nosso alcance melhorá-la muito.
Claro que é possível fazê-lo e, para isso, não nos faltam nem os meios nem os conhecimentos.
O problema começa, porém, quando, ao pensar mudar algo, se esbarra num conjunto de oposições resultantes dos mais variados setores e interesses.
Independentemente da origem e razão dessas oposições, coexiste também, na nossa sociedade, uma predisposição geral para a desconfiança na autoridade e instituições públicas que, tendo justificações políticas e culturais várias que a foram agravando ao longo dos tempos, inibem os legisladores mais afoitos de assumirem planos mais profundos de reforma.
Qualquer mexida é, assim, sempre entendida como potencialmente perigosa para os direitos dos cidadãos e, em particular, para os interesses de muitos dos profissionais do foro, ou dos que, com eles, colaboram na academia.
Por tal motivo, quando uma proposta de mudança é enunciada, logo alguns dos porta-vozes desses interesses – que aparentemente não têm ideologia, nem orientação política definida – se manifestam pública e violentamente contra ela.
É verdade que muitas das ideias mais complexas e rebuscadas de mudança nascem – ou morrem – na cabeça de detentores de interesses demasiados óbvios.
Afinal, o Direito é um bem valioso e transacionável como qualquer outro.
No nosso país – ao contrário de outros de inspiração anglo-saxónica – o Direito é ensaiado e produzido na Universidade e a sua doutrina é citada, como justificação de decisões mal ou pouco assumidas pela jurisprudência, e explorada e manipulada, demasiadas vezes abusivamente, pelos representantes forenses das partes envolvidas nos diferendos judiciais.
Pode parecer estranho, mas antes, entre nós – e ainda agora nos países de tradição anglo-saxónica – era doutrina académica que citava e comentava a jurisprudência e não o contrário.
As sentenças e os articulados das partes raramente – para não dizer nunca – citavam doutrina.
Descobri, recentemente, um livro espanhol denominado «El Jurista y el reto de un derecho comprensible para todos».
Há cerca de vinte anos, lera já uma outra obra da iniciativa de uma associação de magistrados belgas e da Universidade de S. Louis em Bruxelas, que abordava o mesmo tema.
São obras interessantes e que merecem ser lidas, pois podem inspirar caminhos mais fáceis para a simplificação e rapidez da Justiça.
Na realidade, muita da incompreensão e demora da Justiça atual reside na complexidade do Direito que se vai produzindo, tanto por parte do legislador, como pela jurisprudência e a doutrina que lhe dão vida prática.
Muita dessa complexidade resulta, reconheça-se, da sofisticação que os negócios da vida corrente vão adquirindo na nossa sociedade.
Tal sofisticação afasta o cidadão comum e a sua vida simples da complicada e inextrincável rede de interesses que dominam a sociedade atual.
Muita outra, porém, resulta da necessidade de apartar, por via de uma fundamentação exaustiva, toda e qualquer suspeita que paire sobre o sentido das decisões judiciais.
Antes de aparecerem os computadores, e quando as sentenças e muitas petições e acusações eram escritas à mão, os juristas tendiam a economizar as palavras e a reduzir o tamanho das peças processuais.
Os textos eram, por isso, mais claros e apreensíveis, inclusive para os que eram alheios às profissões forenses.
A Justiça estava, apesar de tudo, mais próxima dos cidadãos.
Com a introdução dos computadores, e o fácil e tentador «copy/paste» daí resultante, as peças processuais tenderam logo a estender-se e a aumentar para níveis que multiplicam inúmeras vezes o tempo da sua leitura e análise crítica por parte dos magistrados e advogados.
Mas não é só no tamanho e na indefinição argumentativa das peças processuais que reside a hoje maior complexidade de apreensão e decifração dos processos.
Devido a uma concorrência académica incontrolável, a doutrina encarrega-se de produzir teorias e mais teorias sobre o que as leis querem realmente dizer e sobre que valores jurídicos querem os artigos dos novos diplomas identificar e realmente proteger.
Em alguns casos, analisando tais ensaios académicos, o intérprete e o profissional do foro deparam-se com leituras de difícil coincidência, quando não com interpretações totalmente opostas.
O mercado dos doutoramentos e mestrados tem nisso, porventura, alguma influência, mais não seja pela inflação de teses sempre «originais» que produz.
Talvez que, assim sendo, antes de o poder político procurar investir sempre mais e mais dinheiro na Justiça – o que não se nega ser, ainda assim, necessário – fosse bom começar por estudar como, a partir das leis e da prática judiciária existente, se pode simplificar e tornar mais rapidamente compreensível o Direito e a Justiça.