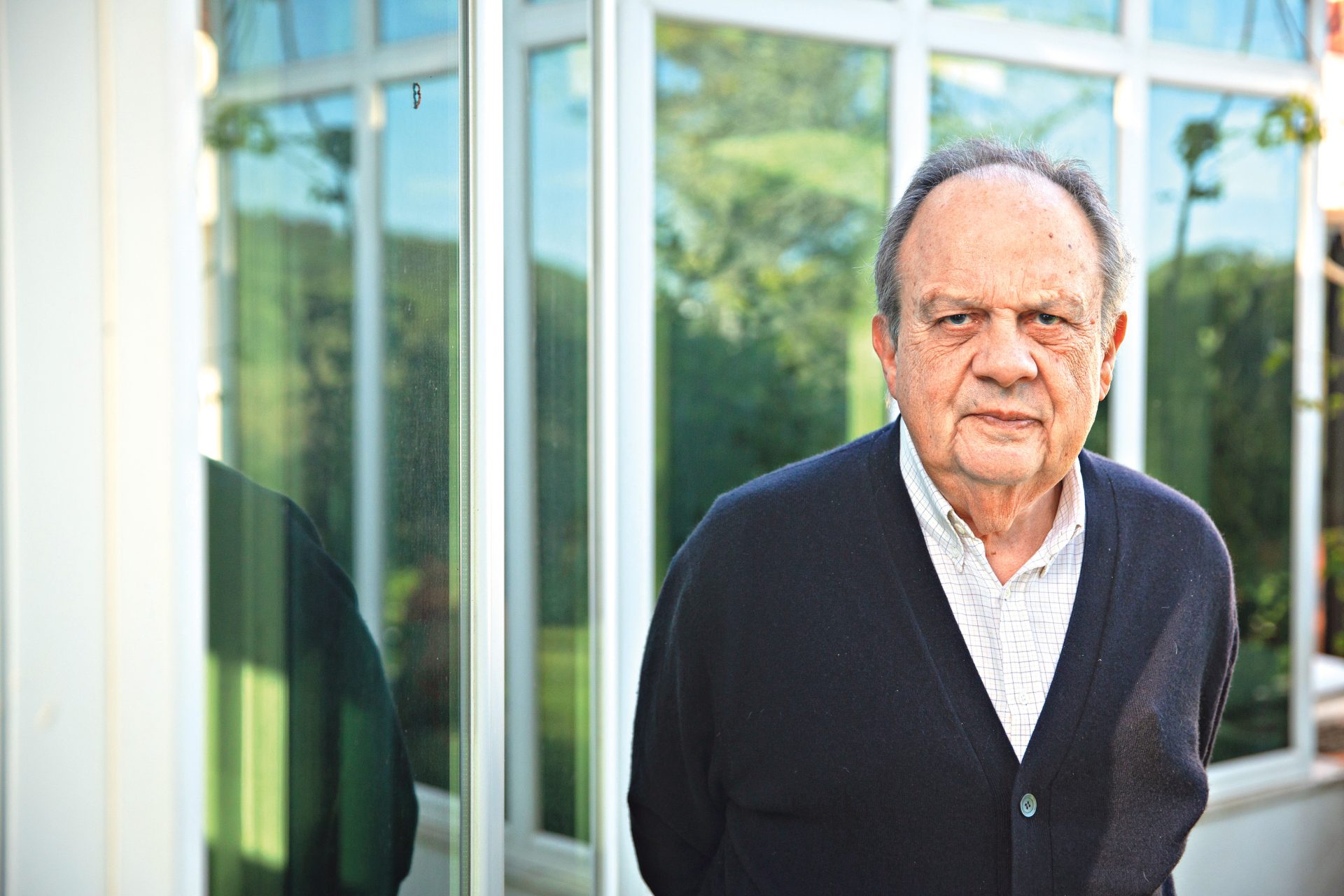Já há uns anos largos, em Adis Abeba, num tasco sem história nos arredores do aeroporto, eu e o José Manuel Mesquita, o Beto Tambaclal e o Afonso Alegre procurávamos umas cervejas com que matar a sede da madrugada e descobrimos uma nova noção do tempo. Íamos partir para o trilho do norte, num jipe alugado, carro à moda de um Daktari pobre.
Na busca de Lalibela, em Amhara, o lugar das igrejas monolíticas escavadas na terra, esculpidas em rocha viva, émula de Jerusalém. Fazíamos contas às horas, subtraindo meridianos, estávamos convencidos de que seria por volta da meia noite local, mas o teimoso relógio grande da parede do casinhoto mal amanhado, de terra batida, marcava as quatro.
Depois recordei-me que os etíopes contam as horas de outra forma, único país do mundo que divide o dia em períodos de doze horas, diurnas e noturnas, começando pelo momento em que o sol se levanta ou que o sol se põe. Eram quatro horas, portanto, o relógio tinha razão na sua filosofia de minúsculas rodas dentadas: quatro horas depois do sol se pôr. Simplesmente assim, tal como lá os anos têm treze meses e o ano novo é comemorado a 11 de setembro. As estradas são más, o jipe desfazia-se a cada lomba, rangia nos ferros a cada curva, desfez a suspensão da roda traseira do lado esquerdo, mesmo debaixo do assento em que eu procurava adormecer um pouco, por um triz não mergulhou num barranco, ficámos a pé, noite cada vez mais negra, sem local onde aportarmos.
Não era longe de Ataya, o dia nasceu connosco à procura de um mecânico, as mulheres montando as suas bancas de venda de frutas e de inhame na beira dos caminhos, um pó que se evolava da terra batida, e os olhos mais misteriosos que já vi, pintados de negro em volta da sua forma oval e da sua cor de veludo escuro com um ligeiro brilho laranja-tigre. Sim, os olhos não têm horas. Só tempo. Passando lentamente pelas íris…