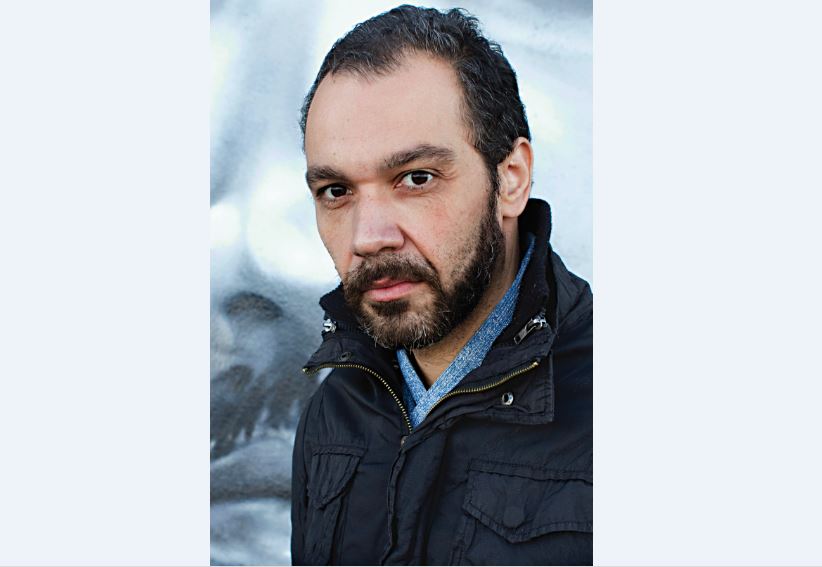“Um velho casarão apodrece no coração de uma aldeia rasgada ao meio por uma estrada onde os carros já não param. Durante a ditadura, o edifício foi o mais progressista seminário católico português. António, vizinho da frente, cresceu e formou família à sua sombra. Desde a saída dos padres dominicanos, é o seu mais fiel caseiro — guardião dos fantasmas, memórias e corredores despidos de vida. Há anos abandonado, o antigo epicentro da terra poderá estar agora na mira de uma nova vida”. É esta a sinopse do filme O Casarão, da autoria do realizador Filipe Araújo, sobre o Seminário Dominicano de Aldeia Nova que, em tempos, foi um polo social e cultural em Ourém (distrito de Santarém) e, hoje em dia, está a definhar. “Não raras vezes, para me adormecer, o meu pai efabulava a partir de histórias reais do seu passado. De todas, a mais enigmática, tinha como cenário um território povoado por miúdos e homens de branco. Uma enorme casa sem eletricidade nem águas correntes, entalada num vale rodeado de florestas. Foi depois da sua morte que uma inexplicável pulsão me conduziu até esse lugar”, escreveu o antigo jornalista que, no dia 18 de novembro, verá O Casarão, a sua última obra, a estrear nas salas de cinema. “Depois de fazer o filme, sinto que não fui eu que lhe ofereci esta prenda, mas sim ele a mim”, diz sobre o pai, antigo seminarista já falecido a quem o filme é dedicado.
Iniciou o seu percurso profissional no jornalismo.
Sim, foi a minha primeira vida. Tirei o curso de Comunicação Social e, na altura, consegui, no final do primeiro ano, um estágio no já extinto jornal A Capital. Acabei por ficar, estava na editoria dos Espetáculos, e mantive-me como colaborador do jornal ao longo do curso. Depois passei também pelo Canal de Notícias de Lisboa (CNL), ainda antes de terminar a licenciatura, e, quando fui de Erasmus para Roma, aproveitei e trabalhei também como correspondente. Cheguei a escrever para a Visão, o Jornal de Letras, etc. Estagiei na Rai (Radiotelevisione Italiana) porque fui aluno de um professor que era vice-diretor do canal e deu-me essa possibilidade. Voltei para Portugal, estavam a aparecer os portais online, fui parar ao Clix, onde se estava a montar uma estrutura editorial, e estive lá ainda uns anos e foi uma fase muito gira e viva da minha vida. No fundo, foi o momento em que senti quase que me pagavam para fazer aquilo de que gostava. Éramos o site oficial dos festivais de verão e estávamos em todo o lado. Tornei-me freelancer e trabalhei um bocadinho por toda a imprensa. Aos poucos, porque acho que sempre tive o bichinho da câmara…
Foi por esse motivo que tirou o mestrado em Realização de Cinema Documental?
Exato. Aliás, durante o confinamento, estive a digitalizar cassetes antigas, de quando era miúdo, e, de facto, já havia essa obsessão pela imagem e a vontade de estar atrás da lente. Aconteceu, na prática, em 2005, com uma brincadeira. Foram duas pequenas histórias: uma feita numa das Ilhas Frísias, na Holanda, em que explorei a vida de um professor da escola primária que tinha como hobbie apanhar garrafas que chegavam com mensagens, através da corrente, e já tinha uma coleção com mais de 200. Trabalhava muito com um dos meus atuais sócios e ele estava a fazer uma história para a Volta ao Mundo. Acompanhei-o, fui apresentado ao tal senhor e acabei por fazer uma curta documental. E, na mesma viagem, fomos à Irlanda. Havia uma história muito curiosa de uma aldeia, basicamente, com um pub apenas em que, para dinamizarem aquilo, como ficava ao lado da fábrica da Pfizer, que produzia o composto ativo para o viagra, inventaram o mito de que os fumos andavam a transformar os homens e que havia um baby boom por causa disso. Entretanto, fui fazer um documentário às Ilhas Selvagens e foi durante o projeto de montagem que fui tirar o mestrado. Fui para Madrid e acabou por ser uma ponte para o primeiro podcast da imprensa portuguesa – o Madrid Expresso – em que narrávamos histórias insólitas e minudências da capital europeia mais próxima de Lisboa. Fazíamos um episódio de três minutos semanalmente e estava a estudar. A partir de 2006, passei para o universo do cinema e do audiovisual mais concretamente. Montei a Bla Bla Bla Media com sócios, a produtora que serviu de chapéu para os projetos todos que têm nascido e está a crescer de forma muito orgânica. É muito pessoal e feliz.
Sente que a sua experiência enquanto jornalista lhe dá um olhar diferente no cinema? Podia ter uma perspetiva somente baseada na estética, por exemplo.
O jornalismo serviu de base e está presente em muitos momentos do meu trabalho mas, mais do que nunca, na fase inicial, ou seja, a da pesquisa. É muito importante para tentar chegar a uma realidade mais rapidamente, deu-me ferramentas para trabalhá-la. O tipo de documentário que faço tem uma dimensão mais autoral, mas a grande diferença, relativamente ao jornalismo, é o tempo. Estes projetos são processos imersivos que pedem muita reflexão. Neste meu caso, tem uma vertente subjetiva que acaba por ser mais forte do que a objetividade. E não tenho também a necessidade ou obrigação tão presente de estar focado na forma como transmito uma realidade porque posso fazê-lo de inúmeras maneiras. E, aqui, tenho esse filtro subjetivo que também existe no jornalismo. A questão é que posso trabalhá-lo mais e não escondê-lo.
Em relação à imersão, esta também está associada ao jornalismo. Acha que não se tem tempo para mergulhar tão profundamente numa história neste ofício quanto no cinema?
Cada vez tem-se menos tempo. Quando o jornal transitou para o online, a lógica de tudo mudou-se. Tem de se estar sempre num fluxo de produção de notícias e, naturalmente, há menos tempo para pensar. Não somos super-homens nem super-mulheres. Sinto que apanhei o jornalismo numa fase ainda áurea e que o deixei, curiosamente, na altura em que começou a deteriorar-se por falta de investimento nas redações que, agora, sobrevivem mais com base nos estagiários. Lembro-me de que, quando trabalhei como freelancer, pagavam x por uma reportagem e, quando terminei, no espaço de dois-três anos, ofereciam metade do valor. Foi uma deterioração muito rápida com tudo aquilo que traz de mau. Ninguém vai para o documentário ou para o cinema fazer dinheiro, é impossível, portanto, a forma como somos gratificados acaba por ser a generosidade das pessoas. Por meio das reações e dos mundos em que nos dão autorização para entrar. Por exemplo, com o meu protagonista d’O Casarão, o António, o caseiro, criei uma relação quase familiar. Praticamente, tornei-me parte da família durante o tempo de produção. Foi muito giro e espontâneo. Neste momento, o filho dele está a estudar em Lisboa e vive na casa da minha mãe. São coisas improváveis. É esse lado também bonito do documentário.
Como é que se cruzou com a história do Seminário Dominicano de Aldeia Nova?
O meu pai foi seminarista. A razão de eu ter nascido em Lisboa, numa casa com livros, foi precisamente porque ele passou por esse seminário. Nasceu no seio de uma família de Braga, tinha cinco irmãos e, na segunda metade do século XX, a única forma de aceder ao ensino para lá da quarta classe era, no fundo, enveredar pela via militar ou pela da Igreja. Não havia grandes alternativas, pois Portugal era um país muito pobre. O meu pai foi a aposta da família para ser padre, seguir a vocação. E foi parar a este sítio que, de certa forma, tinha muito pouco a ver com os seminários aos quais estamos habituados. Que, de resto, foram essenciais para criar uma enorme massa cultural e intelectual e serviram como elevador social durante décadas. Aliás, os escritores mais conceituados passaram por estas instituições. A particularidade deste seminário, e isso descubro mais tarde e pelas histórias do meu pai, é que tinha uma abertura ao mundo e um progressismo que não encaixava nos padrões dos seminários da época. E eu achei muito curiosa esta ideia de um grupo tão heterogéneo de miúdos que vai parar a um sítio que, ainda para mais, tem uma aparência… Enfim, poderia ser uma prisão. [risos] De qualquer modo, tinham 10 anos, eram postos numa realidade completamente diferente daquela a que estavam habituados, saíram do conforto da casa dos pais e entraram num universo com códigos que desconheciam. Era uma violência, mas o paradoxo é que, durante a ditadura, estes rapazes acabaram por ter a possibilidade de, provavelmente, descobrir a liberdade mais cedo dentro destes próprios muros. E, ainda para mais, foram preparados para algo que não viriam a ser. Houve uns quantos que ficaram, mas a maioria tem filhos e netos.
No artigo “Um Pouco de História”, publicado em outubro de 1947 no boletim paroquial ‘O Facho’, é possível ler quantas pessoas seguiram a carreira religiosa. Poucas o fizeram nos primeiros anos letivos. Por exemplo, no final do primeiro (1943-1944), seguiram para Noviciado dois alunos e no segundo (1944-1945) um.
E a coisa bonita – que também acho que acontece, em tempos muito binários em que algo é preto ou branco, bom ou mau – é que esta gente experimentou um lado, o outro e conseguiu tirar uma síntese feliz destes dois mundos. Isso percebe-se porque todos eles, regra geral, são próximos da Ordem, sempre que se juntam revivem tudo com muito carinho e agradecem tudo aquilo que passaram ali dentro. De facto, aquele seminário tinha uma mundividência e um cosmopolitismo muito grandes. Nos anos 60, quando chega o Frei João Domingos, do Canadá, houve professores de todas as nacionalidades, até vietnamitas. E o cinema chegava aos alunos naquele interior do país, pois vinha das embaixadas! Era um pólo cultural, até mesmo para quem vivia à volta dele. As pessoas que ficaram sentem-se quase órfãs porque vivem à sombra daquilo que foi, de uma casa devoluta. E têm essa memória ainda clara que associam à juventude. Só percebi que estava a fazer o documentário quando já estava no processo. O meu pai, em 2008, faleceu e era professor universitário e investigador científico. Na universidade, quiseram fazer-lhe uma homenagem e tinham reunido toda a bibliografia dele, mas não sabiam se haveria outros livros que não estivessem naquela lista. Pediram-me para confirmar. E eu não só naturalmente percorri todas as prateleiras de casa como googlei o nome do meu pai pela primeira vez. A Internet ainda não era o espaço que é hoje. Não havia muita coisa, mas tropecei num blogue de ex-seminaristas de Aldeia Nova, já com netos, alguns reformados, outros ainda na vida ativa, que decidiram criar aquele cantinho como um ponto de encontro, de troca de reflexões e ideias, assim como para dinamizar encontros. Fui introduzido àquele mundo.
E mencionavam o seu pai?
Havia referências e até encontrei um texto dele. Aquela era uma realidade que, para mim, estava distante porque tinha passado uma única vez neste casarão. Numa viagem, na adolescência, quando vinha de Braga para Lisboa. Lá fizemos um almoço e vimos os miúdos a jogar futebol. É a linguagem ecuménica que se prolongou ao longo do tempo porque o campo de futebol era sagrado. As minhas recordações são essas mas, sobretudo, as histórias que o meu pai contava – umas reais, outras mais efabuladas – dessa sua infância. E isso sempre entrou dentro do meu imaginário como uma coisa muito exótica, um espaço no meio de um vale, sem água corrente e eletricidade, com uns homens de branco, cheio de miúdos a correrem de um lado para o outro nas suas traquinices… E, portanto, quando encontrei este blogue, foi também uma forma de me relacionar com uma parte da vida do meu pai à qual não tinha tido assim tanto acesso. E, também, chegar a colegas dele que o tinham conhecido noutro contexto. Foi aí que percebi, que por falta de meios e sentido – porque hoje em dia, quem quer fazer os votos dominicanos é mandado para Espanha e depois já vem com tudo feito. Dizia-se que a idade média dos frades e das freiras, na Europa, era de 85 anos. Estamos a falar de finais de ciclo –, a casa estava à venda. Houve um grupo de seminaristas que ainda disse “Juntamo-nos, compramos a casa e fica para a nossa reforma”. Era um projeto muito romântico que não foi para a frente. A minha única ideia era: gostava de voltar a este sítio e perceber aquilo que ainda existia de memória física do passado e guardá-la para mim em fotografia, com os próprios olhos, o que fosse, antes de desaparecer.
E se calhar confrontar aquilo que tinha imaginado com a realidade.
Também! Desafiei um amigo meu e fomos. Falei com os frades dominicanos e disseram-me que quem tinha as chaves do seminário era o António, um caseiro que vivia à frente do edifício. Organizei-me com esse senhor: fez-nos uma visita guiada por todos os corredores, pelos anexos, pelos espaços envolventes. No final, como agradecimento, falei-lhe do João de Melo, o escritor, porque ele tinha estado algum tempo no seminário e tinha sido colega do meu pai. É por isso que o filme abre com um excerto do “Gente Feliz com Lágrimas”. E perguntei-lhe se tinha lido esta obra. Ele disse “Não, mas fico com muita vontade!”. Então, voltei lá para lhe levar o livro e falámos durante três horas. Comecei a aperceber-me dessa memória frágil que estava prestes a desaparecer e o António era um dos guardiões da mesma. De facto, é o dinamizador da aldeia, um cuidador. E, aqui, acaba por ser uma ponte entre o presente e o passado, o secular e o religioso. Nasceu com aquilo, é a referência da juventude dele e, no fundo, o trabalho que ele ficou a fazer foi tentar salvar as memórias que ainda podiam ser recolhidas. Aquilo que ele fez com as mãos foi aquilo que tentei fazer com a câmara. E, às tantas, essa narrativa do tempo presente contaminou-me. Já tinha pensado em juntar textos de vários seminaristas porque fui à procura de diários e de cartas do meu pai e houve colegas que me passaram notas, encontrei reflexões interessantes no blogue, houve troca de e-mails, etc. Queria construir uma personagem coletiva, ver aquilo que havia de seminarista nesta gente toda. Foi esse o início do exercício. Quis fazer algo mais experimental e conceptual mas, depois, estando no local, entendi que tinha de fazer algo sobre este diálogo entre o presente e o passado. Daí terem surgido estas duas linhas narrativas – uma que vem de 1950 à atualidade e outra que está no tempo presente. Uma pontua a outra. E achei que era importante que a ideia da fragilidade da memória estivesse presente na construção do filme e, por isso, é que os textos saltam tanto em termos temporais de um para o outro. Jamais vou conseguir abarcar aquela realidade toda, nunca foi essa a minha intenção, porque o espetro daquilo que aconteceu é tremendo, mas há uma luta contra o tempo e isso está, de algum modo, espelhado no filme. Conseguimos os apoios do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) e da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), sendo também uma co-produção com a RTP.
Foi difícil ou gostaram do projeto desde o primeiro momento?
Fácil nunca é e dá sempre muito trabalho porque somos poucos para um financiamento que também é curtinho. Sinto que há uma dimensão de sorte aqui e que a tive. Penso que o júri engraçou com o projeto, mas poderia não ter engraçado. A partir do momento em que temos um primeiro apoio, depois, é mais fácil chegar ao resto. Até lá, é sempre difícil. O filme, na sua produção, começa pelo fim, com aquele encontro de ex-colegas que aparece no final. Quando ia na investigação, estava sempre numa lógica de guerrilha. Fazíamos as refeições em casa do António, enfim, era voluntarismo puro. A motivação deste filme partia muito de dentro porque, no fundo, queria deixar esta história que aconteceu antes de mim, que é de uma geração…
É também uma homenagem ao seu pai?
Por isso é que o dediquei a ele. Pensava nisso mas, depois de fazer o filme, sinto que não fui eu que lhe ofereci esta prenda, mas sim ele a mim. É uma herança, permitiu-me viver dentro de um universo que desconhecia e com princípios que me são muito caros como o humanismo, a liberdade ou o progressismo. Essa ideia de espaços intermédios, de subtilezas, de não termos de ser x ou y e sermos um bocadinho disto e um bocadinho daquilo. Para não sermos uma definição encerrada em si. E isso formou-me. Digo que a minha religião é o humanismo porque é aí que me sinto. Foi a partir daí que partimos para o filme e avançámos depois com financiamento. Quando conheci o António, o miúdo tinha 13 anos e, quando o filme foi terminado, ele foi para a faculdade!
Há uma publicação do jornal ‘Notícias de Ourém’, de 3 de dezembro de 2015, em que é possível ler que o filme já estava a ser produzido.
Sim, porque eu já andava lá a fazer esse trabalho de pesquisa! Foi em 2015 que houve esse tal encontro de ex-seminaristas que foi a minha forma de chegar até eles. Na altura, tinha escrito uma nota de intenções para o filme e partilhei-a com eles. Fiz, como arquivo, o plano deles no palco do antigo seminário. Até porque não era muito claro aquilo que ia acontecer com o edifício: se ia ser remodelado ou não. Quis registar e guardar isso. Estamos a falar de uma aldeia com cerca de 200 habitantes, mas contámos 40 casas desabitadas, 30 famílias emigradas, metade são reformados, tinha um único café que foi fechado pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e uma estrada. Tem outro lado porque é uma zona muito rica em água e sempre houve uma agricultura de subsistência muito grande. Já foi o epicentro de toda a região e há quase o sentido de orfandade daquilo que o seminário foi, poderia vir a ser e o sonho de que venha a ser um motor económico-social novamente. Tudo isto aconteceu quando, em Lisboa e no Porto, o metro quadrado passou a valer o dobro e houve um boom de turismo. E isto chocava-me mais quando ia passar uma semana àquele interior e via aquele abandono. Não deixa de ser o sítio onde os carros não param ou param pouco. O filme é muito de subtilezas porque não tem um conflito latente e tremendo.
E, através dessas subtilezas, acredita que transmitiu a mensagem de que a memória da aldeia e do seminário deve ser preservada e, em alguns pontos, resgatada?
Espero que sim! Por acaso, a covid-19 abriu um bocadinho esse discurso porque, com o teletrabalho e o confinamento em si, as pessoas começaram a dar mais importância ao ar livre e à natureza. Houve até algumas famílias que foram à procura de uma certa ruralidade. Obviamente que o nosso litoral e as nossas cidades estão completamente apinhadas e percebemos isso pela massa jovem: a Aldeia Nova tem muitas crianças. Pelo jogo de futebol, dá para entender que há miúdos ali. A questão é que chega ao momento de irem estudar, vão-se embora e, regra geral, não voltam.
É pena porque o seminário podia trazer mais vida para a região. O seu próprio nascimento é singular: no artigo escrito no boletim paroquial, é explicado que o padre Abel Ventura do Céu Faria faleceu a 2 de julho de 1942 e “pensava em oferecer a sua residência a uma Ordem Religiosa”. Foi este o início do desenvolvimento do seminário dominicano de Aldeia Nova.
A filha, penso eu, era freira e quis fazer essa oferta. O primeiro edifício é do final do séc. XIX e foi oferecido nos anos 30, tendo aberto nos anos 40.
Tanto que neste texto lê-se que “a casa andava ainda em obras, que o inverno ia retardando demais, e por isso nos primeiros dias os alunos ficaram mal instalados”. Tudo mudou?
Não tive acesso a quem tenha estado lá nos anos 40, só a partir dos anos 50, por volta de 1954. As condições já eram diferentes, mas a grande revolução aconteceu nos anos 60 com a entrada de padres estrangeiros com idades novas, e “os santinhos a jorrar sangue deixaram de fazer sentido”, como eles dizem. Numa carta do meu pai, escrevia que sentia que estava numa universidade. Penso em pessoas desempoeiradas como o Frei Bento Domingues, que escreve no Público: estavam à frente do seu tempo e tinham visões muito livres.
Nesse texto, escreveu “aí vivi cinco anos espantosos, com jovens de todo o país. Merece o filme que vai fazer reviver esse Casarão de todas as alegrias e loucuras”.
Isso já tem um tempo valente! Apresentei-lhe a ideia porque ele estava nesse grupo que reuni e falámos das intenções do projeto. Deu-me um abraço e incentivou-me. Dos dominicanos, só recebi força e carinho. Ainda não viram o filme, mas vou fazer uma sessão no auditório do ICA, para três deles, que estiveram mais envolvidos no processo, porque quero que o filme seja visto de forma mais familiar. Não sei qual será a reação, mas digo que é o momento para o qual estou mais nervoso. Nunca me cobraram ou perguntaram nada… Enfim, melhor era impossível! Deram-me acesso a tudo, o salmo cantado no final foi cantado por um deles, acedi ao arquivo, deixaram-me filmar aquilo que queria… Foram impecáveis em todos os aspetos e deram-me força. Metermo-nos nestes projetos que levam tempo e não sabemos se vão chegar ao fim… É uma loucura.
Sentiu-se frustrado?
Muitas vezes. Mais vezes frustrado do que realizado! O processo final do filme, que coincidiu com o surgimento da covid-19 e do isolamento, foi um bocado traumático. Sabíamos que era um filme que não tinha data – não havia nenhuma efeméride que o desatualizasse, por exemplo – e trata de uma realidade que não se perde no tempo. Pelo contrário: se calhar, até vai ganhando com o tempo. Tenho duas crianças pequenas: a mais nova tinha um ano quando isto começou e comia terra dos vasos, metia os dedos nas fichas elétricas, bebia Sonasol… Foi desesperante e tive de pensar: “Ok, vamos arrumar isto. Quando as coisas acalmarem, pensamos no filme novamente”. Acho que este filme também comunica diretamente com uma geração que começa nas pessoas da minha idade e nas anteriores e fazia sentido o filme estrear quando as pessoas pudessem ir ao cinema. E inicialmente havia muito medo de o fazer.
Apesar disso, pode ter uma vertente ainda mais didática para os mais novos.
Interessava-me isso: que o filme fosse essa primeira pedra de preservação de memória que, depois, permitisse querer saber mais sobre este universo.
No terceiro ano letivo, 1945-1946, não foram recebidos alunos novos por falta de professores, pois as aulas não seriam asseguradas na totalidade. Esta realidade arrastou-se pelos anos?
Não. Podia ter partido dos materiais dos padres, mas o meu interlocutor é o seminarista porque andava à procura também do meu pai. Em todos os registos que li, não apanhei nenhuma referência a isso. Imagino que os primeiros anos tivessem sido bastante complicados porque, na primeira ata, que o António até lê no filme, percebe-se que o seminário era o edifício mais rico da aldeia e nem esmola davam!
Tanto que, no artigo d’”O Facho”, lê-se: “A casa ficará mais cheia do que uma colmeia. Eis, em breves traços, a origem e progresso do nosso Seminário. Tem havido muitas dificuldades, muitas horas de angustia, mas temos sentido também o amparo da nossa Padroeira e do nosso Glorioso Patriarca. Tem-nos animado a simpatia dos nossos amigos e de olhos no futuro estamos a continuar com a mesma coragem”. Esta vontade de superar as adversidades perdurou?
O seminário esteve, até ao 25 de abril, em funcionamento. Não entrei muito pela perceção das dificuldades porque estava muito dentro dos olhos dos jovens que lá estavam mas posso dizer que, através deles, não acho que tenham desejado desistir do seminário. Entrevistei o último frade, que entretanto morreu, e houve uma lógica de resistência até ao último dia.
Quando se fala de religião, atualmente, os abusos sexuais são denunciados. Relataram-lhe a existência destes crimes no seminário?
Não, pelo contrário: até foi interessante porque, a certa altura, falei com um colega do meu pai que, atualmente, vive em França. Estava a falar-lhe das minhas ideias e ele virou-se para mim e disse: “Há uma coisa que considero muito interessante e de que não falas: a sexualidade”. Por isso é que introduzi um texto sobre isso. Havia o cuidado de falar da vida sentimental.
Não era um tabu?
Aparentemente não. Havia um livrinho, “Confissões aos meus seminaristas”, em que o crescimento era abordado. E há outro ponto importante: as mulheres recebiam metade dos salários dos homens naquela altura, mas o seminário foi o primeiro sítio da região onde foi implementada a igualdade de género e salarial. Era uma visão mais universalista. Todos estes motivos levaram-me a querer tocar em temas maiores do que o próprio filme, mas sem a intenção de os explorar numa lógica cirúrgica. Acaba por ser a história da construção de amizades, de crescer numa comunidade… Estou muito feliz por a ante-estreia do filme acontecer em Coimbra por ser descentralizada. O objeto do filme tem tudo a ver com isso. E por ser também na capital da academia. É um trabalho sobre crescer a aprender. Não foi um filme que se rodasse em 20 dias seguidos: houve anos em que fui lá dois ou três dias e outros em que passei semanas no seminário.
A obra também desempenha um papel fundamental na transmissão de conhecimento porque, quando se pesquisa sobre o seminário, não se encontra muitos materiais.
Foi por isso que a dimensão humana me interessou tanto. Lá está, no jornalismo é preciso humanizar uma história porque, de outra forma, acabamos por escrever algo mais chato. Trago essa sensibilidade comigo e queria perceber como se fazia uma primeira amizade num sítio daqueles, de que é que falavam, quais eram as atividades que tinham, o primeiro contacto com o cinema… Instantes do quotidiano deles que foram encapsulados e imortalizados. Há um texto em que falamos do fantasma da guerra, mas esta geração mais jovem também tem os seus fantasmas.
Que momento o marcou mais?
Houve dias que me marcaram como aquele em que o António foi à praia com a família e deixou-nos com a chave do casarão. Nem nos sonhos mais loucos o meu pai imaginou que teria um filho que, um dia, teria as chaves do seminário no bolso! Emocionou-me também ler a carta de saída da Ordem do meu pai porque é, basicamente, a razão de eu existir. E tivemos episódios divertidos e acidentes: houve um chão que cedeu e eu, para salvar a câmara, atirei-me, caiu-me tudo em cima e parti um dedo do pé. Estas coisas acontecem sempre. Houve uma situação que nem sei se devo contar, mas: quando filmámos o frade, pedimos para fazê-lo na capela. O caseiro levou-nos lá e houve uma falha de comunicação qualquer. Abre dois domingos por mês mas, por coincidência, o pároco decidiu ir lá. Estava tudo às escuras e, de repente, ele entrou e apareceu este homem – o frade – com a luz, as vestes e um andar muito solene. Acho que ele deve ter apanhado um susto de morte, viu um fantasma! Pedimos encarecidas desculpas.
Houve algum objeto que o tenha fascinado particularmente?
Impressionou-me muito o busto pelo qual se estudava ciências: vemos o corpo humano esventrado, os órgãos todos expostos e funcionava, de certa forma, como uma metáfora dessa casa a ser esventrada e essa vida a desaparecer.
Está a trabalhar em algum projeto agora?
Sim, num ainda mais pessoal! Tem a ver com os sonhos e as desilusões da União Europeia vividos através de um europeu em busca dos seus companheiros de Erasmus dos quais pouco sabe desde o início do milénio.
É o Filipe?
Precisamente. A partir de um arquivo que tenho construído sem eu próprio saber, desde 1999. Há três coisas que marcaram a minha vida: o Erasmus, a paternidade e a perda do meu pai. É um filme sobre as dores do crescimento: no fundo, vivi a euforia da União Europeia, as fronteiras tinham aberto dois ou três anos antes, houve a abertura a Leste, a implementação do euro, havia uma ideia de progresso… Tal como para os meus pais a democracia foi um ideal, para a minha geração, a Erasmus, a União Europeia foi uma utopia em que o impossível acontecia: pôr várias nações a trabalhar em conjunto com base em princípios como o da tolerância. E, agora, na meia-idade, essa pessoa começa a debater-se com medos, dúvidas e responsabilidades.