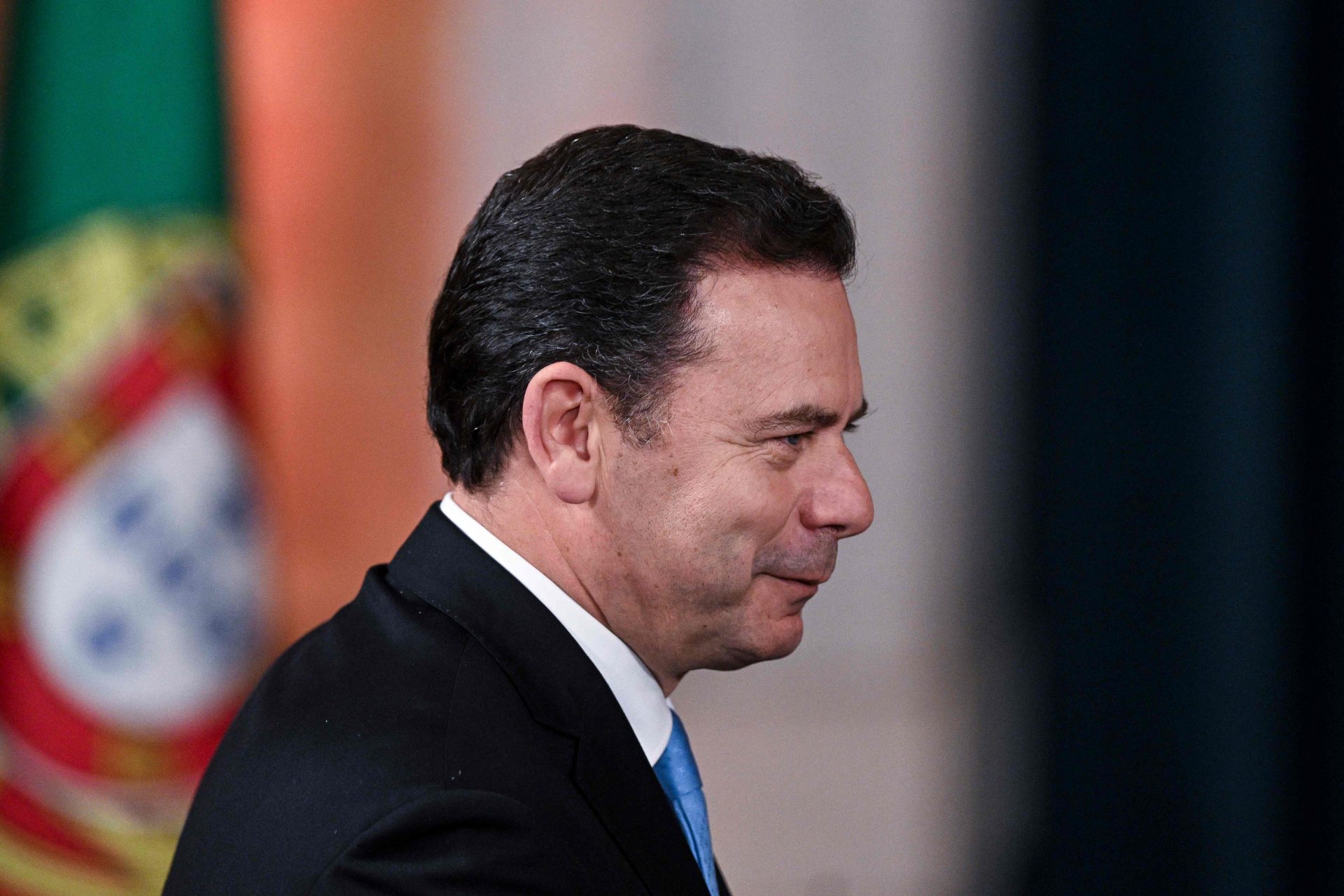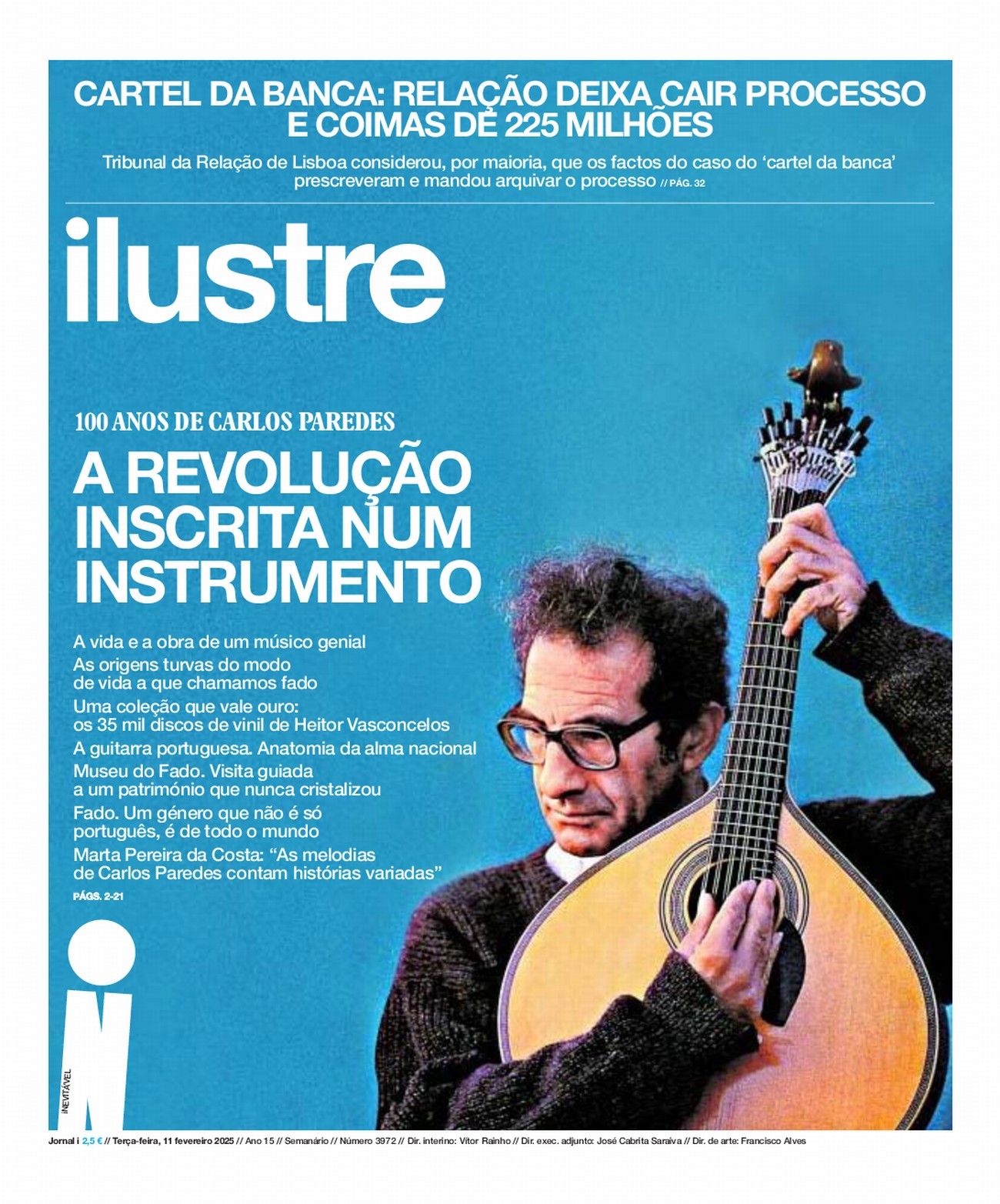Há 18 meses a lidar com a covid-19, José Manuel Boavida, presidente da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, lamenta que o impacto da doença na população com diabetes tenha sido pouco estudado em Portugal – o segundo país com mais diabetes na Europa – e alerta que sem controlar melhor as doenças crónicas e dar ferramentas aos doentes para gerir a sua saúde o país não estará melhor preparado para próximas pandemias. Um dos apelos da APDP tem sido um maior envolvimento das autarquias no combate à doença. Em tempo de campanha autárquica, José Manuel Boavida explica o que gostava de ver mudar e defende que o Serviço Nacional de Saúde, que esta quarta-feira completa 42 anos, ainda “hospitalocêntrico” e “hiper-centralizado”, não vai conseguir responder a todos os problemas de saúde da população. E isso, afirma, devia ser uma das lições da pandemia.
Passados 18 meses desde os primeiros casos de covid-19 em Portugal, é possível perceber o impacto da doença na população com diabetes?
Logo nos primeiros seis meses de pandemia os dados analisados pelo Observatório Nacional de Diabetes já mostravam que os doentes com diabetes com covid-19 a precisar de internamento eram o triplo das outras pessoas. A taxa de hospitalização entre as pessoas diagnosticadas com covid-19 era de 14,5% e subia para 43,3% nas pessoas com diabetes. E enquanto no geral 8,8% precisavam de cuidados intensivos, nos doentes com diabetes a percentagem subia para 20%. Estes números já eram absolutamente assustadores e são muito próximos de um estudo recente que saiu agora na revista Diabetes Care.
Concluiu que 30% a 40% das pessoas internadas com covid-19 com casos graves tinham diabetes do tipo 1 ou tipo 2.
Metade foram para cuidados intensivos e 25% morreram. São números que mostram bem como as comorbilidades foram apresentadas muitas vezes em todo este debate como algo que vem atrás quando é determinante. E mostram também como a saúde pública e todas as entidades ficaram ofuscadas com a luz da covid e não perceberam que, naquela enxurrada de casos, vinham muitas outras situações que necessitavam de uma avaliação com maior cuidado.
Esses dados sobre o peso da diabetes permitem explicar porque é que a pandemia teve um impacto tão forte nos países desenvolvidos?
Penso que isso poderá ser um bocado redutor, porque não sabemos ainda quais são os fatores que fazem com que a população com diabetes seja mais atingida, se são fatores sociais, se são contextos económicos, se são atrasos de tratamento, se são pessoas que tinham formas de diabetes já mal compensadas ou com outras complicações. O que podemos dizer é que há uma falta de estudo tremenda e, diria um pouco mais, falta de humildade na forma como se apresentaram conclusões. Devia ter havido um espaço de discussão e acesso a dados que permitissem perceber esta realidade.
Não têm dados na associação?
Não temos dados novos e os dados iniciais estavam em bases que foram muito contestadas. Não tem sido uma preocupação. Todos os dias continuamos a saber quantas pessoas estão internadas sem saber quantas entram e saem dos hospitais. Não são divulgadas as comorbilidades das pessoas internadas e das pessoas que morrem. Tudo isto se transformou mais numa prestação de contas, com serviços políticos que se escondem atrás dessa prestação de contas para não tomarem as decisões que se deviam tomar.
Que consequências tem essa falta de análise na gestão da pandemia, na gestão passada e na que está para vir?
É evidente que leva a ziguezagues permanentes mas também a não fortalecermos verdadeiramente as pessoas mostrando-lhes o que são determinantes de saúde. Desde o início que defendemos que a Proteção Civil devia estar na frente do combate à covid-19. Como o processo de vacinação demonstrou: quem esteve à frente foi a Proteção Civil com o apoio do Exército, das autarquias e com a colaboração óbvia e indispensável do Serviço Nacional de Saúde. Quando dissemos isso parece que queríamos afastar o SNS, mas o que queríamos era dar meios para o SNS poder atuar. O SNS continua numa visão muito centrada sobre si própria, muito curativa, muito hospitalocêntrica e sem perceber a dimensão social e humana da doenças crónica.
Percebe a dimensão quando tem de lidar com doentes internados por motivos sociais e não clínicos.
E depois aí queixam-se de pessoas há meses internadas nos hospitais. Hoje há hospitais que têm de alugar camas em lares para dar alta a doentes. Mas isto devia mostrar-nos que o SNS está desadaptado a esta resposta e 18 meses depois da pandemia devíamos estar a discutir o que é que o SNS propõe para mudar.
Lançou um apelo ao envolvimento das autarquias no combate à pandemia. É por aí?
Penso que este dia em que se assinala a criação do SNS é um bom dia para repensarmos, não para batermos no peito, para fazer mea culpa, não para receber medalhas dos grandes esforços, que também são necessárias, mas para pensar no que faz falta ao SNS. E em primeiro lugar penso que deve estar a descentralização e a autonomia de gestão. Continuamos a ter uma gestão hipercentralizada no SNS, que se manteve na pandemia até em termos de comunicação, e que fez com que não se percebesse experiências fantásticas a nível local, a energia que localmente se consegue colocar nos projetos de intervenção e que muitas vezes são esmagados pela hierarquia.
Por exemplo?
Todos os projetos que houve de intervenção nos lares, trabalho levado a cabo por exército, polícia, Proteção Civil, com mobilização da saúde, mas que não foi valorizada. E depois poderíamos falar de outras áreas, no atraso na descentralização da testagem, que foi gritante. Entregou-se nas mãos dos privados a testagem não se percebendo que os testes rápidos eram fundamentais e que os auto-testes podiam ser usados pelas pessoas. Na associação fomos os primeiros a promovê-los e fizemo-lo porque temos a experiência de acreditar que as pessoas são capazes e são as primeiras interessadas em tratar-se a si próprias e não uma visão policial de vigilância. Mas acima de tudo a autonomia dá às instituições uma agilidade que lhes permite trabalhar para melhores resultados e neste momento continua a haver no SNS uma contratualização por indicadores de consulta, números de consulta, de atos. As próprias estruturas dirigentes não estão preparadas para avaliar resultados, é mais confortável ficarem presas aos números de atos.
É mais simples?
É mais confortável nesse sentido. Mas aí precisavam de ver que não podem pagar mais a um hospital por cortar uma perna do que poupar uma perna e ao ver as coisas desta forma somos confrontados com um sistema de pagamentos que é absolutamente obsoleto e perverso.
O modelo de financiamento nos hospitais é há muito discutido. Parece-lhe que é uma das grandes reformas por concretizar no SNS?
Sem dúvida. Outra reflexão importante penso que passa por perceber porque é que, durante a pandemia, pararam nos hospitais os cuidados a doentes crónicos para cuidarem de doentes agudos. Penso que foi por uma razão muito simples: essa é a verdadeira vocação dos hospitais, é para isso que devem existir. Tratar doentes agudos e dar resposta a casos complexos. Tudo o que seja consultas poderia passar para cuidados intermédios, como já existiram – o instituto de urologia, o instituto de oftalmologia, o instituto de dermatologia – ou para aquilo que eram os cuidados primários no seu início, antes do 25 de Abril, quando tinham as especialidades. Isto permitiria dar uma força aos cuidados primários que desde logo impediria afirmações como as que foram feitas pelo ministro Manuel Heitor, que parecem vir de uma ideia de desqualificação do que é a resposta de proximidade. Se os cuidados primários tivessem médicos de família, gastrenterologistas, cardiologistas, todos a trabalhar em equipa, não se falaria dos cuidados primários desta forma.
Não viu desconhecimento nas afirmações como criticaram muitos médicos?
O desconhecimento do que deve ser o trabalho dos cuidados primários resulta de haver uma discrepância enorme entre o que existe nos cuidados primários e hospitais cheios de cuidados ambulatórios e com centenas de milhares de pessoas diariamente a ter consultas nos hospitais. É um gasto tremendo. E depois, quando é preciso cortar nos gastos, corta-se sempre no mesmo: nos ordenados dos médicos, dos enfermeiros, fazem-se contratos precários. Uma outra reforma que penso que seria importante é colocar os profissionais de saúde num papel mais responsável ao nível da gestão. A gestão não pode continuar a ser feita só por gestores hospitalares. Vêm com uma visão de gestão de processos e não tanto com resultados. E, para concluir, precisamos de aumentar a participação dos utentes, uma visão crítica de fora. É neste contexto de uma reforma mais ampla, com um SNS mais integrado e com mais respostas de proximidade, que fazemos este apelo ao envolvimento das autarquias.
No campo da diabetes, foram lançados nos últimos anos vários projetos no país a nível municipal: os programas Cascais e Porto sem Diabetes, Lisboa faz parte do programa Cities Changing Diabetes. Na prática, avançou-se?
Estamos ainda muito atrasados e tenho alguma esperança na descentralização que o Governo quer levar a cabo. Os presidentes de câmara têm de ser chamados à responsabilidade e envolver-se mais nos resultados. Desde logo os agrupamentos de centros de saúde têm um órgão que é o conselho de comunidade que normalmente é presidido pelo presidente de câmara. O que acontece é que o presidente de câmara costuma ir à reunião de apresentação de contas uma vez por ano para ter palmas e não participa minimamente. A única forma de ligarmos as autarquias à saúde é obrigar a que, no conselho diretivo dos ACES ,esteja um representante da câmara municipal, para haver um reconhecimento real das necessidades da população, dos problemas com que se debatem os centros de saúde, os profissionais que não conseguem contratar.
Acha que as autarquias podem fazer mais?
Em Abrantes quem paga o excesso de ordenado da Unidade de Saúde Familiar é a câmara, há outras autarquias que dão casa para atrair profissionais. Pode haver um subsídio de alojamento ou deslocação para uma área que seja mais carenciada e que assegure a contratação por quatro ou cinco anos.
Câmaras com maior capacidade financeira terão sempre maior margem de intervenção. Não podem criar-se desigualdades se couber as autarquias resolver esses problemas?
Mas para isso existe o Estado central, para regular e garantir que o acesso chega a todos. Mas tem de ser um Estado que queira gerir resultados em saúde e perceber o que falta: porque é que o Alentejo e o Algarve têm a taxa que têm de amputações e o Porto tem uma taxa pequena? Não é porque os portugueses são diferentes, é porque o tratamento e o acesso à saúde são diferentes.
No Norte a cobertura de médicos de família é quase total.
Sim, a quantidade de consultas de pé diabético é muitíssimo grande, a existência de equipas nos hospitais especializadas em pé diabético é uma realidade, no Sul é zero. Os Açores têm a taxa mais elevada de diabetes no país. Porque é que não existe um programa específico de combate à diabetes nos Açores? O Alentejo é sempre o parente pobre, os números de cancro, de diabetes, de amputações, são sempre maiores. Podemos culpar de alguma forma o isolamento das populações, a maior distância aos serviços, mas isso exige medidas específicas. Sabendo isto, não devíamos ter o Estado a contratualizar e a pagar serviços de saúde no Porto, que tem os cuidados primários com uma boa cobertura, e no Alentejo da mesma maneira. A atuação do Estado central tem de se fazer protegendo os mais pobres e os mais desfavorecidos e não continuando a pagar mais atos àqueles que já fazem mais. E é esta a perversão do atual sistema de funcionamento. O que temos tentado fazer é provar que é possível fazer diferente também com programas de intervenção na sociedade. Criámos programas de intervenção na diabetes em que queremos, em vez de ficar à espera das pessoas, ir aos encontro dos doentes nos bairros, na comunidade. Fizemo-lo aqui em Lisboa na freguesia do Areeiro e da Penha de França. Concorremos agora para projetos na Ajuda em Alvalade. Em Cascais fomos às quatro freguesias ter com a população para fazer rastreios. E aqui a preocupação em termos de resultados de saúde assenta em chegar a duas populações: aqueles que têm diabetes e não sabem que têm e identificar as pessoas que estão em risco de ter diabetes.
Estamos a falar de quantos portugueses?
Cerca de 30% da população em Portugal anda a passear a sua diabetes. Muitas vezes a diabetes é diagnosticada por complicações, o que quer dizer que já tem mais de 10 anos de evolução, muitas vezes 15 ou 16 anos. Estamos a falar de situações em que o curso da doença poderia ter sido completamente diferente se tivesse havido um diagnóstico mais cedo e não se chegaria a complicações como amputações, retinopatia diabética. No caso dos pré-diabéticos, a preocupação tem de ser educação para a saúde. É o que promovemos na associação mas não vemos em mais lado nenhum. Para as pessoas com pré-diabetes lançámos o programa de alteração de estilos de vida Gosto!, que, pela positiva, tenta transmitir o gosto de mexer, o gosto de comer bem, o gosto de me controlar. Para as pessoas com diabetes lançámos o programa Juntos é Mais Fácil, em que o objetivo é motivar as pessoas a ter um estilo de vida mais saudável.
Neste período de pandemia em que muitos projetos estiveram parados, terá havido muitas pessoas a passar essa linha da pré-diabetes à diabetes?
Pode ser um pouco subjetivo mas a minha experiência pessoal foi que no primeiro confinamento as pessoas foram extremamente rigorosas. Estavam cheias de medo, trataram bem da diabetes, muitas emagreceram. Já não foi o mesmo no segundo confinamento. Já havia alguma confiança e as pessoas deixaram de ter a mesma atenção, tinham uma vida mais sedentária, comiam mais não só porque tinham uma maior proximidade da comida mas também porque estavam mais sozinhas e mais frustradas. Acredito que vamos ter um boom de diagnósticos de diabetes logo que os cuidados primários retomem integralmente as suas atividades e que formas de pré-diabetes que se terão transformado em diabetes se venham a declarar e que pessoas que não estavam sequer com situação de pré-diabetes e estão diabéticas.
Ouvimos muitas vezes dizer que a pré-diabetes na maioria das vezes é reversível com alimentação, com um estilo de vida mais ativo. Quando há um diagnóstico de diabetes, continua a dar para reverter a situação?
Dá e por isso é que é necessário intervir. A grande vantagem das doenças crónicas é que podemos mudar a sua história natural. Em mais de 85% dos casos de pré-diabetes conseguimos evitar que evolua para diabetes.
Sem medicamentos?
Sim, são dados de dois programas, um na Finlândia e outro nos EUA, o Diabetes Prevention Program e o Finnish Diabetes Prevention Study. Também demonstram que algumas pessoas o conseguem com medicamentos antidiabéticos bastante baratos. Há quem defenda que a utilização de medicamentos nesta fase pode ser importante porque convence mais as pessoas de que necessitam de se tratar, de mudar o estilo de vida, de perder peso, mas tem sido uma guerra com o Infarmed porque os antidiabéticos não têm esta indicação e só os laboratórios é que podem pôr uma indicação nova num medicamento. Os governos e as direções-gerais de saúde demitem-se dessa função.
Os laboratórios não o fazem porque é mais lucrativo tratar cronicamente?
E tratar com novos medicamentos que custam 100 vezes mais do que medicamentos como a metformina, que existe há 40 anos. Há uma declaração da Assembleia da República, aprovada por unanimidade em 2015, que recomendou a comparticipação da metformina para a pré-diabetes. O Ministério da Saúde deveria ter arregaçado as mangas e não o fez.
No caso de pessoas já com diabetes, como é possível reverter a doença?
Os estudos mais recentes o que nos dizem é que se a diabetes for apanhada no início e se houver um emagrecimento de 10% do peso corporal, a doença entra em remissão. Ainda na semana passada foi publicada uma declaração de consenso internacional pelas maiores sociedades de diabetologia sobre o que se considera remissão, que é estar três meses com os níveis de glicemia normais sem a toma de qualquer medicamento. Se perdem 10% do peso, a probabilidade de deixar de ter diabetes é altíssima. Não temos números cá porque nada disto tem sido implementado de forma sistemática.
Começa por não existir um diagnóstico precoce, como dizia há pouco.
E mesmo quando as pessoas são apanhadas precocemente não são encaminhadas para programas de emagrecimento. É o que se está a fazer neste momento em Inglaterra, com programas especiais de ensino e de acompanhamento para que a diabetes entre em remissão. As pessoas vão para ginásio, têm consultas de nutrição, há um acompanhamento permanente de médicos, enfermeiros e psicólogos que podem ajudar a perceber quais são as dificuldades e motivar. As pessoas não precisam propriamente de uma carta de envio, precisam é de um contexto onde se sintam que motivadas para mudar.
Um pouco como a cultura de motivação que se vê por exemplo hoje em relação à cessação tabágica, com oferta de consulta, linhas de apoio, apps, cartazes nos centros de saúde, avisos nos cinzeiros?
Sim, não vemos isso. Uma das coisas que quisemos fazer para já com as autarquias foi lançar grupos de entreajuda, a exemplo dos grupos de entreajuda do álcool, da droga, do tabaco, que mundialmente têm dado bons resultados e podem ajudar numa fase inicial da doença.
Já estão a funcionar?
Funcionaram no Areeiro, na Penha de França e em Cascais mas ficaram muito limitados com a pandemia. As câmaras não quiseram ter a responsabilidade de ter surtos por estarmos a fazer reuniões, portanto permitiram sobretudo testar o modelo. Mas agora queremos claramente desafiar as câmaras a fazer mais e a implementar programas que existem lá fora, com bons resultados.
Destaca mais algum?
Um dos programas que mais me tem entusiasmado é o de Oklahoma. Era considerada a cidade com mais obesidade dos EUA. Iniciou um projeto em que colocaram um placard onde todos os dias eram anunciadas as libras que se perdiam de peso na cidade. Todos os largos foram transformados em espaços onde se podia promover a atividade física. A circulação de carros foi subsistiria por bicicletas e trotinetes, com uma cidade centrada nas pessoas e não nos carros, como incentivo à atividade física. Foram promovidos carros de venda de fruta e legumes pelas ruas, coisa que em Portugal tentei fazer quando estava na DGS e que encontrou uma resistência enorme na Direção-Geral de Alimentação, que está sob a tutela do Ministério da Agricultura, porque as licenças de venda na rua são processos complicadíssimos – e este são o tipo de coisas em que as autarquias podem ajudar. Houve uma outra iniciativa que era serem entregues cheques para comprarem legumes: sempre que os comprassem, era lhes dado um novo cheque para nova compra.
Cá poderia pensar-se em estender por exemplo o IVAucher?
Para os legumes… Mas há outras medidas que foram sendo implementadas nos últimos anos: em Nova Iorque, por exemplo, reduziu-se o volume das garrafas de refrigerantes. Não sei se já reparou mas nos postos das autoestradas só há garrafas de meio-litro, são formas de publicidade e de forçar o consumo.
A pessoa para, está com sede…
E só meio litro à disposição. E depois está com a garrafa na mão e bebe-a toda. Uma garrafa de meio litro tem 12 ou 14 pacotes de açúcar.
Portugal lançou em 2017 um imposto especial sobre as bebidas com maior teor de açúcar. Foi eficaz?
Estas medidas são como as do tabaco, têm eficácia no curto prazo. No médio prazo, a indústria e a publicidade ultrapassam-nas. Tinha de haver uma capacidade de regulação e intervenção do Estado. Esta medida que foi agora regulamentada para as escolas [proibição de venda de alimentos prejudiciais nos bares e máquinas] estava proposta desde 2012. Só nove anos depois é que é colocada de forma taxativa na lei, o que leva a uma reação brutal.
Tem mais apoio hoje do que teve na altura porque a geração de pais e jovens de hoje também já quer menos os donuts e esse tipo de lanches?
São produtos que também tiveram a sua época, agora hoje devia ser proibida a publicidade a esse tipo de alimentos dirigidos a jovens, o ovo kinder. Até porque aquilo que a indústria faz é passar os anúncios das horas em que as crianças veem televisão para a hora dos avós.
Vemos nos supermercados junto às caixas, além dos bonecos e doces, agora veem-se muito mais caixas de bolos a um, dois euros. O marketing está a tornar-se mais agressivo para com os mais velhos?
É por esse tipo de coisas que tenho defendido que a Direção-Geral de Alimentação devia passar para o Ministério da Saúde, nem que fosse por um período de dois ou três anos. O grande problema hoje não é a gestão de alimentos de que precisamos em Portugal, em que existe uma adaptação do mercado, penso que devia ser muito mais a regulação de todos estes aspetos, que se ligam ao comportamento, à psicologia, à publicidade, a áreas em que a Direção-Geral de Alimentação não tem conseguido intervir. E depois chegar aos educadores. Um dos projetos que tivemos em Cascais e na Penha de França foi de intervenção junto de professores, que muitas vezes não sabem como abordar estes temas. Discutir isto é dar conceitos de alimentação saudável que não seja o BÊ-Á-BÁ da roda dos alimentos, que é dada 500 mil vezes nas escolas mas nunca é passada para a prática. Vivemos muito uma política de nutrição e pouco a alimentação, temos de falar de alimentos. E isso tem sido a nossa política de intervenção, que vem de arrasto da diabetes, porque a principal causa da diabetes continua a ser o excesso de peso e a obesidade, mas é importante para outras doenças, para o colesterol elevado, para a hipertensão. A propósito dos avós, uma das áreas onde temos de lançar programas de intervenção é nos lares. É preciso fazer ensino às cozinheiras, aos auxiliares, ensinar a comer, a olhar para os pés dos utentes, como cortar unhas sem fazer feridas.
Da experiência que têm tido, é fácil mudar?
As cozinheiras estão habituadas a ver se a comida está bem pela sua própria boca. Se dissermos que têm de pôr menos sal, percebem. Se pudermos dar orientação para compor uma refeição, que alimentos podem introduzir, conseguimos mudar as ementas. Se conseguirmos dar uma ideia da quantidade de hidratos de carbono que existe num prato conseguimos evitar erros crassos, nomeadamente em relação aos diabéticos. Muitas vezes o que se diz é “ai, coitadinho, vamos dar o mesmo prato como estamos a dar aos outros”, não percebendo que isso pode descompensar a diabetes, que pode já não estar muito controlada, levar a que a pessoa desidrate, tenha uma infeção urinária, vá parar ao hospital, contraia depois uma infeção hospitalar e morra. É este muitas vezes o circuito: a diabetes não é a causa de morte, mas é evidente que foi a diabetes que levou o idoso ao hospital. Este tipo de ensino, sobretudo quando é feito juntando as cozinheiras em grupo, permitindo que partilhem experiências, pode ter enormes resultados.
E é nessa linha que as autarquias podem ser mais ativas?
Nesta e não só. Na Câmara de Lisboa temos um programa por exemplo para o pré-escolar que se chama Tais Pais, Tais Filhos, um bocadinho baseado nos programas do Jamie Oliver, em que pomos as crianças a provar legumes, a fazer sopas e a levarem isso para casa. Seguindo no fundo o que se aprendeu com a reciclagem, em que os ensinamentos sobre o plástico e o vidro foram levados pelas crianças aos pais. O programa está suspenso com a covid-19 mas queremos retomá-lo. E há uma ideia que não temos conseguido desenvolver e que é esta: a verdadeira prevenção da diabetes começa ainda mais cedo, nas grávidas. É na grávida que se começa a gerar a diabetes futura daquela criança e na própria mãe é muitas vezes depois das gravidezes que surge a diabetes. Neste momento nas grávidas com mais de 30 anos há quase 20% de diabetes, sabemos que as mulheres são mães cada vez mais tarde e temos de ter programas para que possam ter filhos mais novas e, ao mesmo tempo, lidar com esta realidade. Depois da amamentação temos um período cego em que ninguém intervém porque as crianças “já podem comer de tudo”. A partir daí as escolas podem envolver-se, mas os estudos nesta área o que nos dizem é que até aos quatro anos 100% das crianças já provaram refrigerantes, gelados.
Até aos quatro anos não deviam provar um gelado?
Se calhar o tipo de gelados que comem não. Com a essa idade não tinha provado estes gelados, mas tinha provado gelados caseiros. Um gelado de morango ou de laranja feito em casa têm uma qualidade muito maior, não têm conservantes, menos açúcar. Passando a primeira infância temos o grupo em que é mais difícil de intervir que são os estudantes universitários, em que de repente a atividade física quase que desaparece.
Continua a ser assim hoje? Vemos as ruas cheias de gente a fazer exercício, ginásios com mensalidades mais baratas.
Penso que as mulheres ganharam vantagem nos últimos 15/20 anos em relação aos homens porque têm uma preocupação com o corpo que os homens não têm. Temos hoje raparigas que começam a ter cuidados alimentares e com exercício físico desde adolescente. Isso é bom. Mas o que vemos neste momento em Portugal e nos países desenvolvidos é que os homens caminham para ter quase o dobro de prevalência da diabetes das mulheres. A imagem do corpo forte continua a dominar, enquanto na mulher a imagem de elegância predomina. Os homens não querem ser gordos, mas querem ser musculados e passa-se facilmente da musculatura à obesidade, porque a quantidade de calorias que se come para ter musculatura, se não houver exercício, facilmente passa a gordura. Ter um corpo forte continua a dar vantagem interpares, um homem magro é um fracote. Portanto temos a fazer intervenções a vários níveis, incluindo culturais, e aí a saúde tem um papel importante mas não pode fazer tudo. Sendo a diabetes uma doença que tem uma grande tradição de transferência de conhecimento, aquilo em que acreditamos é que conseguimos modelos de intervenção que servirão a outras doenças.
O modelo em que as pessoas aprendem a cuidar de si, que começou há 100 anos com a descoberta da insulina.
Sim e o que a diabetes conseguiu ao dar insulina às pessoas para que elas próprias a administrassem, em que lhes deu aparelhos para medir a glicemia, ainda não é feito para outras doenças. É um modelo de educação terapêutica, de educação para o auto cuidado que precisa de ser desenvolvido para todas as outras doenças crónicas. Os estudos internacionais dizem que metade das pessoas que são medicadas para o colesterol largam a medicação. As pessoas estão habituadas a tomar medicamentos para as dores ou para a febre. Estar a tomar comprimidos que não tiram sintomas implica um acompanhamento e uma motivação que implica um contacto regular, perguntar à pessoa se se tem esquecido porquê, onde é que coloca os comprimidos, o que podemos fazer em casa para que não se esqueça. Nenhum médico tem disponibilidade para isto mas os enfermeiros têm e daí a importância de incentivar o trabalho multidisciplinar. Se não as pessoas simplesmente deixam de fazer, descompensam. Foi o que vimos também na pandemia: no segundo confinamento, as pessoas desistiram de tomar conta de si. Não digo que seja preciso sempre um grilinho falante a dar conselhos, mas é preciso haver motivação e faz muita falta o convívio local e em comunidade, a transmissão de conhecimento em grupo. Hoje de manhã ouvia um programa na rádio sobre a paixão que mesmo em zonas mais pobres as pessoas tinham pelos seus bairros. Isto perdeu-se nas cidades e é um desafio enorme para as autarquias. Temos de voltar a criar bairros onde as pessoas convivam, se conheçam, troquem experiências.
Acredita que será possível essa mudança?
Tem de ser. Há aquela proposta de cidades dos “15 minutos”, em que tudo seria acessível em 15 minutos. Por que não? Temos de pensar os horários de trabalho: sempre ouvimos que estamos assim organizados por causa dos custos da eletricidade, porque é que os nórdicos podem estar em casa as 4 da tarde e estar com os filhos? Uma das coisas que gostei muito de ouvir no outro dia foi aquela notícia de que no sul de Espanha há uma vila que quer tornar a conversa à porta de casa Património da Humanidade. Nós já não podemos sequer dizer mal uns dos outros porque não conhecemos os outros. Dizemos mal na internet de pessoas que não conhecemos. A convivialidade era também uma forma de aprendizagem e um dos projetos que temos passa por criar casas da diabetes em cada bairro, em que as pessoas com diabetes uma vez por mês se encontram com um tema para discutir, com um profissional de saúde que os ajuda. Até agora só uma junta de freguesia nos apoiou nisso, não veem isso como uma das suas funções.
Foi na altura a junta de freguesia do Areeiro.
Sim mas já não têm este ano.
É caro?
São 250 euros por sessão, que inclui material, duas horas do profissional de saúde e o seguimento. Em algumas juntas de freguesia fizemos durante o Natal o envio de mensagens com dicas de alimentação. É tudo isto que é saúde pública, não é só aquilo de que nos têm falado nos últimos meses, não é só inquéritos epidemiológicos e meter as pessoas em casa em isolamento.
Sente que é um tema que tem faltado nos debates das autárquicas?
Não vimos ainda ninguém falar de saúde.
Em Lisboa e Sintra tem-se falado. Carlos Moedas propõe um seguro de saúde.
Ter seguros de saúde vai contra aquilo que mostrou a pandemia, as pessoas precisam de serviços integrados de saúde. Se não temos médicos em Lisboa o que é que um seguro de saúde vem fazer se os próprios privados têm lista de espera? Parece-me que é desviar a atenção daquilo que é o problema essencial e o que gostávamos de ver era começar a estruturar medidas de combate aos determinantes da diabetes e das doenças crónicas. Temos tido boa resposta de alguns candidatos. Quarta-feira uma das candidatas de Almada vem à associação, um dos candidatos de Oeiras com grande probabilidade de ganhar diz que no dia seguinte às eleições quer discutir connosco. Vamos desenvolver um projeto igual ao de Cascais em Matosinhos. Na semana passada tivemos um convite de Celorico da Beira. Podemos abrir aqui um caminho.
Se o caminho de maior prevenção e controlo de doenças crónicas não for feito, a próxima pandemia será pior?
Claramente. Se não aprendemos que temos de dar apoio às pessoas e confiar nelas, teremos mais negacionistas, mais revolta contra medidas restritivas e menos resultados, ou seja, menor proteção final das pessoas. Para esta reforma precisamos de comprometimento das autarquias, precisamos de uma reformulação do SNS que defina claramente que os hospitais são locais de tratamento de agudos e de pessoas que estão doentes verdadeiramente e que as outras pessoas, que têm doenças, precisam sobretudo de ser acompanhadas e orientadas. E é isso que queremos fazer com os diferentes projetos, seja a promoção de cidades sem diabetes, respostas de bairro. No fundo é pôr a diabetes na ordem do dia, perceber-se que é uma doença grandemente prevenível e controlável e que isso for feito pode permitir às pessoas aproximarem-se de uma qualidade e esperança de vida comparável à de quem não tem a doença.