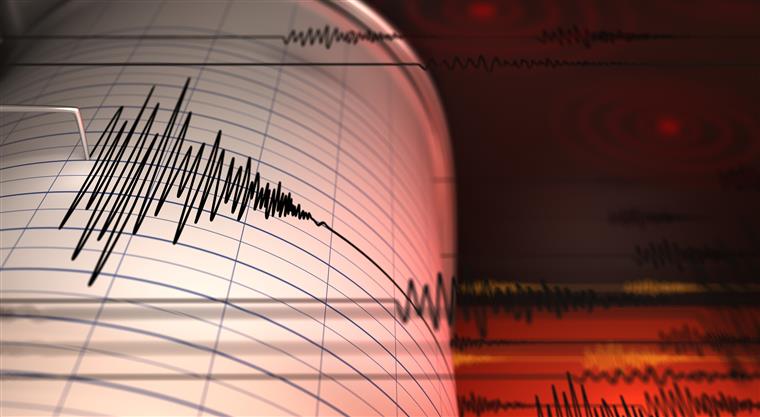O mal está feito. Muito embora esteja solucionado tudo aquilo que não tenha solução, estreia esta semana, em várias salas do país, O Movimento das Coisas, o único filme de Manuela Serra, rodado entre 1979 e 1980. Honra seja feita à produtora The Stone and The Plot, porque distribuí-lo não é um simples acto de coragem – é também a assunção de um erro. Que objecto estranho é este, chamado O Movimento das Coisas, e que mulher é esta, Manuela Serra, sobrevivente de 40 anos de desprezo por parte do país das artes e da cultura?
Manuela Serra não passava muito dos 30 anos quando embarcou na experiência de maturidade que veio a resultar n’O Movimento das Coisas. Este é um filme atravessado pela “funestidade” da tragédia, e que prenunciou um conjunto de dissabores, de ordem nacional e humana, que atingiram, entre todos, a própria realizadora. Identificamo-nos, tantos anos depois, com os temas do filme: nos rostos e nos gestos, físicos e carnais, do povo de Lanheses, não vemos senão dores universais, que só não apelam à humanidade dos que não a experienciaram nunca.
Como se cativa o interesse do público para um filme que, desde a origem, apenas foi presenteado com um profundo e decepcionante desinteresse? Talvez não seja possível: o seu destino é sintomático, denuncia os efeitos que o cânone, os que o criaram e lhe deram valor, e os que continuam a embeber-se nele, provocaram no pequeno universo do cinema português. Quantas vozes se calaram, quantas mulheres foram apagadas desta história devido à mediocridade dos maltratantes, porque não fomos capazes de devastar os nossos veneradores de bezerros de oiro?
Excedido o “problema”, fiquemos com a obra: O Movimento das Coisas é um filme de montagem e de ambiência, cujo tom fantasmagórico se deve à flauta misteriosa de José Mário Branco. É ela que lhe acrescenta as coordenadas imaginadas por Manuela Serra, que evidenciam a mortalidade de uma população rural que trabalha a terra, fadada a sentir no corpo a violência da passagem do tempo e, por fim, a desaparecer. Se com o filme se pretendia também alertar para o perigo da industrialização num “outro Portugal”, ele escapa às mãos da sua criadora, e transforma-se nalgo maior.
Na verdade, a “industrialização” não é mais do que o movimento das coisas, não tem propriamente natureza moral nem se pode moralizar, e o filme transcende e secundariza a temática. Nas mágoas e nas alegrias de uma comunidade, Manuela Serra descobre-lhe as fragilidades, a efemeridade de cada uma das pessoas, e os encontros e desencontros com a morte que espreita em cada fixação do movimento, como se a estrada nacional que atravessa Lanheses a ligasse, umas paragens adiante, à improvável e longínqua Samarra.
Apesar disso, este é um trabalho terra-a-terra que, na proximidade entre a câmara e o povo, escapa à mitologia, à dramaturgia teatral, aos devaneios dos etnógrafos e, assim, a todo o catálogo de cinema que se fazia à época. Manuela Serra concentra-se na melancolia da jornada, das pausas ao longo do dia, do regresso a casa, do cansaço e da fome, do alívio e do repouso, ou da expiação da tensão. O sol raiará mais uma vez, durante três dias, para que a realizadora filme mais uma jornada que começa, uma ruga que se forma, um dia mais em que se perde para a vida o jogo azarado da juventude.
No final, o povo junta-se para rezar na Missa dominical, todos se ajoelham na transubstanciação e cantam cânticos que são, em simultâneo, de servidão, de agradecimento e de esperança, essa que apenas conhecem da música, que diz que todos os homens são irmãos – o que, vejamos bem, é de desconfiar. Manuela Serra não quis fazer um filme religioso, mas pontuou o seu filme com um acto salvífico. O povo que trabalha a terra ganha uma razão, ainda que insondável, para dar seguimento ao seu trabalho e à sua tragédia: baptizaram-na de pecado, e disseram-lhes que estava lá desde o começo.
O demais é a fixação das coisas, a captação de imagens e, com elas, das respectivas almas, como nas lendas das fotografias primordiais. A alma da jovem Isabel, infausto rosto da sua terra, e a alma comum da aldeia, absorvida num mar de fumo pelo último plano, que representa a morte a rir de tudo quanto se move. É pela inevitabilidade do movimento, e pela inevitabilidade do que sucede sempre que um movimento acaba, que o enegrecimento do ecrã nos soa a um riso pessimista e vampiresco: é a flauta de José Mário Branco, mas podia ser a alma de Camilo, agrilhoada à mesa do Café Guichard.
A generosidade de Manuela Serra vingou na estreia, perante um Cinema Ideal que encheu para a ouvir e comungar dum filme que não vale só como objecto singular e estranho, mas que vale também pelo nível de identificação que a todos transmite. Quem lá esteve transportou-se para o seu próprio Portugal profundo, para a sua recordação do Cristo no madeiro, para a comunhão que outrora viveu com a natureza, à borda de uma igreja de ritos e rituais, num panteísmo iniciático, mesmo que isto não tenha sido realidade nunca, em nenhum lugar e em nenhum tempo.
Por concretizar terão ficado muitos outros projectos. Quando confrontada pela audiência, Manuela Serra descreve com mais precisão um de entre todos, a que daria o título O Movimento das Ondas. Teria sido o contraponto citadino à sua primeira obra, o filme que a complementaria com as vagas da capital Lisboa, com o ruído dos carros que entram e saem todos os dias da cidade, porque também era assim nos anos 90, e com o reboliço dos seus trabalhadores de gabinete, enclausurados numa espécie de individualismo que já se deslindava nas engrenagens da fábrica de Lanheses. Teria sido…
O mal está feito. Uma grande realizadora foi calada e a sua voz dificilmente voltará a ouvir-se no mundo do cinema. A poesia persiste, mas faltam os poetas que a digam, que contem o horripilante e o resto, sufocados que estão por concursos embaçados e por um ambiente mortífero e desmotivante. Todos os sinais esperançosos surgem enodoados por um pessimismo avassalador. Vão ao cinema e vejam O Movimento das Coisas. Cada laivo de realismo faz-nos jurar que secaram as gerações e as coisas. E, no entanto, elas movem-se. Manuela Serra é uma lição.