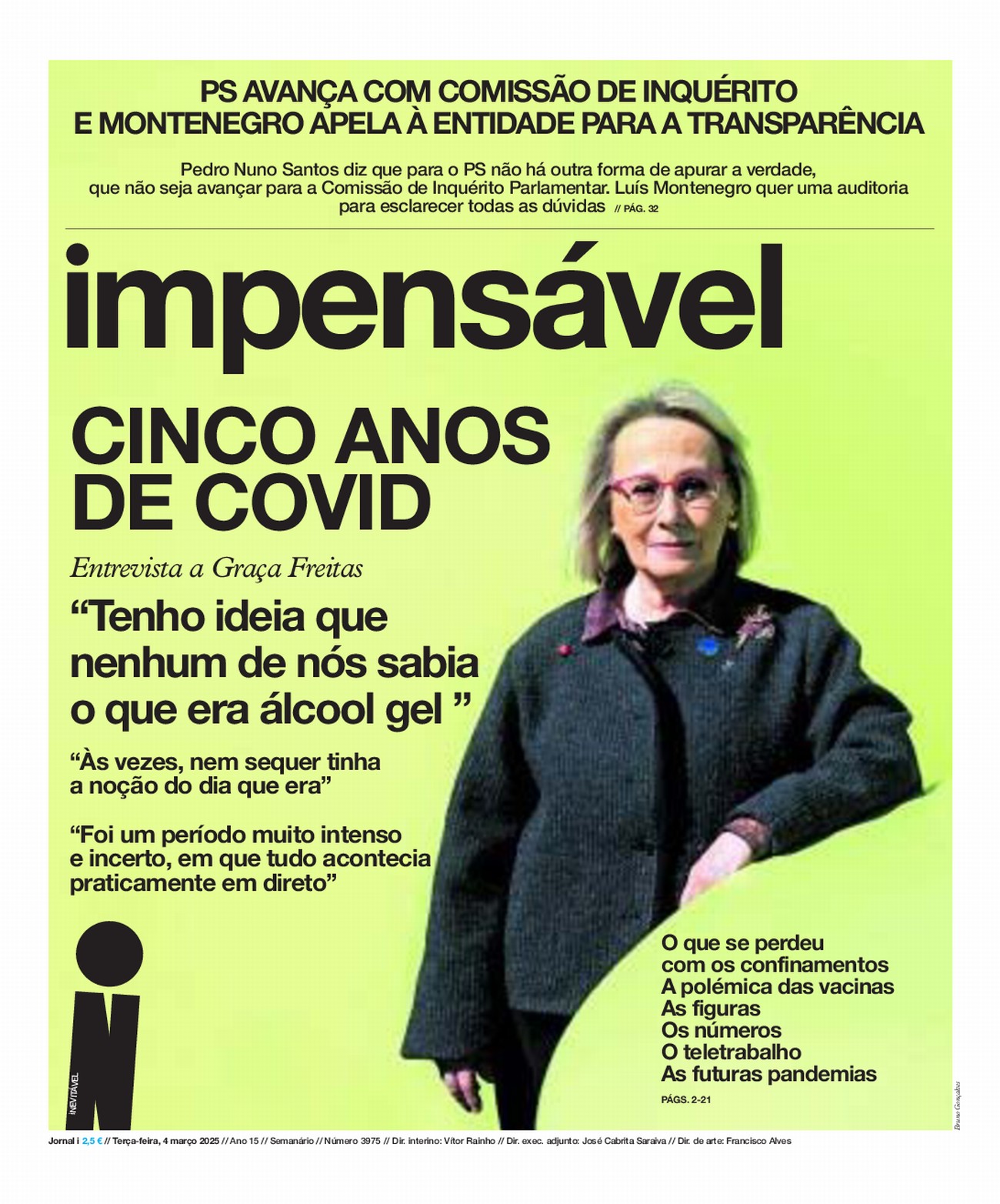Há propostas, obras, tantos livros que se esgotam no seu anúncio. A literatura de hoje está carregada de tentativas sem erro. Ou talvez seja melhor falar de míseros acertos. Por um receio qualquer de falhar, de criar pelo erro, com imensa propriedade, originando um sentido que deflagre, agitador e insone no meio de tanta coisada vã, insurgindo-se tantas vezes contra o que se vê consumir a paisagem. Cada vez menos a arte nos põe diante de coisas, objectos, textos irreconhecíveis. O confronto dissolve-se na busca de uma correspondência imediata entre as mensagens. Ninguém se deixa apanhar falando em voz alta, testando limites para si, hasteando bandeiras negras, alimentando o escândalo que seria se isto fosse dito, se aquilo fosse defendido até às últimas consequências. Não é que faltem as armas, o poder de fogo. A indolência está na vontade. Não se vê obstinação nas coisas da literatura. Ela contenta-se em afirmar que pode muito, que se quisesse também enlouquecia, mas depois prefere que lhe façam as unhas. Identifica-se cada vez menos com o que é diverso. Sirva para exemplo esta “Antologia Dialogante de Poesia Portuguesa”. Uma proposta, com selo da Assírio & Alvim, e organização a cargo de uma das mais destacadas académicas e ensaístas portuguesas: Rosa Maria Martelo.
Então, temos cá 102 poemas, 44 poetas, nove séculos de escrita, mas o último é o que está em barda, ao passo que para trás fica uma paisagem bastante desfalcada. Dos 44, 15 estão vivos. E apenas 10 nasceram no século XIX e para trás. Sendo que destes, Camilo Pessanha, Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro, são já poetas do século XX. Ou seja, a comissão de festas, em grande medida, continua a valer-se sobretudo das sobras daquele, e mais do que investir em material para escavações um pouco mais profundas, vai-se virando com uma boa quantidade de tupperwares. É só aquecer no micro-ondas. Esta antologia constitui-se a partir de uma série de estirpes em que um nódulo original serve como raiz para glosas e versões, às vezes gestos bastante cúmplices, outras acenos algo casuais, num quadro de progressões em que se reconhece um território firme que nos ecoa debaixo dos pés, esses poemas que se imprimiram em nós como traços que diríamos característicos dos portugueses, e que estão naturalmente presentes enquanto ecos dentro dos quais somos apanhados a respirar racional e emocionadamente, como esses ecos que se crê que a proximidade do mar nos imprime na alma, às vezes estragando e até sufocando-a, e isso tanto dá para gerar variações inventivas, como arranjos fúteis, glosas no regime do apalpão, esses poemas de segunda ordem, a maioria num tom ressequido, que se perfilam para a chamada, sujeitos à catalogação segundo afinidades patológicas. O que estes desiguais capítulos nos apresentam, em pouco mais de 250 páginas, é uma selecção que não colhe propriamente o oiro mas antes os seus reflexos, alguns gerando névoas fantásticas, outros apenas rabos de sardaniscas, chegando à contemporaneidade em actos cruelmente anedóticos, como quem raspa da antiguidade só um pouco da casca para fazer o seu chá de limão, afogando nele a madalena e tragando-o de forma desnecessariamente ruidosa.
Um poema bastante mole de Ruy Belo (“A minha tarde”) resume bem a sensação de uma antologia que nos surge mais como um passatempo: “o tempo não urge o coração não arde (…) passam as aves em seu voo rasante/ desde sá de miranda até jorge de sena/ E o tempo passa assim.” Mas para dar bem a noção da agravante que nos traz esta antologia com o seu atamancado projecto de fazer com que o cânone se espraie até aos nossos dias, seria melhor actualizar um destes versos, pois muito bem estaríamos se o voo rasante fosse de sá de miranda a jorge de sena, mas vai mais longe, ao ponto da unha encravada, desde sá de miranda até maria teresa horta, adília lopes, ana luísa amaral ou luís quintais e assim por diante. Seria fastidioso provar aqui através de uma série de exemplos isto que se disse, mas veja-se como de Sá de Miranda (“Comigo me desavim,/ Sou posto em todo perigo;/ Não posso viver comigo/ Não posso fugir de mim…”) vamos para Mário de Sá-Carneiro (“Eu não sou eu nem sou outro,/ Sou qualquer coisa de intermédio:/ Pilar da ponte de tédio/ Que vai de mim para o Outro.”), passando depois pelo exercício de emparelhamento que fez destes dois poemas Alexandre O’Neill, e que não é possível reproduzir graficamente aqui, mas que tem o sugestivo título “Sá de Miranda Carneiro”, passando depois para uma glosa chatinha a fingir de ousada apropriação com o “Minha Senhora de Mim”, de Maria Teresa Horta, a que se segue, a título de compensação um poema (e logo soneto) de Fernando Assis Pacheco, um verdadeiramente novo, embora com aquele embalo antigo, de quem molhou os dedos no mosto, e imprime os seus versos com uma grácil tonalidade que faz entornar os ecos passados e futuros… “Os trabalhos de amor são os mais leves/ de quantos algum dia pratiquei/ na cama as alegrias fazem lei/ e se me queixo é só de serem breves (…)”. Um poema que destoa um tanto, por só roçar graciosamente na tradição, enquanto os outros se lhe encostam tanto que dá impressão que chamam a donzela para dançar e de tanto a pisarem obrigam-na a recolher-se, preferindo passar o resto da noite sentada. Neste registo surge-nos esse exercício entre o escolar e o caricatural de Ana Luísa Amaral, “Qualquer Coisa de Intermédio” (“Se eu fosse o outro,/ o do chapéu macio e do bigode/ eternizado em cúbico arremedo,/ angústia dividida em tantas partes/ e óculos redondos,/ podia-te contar: eu guardador e sonhos…”). Depois temos Vasco Graça Moura, numa das suas glosas sempre cintadas, às vezes mais galhardas, outras um tanto enredadas, como esta “Sá de Miranda, Glosa I”, que não chega a descolar, e fica ali, a rimar-se afectadamente, como se a sentir o prédio em cima, pesando-lhe nas costas: “fica um eu no rés-do-chão/ e outro no primeiro andar./ às vezes podem trocar/ nessa coabitação./ levo uma vida de cão,/ de companhia e mastim,/ ladra-me um assim assim/ e enquanto o outro me morde/ nem posso sentir-me um lorde,/ nem posso fugir de mim.” E fechamos com a chave estúrdia de Adília Lopes, que é o ovo cozido da nossa poesia, esse que foi adoptado academicamente como metáfora de um insubordinado voo, um que fica ali condensado, para se tirar de um bolso, parti-lo, descascá-lo devagarinho, consolar o bandulho, e seguir contentadamente o seu dia quem diz por aí que gosta muito de poesia, e acha que vai bem se for assim: “Eu sou a luva/ e a mão/ Adília e eu/ quero coincidir/ comigo mesma”.
Sintetizando perfeitamente a sensação de que vamos sendo acometidos gradualmente na leitura desta antologia, mais à frente, noutra destas cadeias de relações, um poema de Manuel António Pina, “Quinquagésimo ano”, diz-nos isto: “e começa a fazer-se tarde de um modo/ menos literário do que soía, (um modo literal e inerte/ que, no entanto, não posso dizer-te/ senão literariamente) (…) Restam, é certo, alguns livros,/ algumas memórias, algum sentido,/ mas tudo se passou noutro sítio/ com outras pessoas e o que foi dito/ chega aqui apenas como um vago ruído/ de vozes alheias”. E logo nos dá o tiro certeiro para esta arte que em nome de umas facilidades, de umas risadinhas de quem vive enfadado nuns corredores de instituições meio defuntas, a assistir a um desfile de inépcias, alarvidades administrativas, programas imbecis, entre essas figuras meio apagadas que são hoje os professores, mesmo os das universidades, “acossados e infelizes”, e que preferem a poesia como uma graçola, um arroto com um leve cheiro a ovo. Em reacção a isto, Pina sentencia: “literatura, tornou-se tudo literatura!”. E depois pergunta: “E a vida? (…) Lembras-te dos nossos sonhos? Então/ precisávamos (lembras-te) de uma grande razão./ Agora uma pequena razão chegaria,/ um ponto fixo, uma esperança, uma medida.”
E é um pouco isso o que se esperaria, através de uma antologia que investisse num acto menos reverente para com encargos referenciais, não se limitando a um levantamento banal, mas impondo-se um ambicioso esquema crítico, um exercício algo mais que burocrático, algo que não se limitasse a propor uma olhada de viés a essa “tessitura elaborada a muitas mãos”. Era de esperar que alguma ordem de progressão pudesse conduzir-nos a recessos ocultos, caminhar em direcção a zonas mais profundas, compondo um ossário de uma criatura que nunca respirou ou pisou sobre a terra mas que, de algum modo, acabou por se formar entre as diferentes camadas do solo, aproveitando-se dos sedimentos dos vários séculos que fizeram com que, nesse sonho dos mortos, os vivos tremessem de uma ideia de organismo mais perfeito, dando voltas na sua sepultura infinda. De resto, em tempos, dos portugueses se dizia que, nascidos por cá, num país tão pequeno que mais parece um longo cais, andavam espalhando a sua morte de forma noticiável por todo o mundo. É essa harmonia que aqui poderia ter sido feita, a recuperação desses movimentos rítmicos que nos estendem os nervos e “elevam os instintos à altura da consciência”. Essa reconstituição se fosse feita de um modo mais audaz contribuiria certamente para que aqueles que ainda se dão ao trabalho, que ainda se interessam pelos mais sumptuosos usos que foram dados a esta língua, pudessem ter acesso a uma sua noção mais dinâmica e dramática, ajudando a que, sobre essa cordilheira, possam vir a erguer-se novos cumes.
Infelizmente, em face da antologia que nos é proposta, não se percebe muito bem que mais nos traz além de um índice, um quadro sujeito a um esquematismo de correspondências que estão longe de ser imaginosas, fulgurantes. Uma obra que se limita a servir-se de um pretexto bastante genérico, e que na apresentação apenas se apropria de forma vaga de um conceito de Fiama Hasse Pais Brandão (“para Fiama, a literatura é epigráfica no sentido em que progride sobre os textos do passado, celebrando-os ao mesmo tempo que os subverte, assimila e transforma. A escrita é, assim, entendida como homenagem (lápide) e transformação, apropriação (versão).”) e, carreando-o, contenta-se em sugerir uns nexos bastante óbvios, não avançando, depois, nem por trilhos improváveis, nem revelando, por meio de esforços arqueológicos invulgares, relações inusitadas, ou estabelecendo genealogias ocultas. Passa-se tudo num regime de actividade notarial, como se o simples gesto de dispor em montículos os poemas que entre si dialogam trouxesse à tona alguma ressonância que fizesse com que antologia se lesse como uma conversa viva, oferecendo assim algo de novo que já lá estava. Como se as delicadas e penetrantes variações se entrelaçassem sugerindo algo mais, uma vida mais longa… A verdade é que raramente essas densidades ou nuances se traduzem, aqui, em algo de mais incitante, e que realce esse éter viciador de uma criação que vive assim em suspenso, podendo ser retomada, revista ou emendada, e trazendo à superfície o mistério da futuridade dos textos literários. Ou seja, essas forças que buscam renovar-se, e que, como um vírus, podem permanecer adormecidas por séculos, até que um ouvido as capte, um espírito vagamundo dê com elas num pedaço velho de papel e se deixe seduzir, sendo simultaneamente hospedeiro e agente da sua mutação, inscrevendo-se nesse código que se adapta, evolui, para escapar à incontinência da mente e corpo, ou da memória. Só que, aqui, estas aproximações surgem-nos amontoadas, como numa dispensa, em saquinhos a vácuo, como fósseis catalogados, música congelada, frias ficções que, pela arrumação em arquivo, nos parecem cristalizadas. Faltava a estes diálogos um acto de leitura, uma proposta crítica que pudesse justificar este modelo de anexação, para não sujeitar os poemas ao entorpecimento de ficarem reduzidos a essa condição constrangedora de vizinhos que apenas se cruzam nas partes comuns de um prédio, trocando salamaleques, falando sobre o clima. Porque esta organização, seguindo impressões convencionais, incide num aspecto um tanto livresco, produz aquele efeito ressoante de sacristia literária. Desde logo porque a escolha se orientou para as versões que contemporizam, arrulham numa espécie de digníssimo cerimonial, em vez de explorar tensões, disputas agónicas, paródias brutais. Preferiu-se a homenagem, a glosa enternecida a uma angustiada influência, que, aí sim, ter-nos-ia levado para uma guerra de tronos, com intrusões, roubos inconfessados, estratégias de invasão e zonas sujeitas ao saque. Falta por aqui algo de mais conturbado, uma razão que se imponha como outra coisa além de um espelho de água, com a sua superfície sereníssima. Falta outra coisa que não esse rumor por trás das paredes, o dos canos mornos, por onde passa uma água incapaz de escaldar um rato que ali tenha feito o ninho. É mais como ir ver uma colecção de quem andou a catar conchas, pedrinhas, pedacinhos de ossos, refazendo um corpo mais vasto a partir de um organismo comum, mas isto apenas pela vanglória de levar ao pescoço um colar como quem diz que tirou do mar esses restos capazes de entoar a canção que ao longo dos séculos fez de tantos náufragos um esplêndido coro.
Esta antologia não consegue sequer, por meio de um registo mais compassado, numa perspectiva aberta, propor modulações de um registo e modo de energia para outro. Não existe, portanto, uma planta do edifício que nos faça ver passagens secretas ou uma harmonia arquitectónica que aponte para algo de monumental. As partes não se ligam, antes surgem-nos como divisões estanques. E, assim, o que poderia ter sido um labirinto que exigisse de nós um exercício de paciência e de risco, penetrando no escuro e orientando-se pelo ouvido, para descobrir como “a nossa poesia é ensombrada pela música que deixou para trás” (George Steiner), não consegue fazê-lo, não nos põe diante de ecos ressuscitando uma composição pressentida há muito, “uma música mais forte do que a morte”. Infelizmente, as ligações ficam-se por esse cordel unindo pontos dispersos, alumbramentos, como se não passassem de pregos ferrugentos, ao invés de montar essa operação de buscas, dos nossos dias para tempos recuados, esforços animados pelas irrecusáveis intimações do transcendente, estudando “as inscrições deixadas pelo mundo antigo em pedras, bronzes e outros materiais”. Nada de tão aventuroso nos é proposto, mas ressoa mais o tom comemorativo da poesia, aquela linha epigráfica que se assemelha um pouco à vénia, aos agradecimentos, ao invés de nos fazer sentir o encantamento diante dessa “arte escura de ladrões que roubam a ladrões”. E também não fica senão sugerida a refutação da ideia de originalidade, essa noção que é própria de leigos, de uma audiência distante que não imagina como a novidade é tantas vezes um efeito alcançado por meio de uma subtil arte de decantação ou exumação de cadáveres desses que ornam as mais ricas tradições. Faltou, em suma, o trabalhinho de atestar que “existe ali um além”. Era preciso que a reunião funcionasse como um rodear-nos desse “eterno retomar de fios de conversa”, fios que, como aponta Martelo, “ora nos unem ora nos afastam, mas nos fazem presença de uma mesma comunidade”. Fantasmas cúmplices que não deixam que o sentido do sangue como este se aqueceu nos seus corpos morra, e isto por aquela razão que Camões exprimiu melhor que ninguém: “Assim vivo; e se alguém te perguntasse/ Canção, como não morro/ Podes responder que porque morro”.