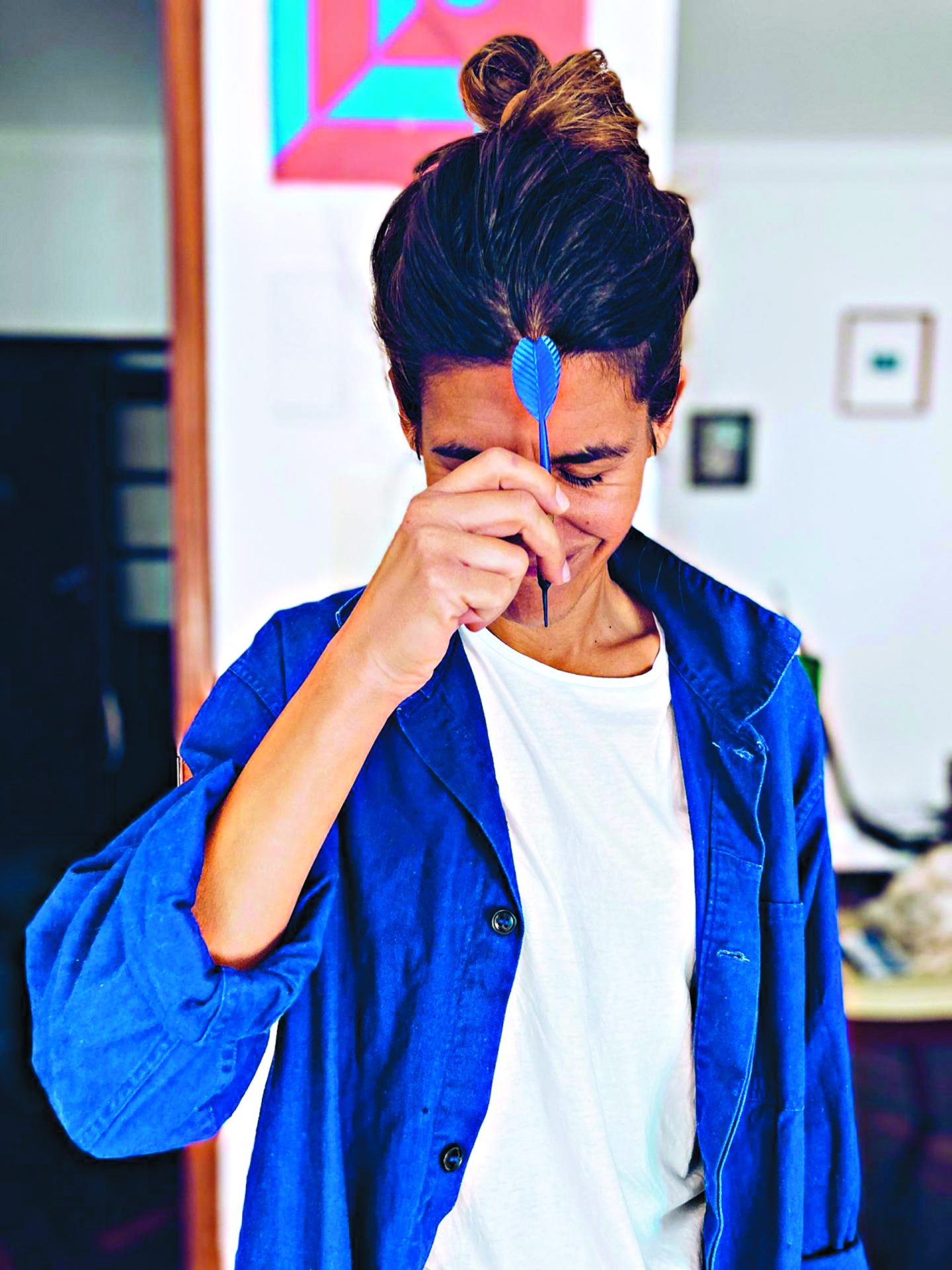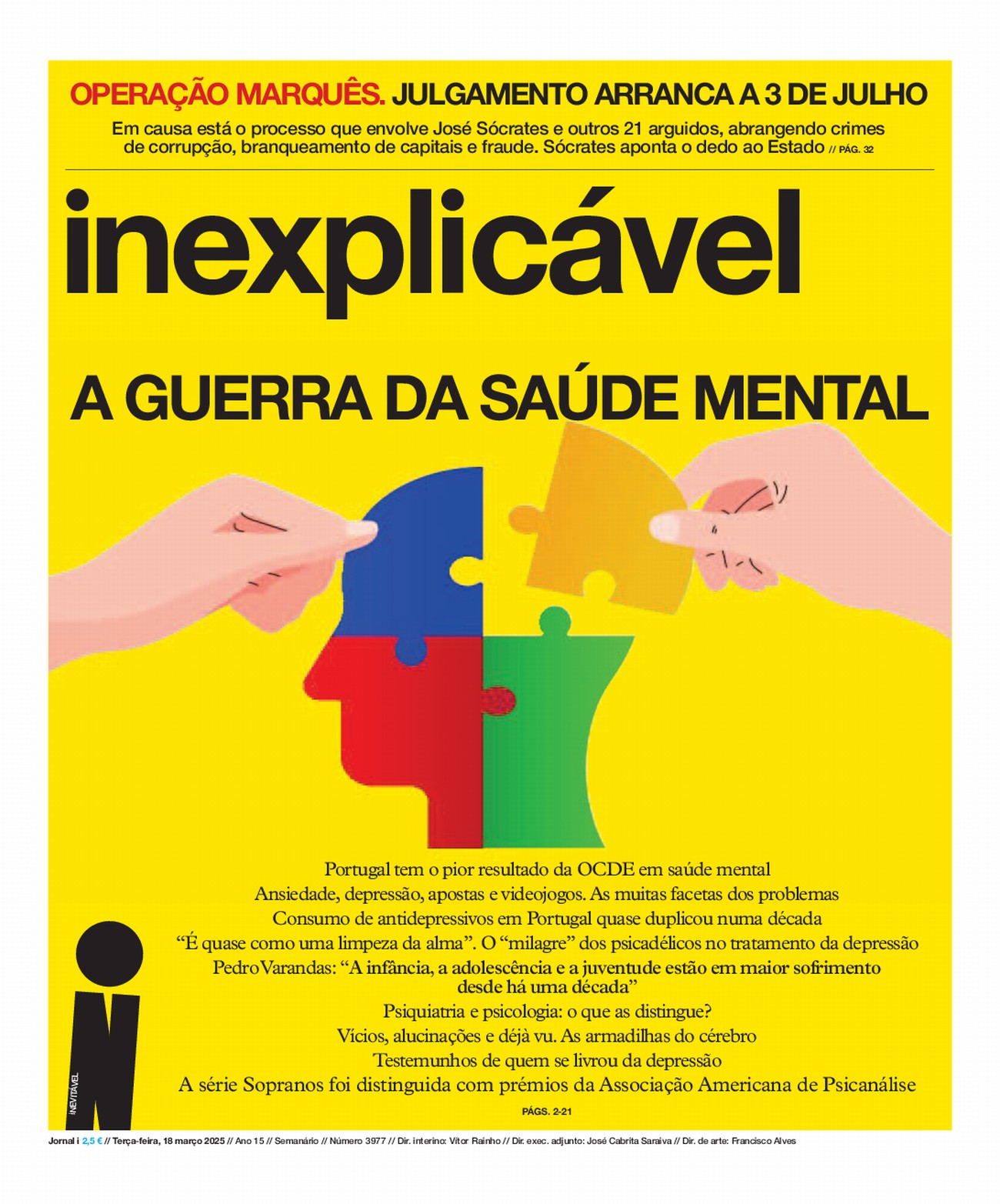Uma das piores coisas que se pode afirmar de um escritor ou de um poeta é que o seu interesse reside mais num conjunto de características que o rodeiam do que naquilo que escreve. Seis anos depois da aclamação apoteótica de Jóquei, Matilde Campilho volta à edição com Flecha, um conjunto de pequenas narrativas que se inscrevem diretamente – e um tanto inocentemente – numa figura delineada pelo filósofo Walter Benjamin num conhecido texto: o contador de histórias, segundo a tradução de João Barrento, ou o narrador, como é mais comummente conhecido.
Compreende-se perfeitamente que a figura de Matilde Campilho – “figura” é aqui utilizado num sentido abstrato, como conjunto de certas características – preencha todos os requisitos para que um certo jornalismo cultural, apostado na reprodução de um modelo que teve como consequência o desaparecimento da literatura do espaço público e publicado, entre em euforia apoteótica. Pretensamente exterior ao exíguo meio literário português, Matilde Campilho é cosmopolita e desafia aquela imagem bastante disseminada do poeta sorumbático, melancólico, que vê na sua absoluta irrelevância uma coroa de glória e na sua apatia um triunfo para si próprio.
No entanto, mais do que um exemplo da transformação do jornalismo cultural em espectáculo, mais do que um exemplo típico da retirada de qualquer esforço crítico e da consequente falência da “exceção cultural” (era assim que, em França, era referida a resistência que o objeto cultural manifestava face ao domínio da mercadoria), o fenómeno Matilde Campilho vem colocar em causa um conhecido, e muito glosado, dito: publish or perish (publica ou desaparece). Este último tinha como base a ideia segundo a qual quem não publicasse com regularidade estaria condenado a, mais cedo ou mais tarde, desaparecer, como se a voracidade do tempo fosse inclemente para quem não estivesse constantemente a tentar apanhá-lo (“Oh dear! Oh dear! I shall be too late!”, como diz o Coelho Branco de Alice no País das Maravilhas). O que a figura de Matilde Campilho compreendeu, no entanto, foi que essa injunção à publicação, essa presença intensiva, anual ou semestral, nos escaparates, acaba por ter o efeito perverso de condenar à irrelevância quem a siga em todas as suas consequências, criando uma inversão no próprio dito: já não publish or perish mas sim publish and perish, como se a publicação regular fosse uma forma de fazer com que o silêncio desabe perante as obras.
É certo que esta mutação do literário não implica um qualquer retraimento, uma recusa como a de Herberto Helder – com as consequências perversas, intencionais ou não, conscientes ou não, que acabou por ter. Pelo contrário, o que encontramos nestas figuras é uma relação económica com o tempo: reinventando constantemente a presença no meio literário, seja através de festivais, leituras, ou de outra forma qualquer, e, desta forma, acumulando capital para que a obra se torne, quando lançada, na sua própria celebração.
Com Flecha, temos 248 páginas de “cenas únicas”, como afirma Campilho, que variam em extensão e em qualidade. Muitas são pequenos apontamentos não maiores que uma frase – “uma rosa albardeira desponta ao sol” é a última narrativa do texto -, outros dialogam de forma mais ou menos evidente com a tradição – literária, mas não só. Há momentos interessantes, sem dúvida. Este, por exemplo, onde é Esopo o protagonista:
“Esopo, tendo dormido a tarde inteira à sombra de uma acácia, é despertado pelo incómodo zumbido de um mosquito. Levanta-se então depressa e feroz, pronto a acabar com a vida daquele insecto mínimo com a facilidade de uma bofetada. É já de mão bem aberta, e com o mosquito a fixá-lo à medida dos olhos, que escuta o animal pedir-lhe perdão de viva voz.
– Salva-me, por favor, meu bom ouvinte, que eu não queria despertar-te, só queria participar na festa dos bichos em teu sono.
Isto serve para que Esopo reconheça os seus mestres na vida clara, e os seus mestres são afinal os animais. Serve ainda para que não mais se revolte com eles, e para que leve os seus ensinamentos orais aos homens todos. Esopo baixa a mão e inicia então o seu caminho a pé, devagar em direcção a delfos.”
Outros momentos há, no entanto, onde uma sentimentalidade plana, desprovida de interesse, é atirada ao leitor – um editor trabalharia com o autor o texto, livrando-o destas excrescências, tornando-o mais compacto e mais interessante. Se Dante comparece a dada altura segurando “na pena para espantar a dor”, como se o inferno com que acaba a narrativa (“Inferno, para ele, é submersão”) não fosse mais que uma “canção, mas uma triste, muito muito triste” – o inferno, aquele de Dante, é obviamente bastante mais interessante que esta redução a uma pequena dor de alma -, talvez um dos momentos onde esta sentimentalidade pronta a consumir se torna mais evidente seja este:
“Tim coloca-se na frente do espelho da casa de banho. Está despido. Retira uma tesoura do armário, enferrujada de pouco uso, e com ela começa a cortar os próprios cabelos. A cada cacho que cai no chão, sobre o azulejo e também sobre os seus pés descalços, Tim deixa derramar uma lágrima”.
Imbuída de bons sentimentos, talvez se possa afirmar que o momento mais interessante de Flecha é o texto – “teórico” – com que acaba, onde Matilde Campilho, dando um passo atrás, tenta dar conta das suas preocupações. E o que lhe interessa são essas histórias que “vêm antes da literatura”: “antes da palavra escrita, dos símbolos, do papel impresso, até mesmo das tábuas, as narrativas já cá estavam”. Sempre se pode, sem dúvida, olhar para o que diz sobre o início de Moby Dick a partir da ordem do sintoma, onde aquilo que não é dito é o mais importante – o ambiente claramente homoerótico da cena é “esquecido”, dando lugar a estas “histórias (que) brotam sem nenhum entrave”, como se para esta literatura tudo quando seja da ordem do sexo fosse necessariamente impuro, baixo, não tendo lugar de cidade.
No entanto, o mais relevante nesse texto que finaliza Flecha é essa remissão da narrativa para um momento anterior à própria linguagem – sendo esta remissão que coordena todos esses pequenos textos, que lhes confere consistência, atando-os a uma ideia de ancestralidade, de ausência de tempo.
“Perto do fogo as histórias nunca começam num ponto, elas apenas pegam num sinal qualquer que já lá estava. Junto ao fogo não há tempo, nem século, nem sequer hora fixa. Frente ao fogo, somos todos ouvintes”.
Este contador de histórias, este narrador a que Matilde Campilho alude, que não precisa sequer de ser um sujeito e que remete para uma tradição oral – “a experiência que anda de boca em boca é a fonte a que foram beber todos os contadores de histórias”, como refere Walter Benjamin – encontra-se, em Flecha, imbuída de uma religiosidade profana, não redutível a qualquer religião positiva: é esta imanência, esta continuidade, entre o reino animal, vegetal e o humano. É certo que se pode afirmar que há uma grande dose de inocência em Flecha – em Benjamin o contador de histórias era uma figura dialética que, na sua distância face a nós, servia para pensar o romance, a “profunda desorientação dos vivos”. A limitação maior, no entanto, não reside aqui, mas na forma como essa imanência, essa continuação e contaminação entre reinos, é encenada ao longo dos diversos textos, esquecendo uma das suas dimensões fundamentais. Não é por acaso, aliás, que Matilde Campilho convoca Lascaux e os desenhos milenares que lá se encontram:
“Naquela tarde de verão do século XX, embrenhados na mata de Montignac, os rapazes puderam receber uma história de milhares de anos. Não a leram, não a escutaram. Bastou-lhes estar na presença dela para a receberem. Assim terá sido também quando ela foi pintada: sem palavras, quem sabe sem qualquer som, um homem contou uma história. Ao outro, a si mesmo, ou à caverna”
O que Flecha esquece é que nessa aurora da humanidade, que é também o nascimento da arte, nesse mundo anterior à linguagem, à literatura, os bons sentimentos que demonstra ao longo de todos os textos se encontravam lado a lado com a mais intensa das crueldades. Num texto traduzido recentemente (Teoria da Religião), Georges Bataille, que como poucos sondou esse mundo anterior à linguagem, dá-nos esta lição preciosa: “Não havia visão, não havia nada – apenas uma embriaguez vazia à qual o terror, o sofrimento e a morte, seus limites, davam alguma espessura”. Em momento algum de Flecha essa crueldade, esse terror e esse vazio, comparecem, e é sempre um cosmopolita que, sonhando uma ancestralidade, se vê ao espelho e se regozija com a sua imagem.