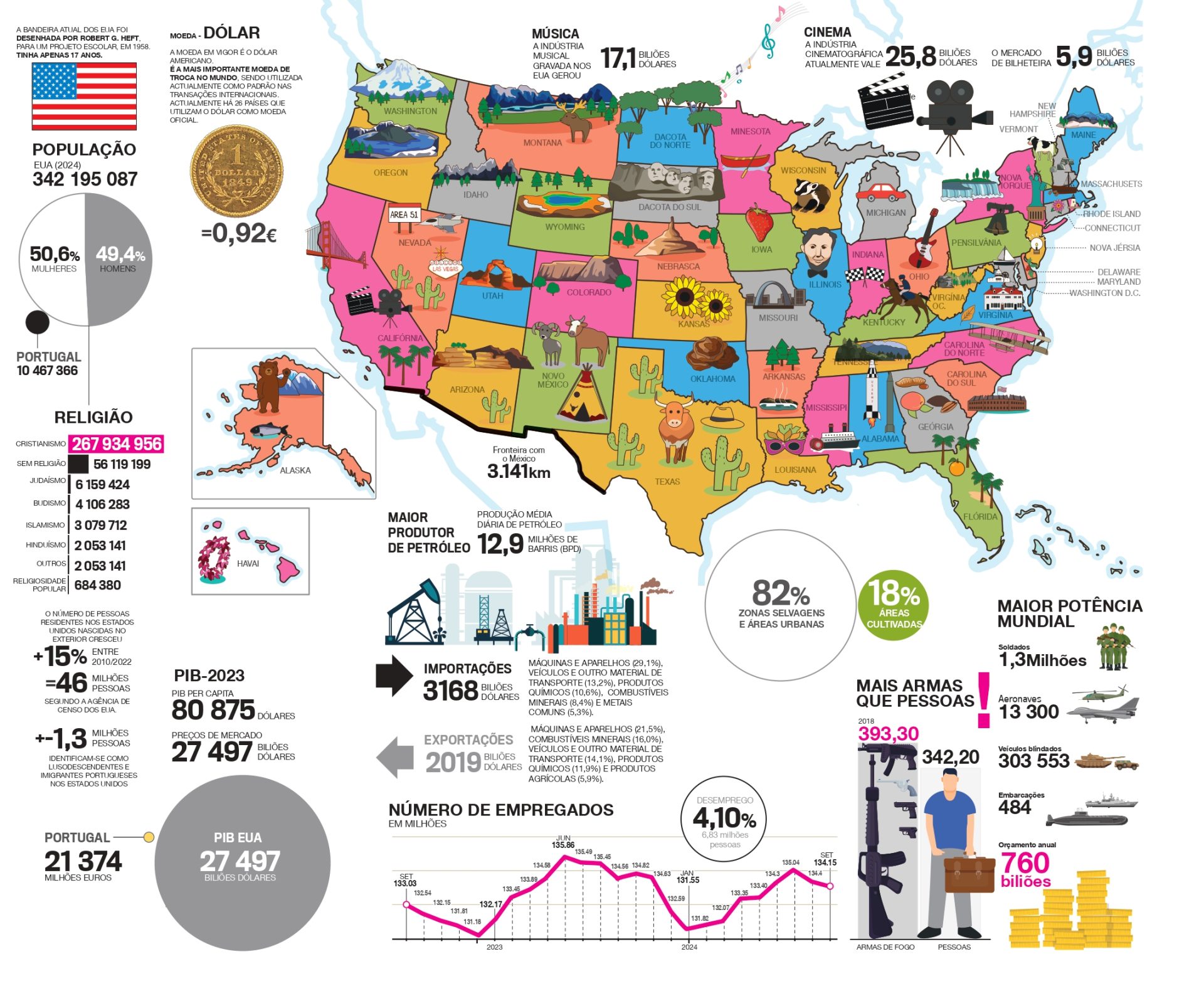O nosso Verão já não é o que era; a nossa vida também não.
E, note-se, não me refiro, propriamente, ao Verão de este ano, condicionado que está pelo COVID e pelas inevitáveis medidas para o conter.
Refiro-me à maneira como desfrutamos este período de férias em função das permanentes solicitações que nos chegam de todo o tipo de meios de comunicação e das suas plataformas digitais.
A informática, os computadores portáteis, os tablets, os telemóveis multiuso e todos os seus programas e aplicações obrigam-nos, quase inevitavelmente, a manter uma atenção permanente relativamente aos ambientes de trabalho e, também, ao constringente ciclo de notícias do país e do mundo.
Longe vão os dias em que, garoto, vinha para a praia com os meus pais num total alheamento de tudo o mais.
Nesse tempo, os pais não eram interrompidos nas suas brincadeiras com os filhos por chamadas telefónicas incessantes, por notícias de situações que os obrigassem a renovar contactos profissionais e a tomar posição imediata.
Naquele lugar piscatório, havia dois telefones públicos e não sei se algum privado.
Praia era praia.
Areia nos pés, fruta abundante, peixe fresco, brincadeiras matinais no areal, construções na areia, sesta à tarde, passeio à mata depois das cinco entre camaleões, novo banho de água doce e, já arranjadinhos, lá íamos, ao fim da tarde, conhecer os amigos dos pais, os filhos destes, e pronto.
À noite, uma saída até ao largo dos cafés, jogos da apanhada com os tais meninos recém conhecidos e, depois, pelas dez e meia, chichi e cama.
Mais tarde, um pouco mais crescidos, uma fita, ou duas, de cobóis antecedida de documentários NODO na cine-esplanada, amendoins e uma laranjada que deixava a língua colorida.
Acima de tudo, o que recordo, por mim, pelos meus pais e pelos pais de outros veraneantes, era o total alheamento que as férias de Verão proporcionavam a todos.
Nesse período, os pais eram só nossos.
Não andavam pendurados em telemóveis e a enxotar-nos sempre que, como agora, precisam de dizer qualquer coisa mais ou menos séria a alguém e que, afinal, vistas bem as coisas, não necessita nada da sua intervenção.
A chamada que recebem, ou que fazem, apenas se destina, na realidade, a manter a dependência constante de quem lhes dá trabalho e sustento, consistindo, verdadeiramente, num controlo imposto, ou, como não raro acontece também, autoassumido.
Mas, o mais estranho é que, mesmo quem emprega ou dirige o trabalho, se sinta, também, na obrigação de, permanentemente, exercer um tal controlo, que, por fim, acaba por ser recíproco.
Na verdade, vivemos hoje mais escravizados do que antes.
Os tempos de trabalho e de tomada de posição pública misturam-se com os tempos supostamente privados, que, assim, se reduzem cada vez mais, impedindo-nos de nos libertarmos de um outro tempo que, por natureza, não é nosso, é condicionador e pode ser mesmo alienante.
E pensarmos que a sociedade lutou tantos anos para conseguir, primeiro os tempos de folga semanal e, depois, o período de férias!
Hoje, em rigor, quaisquer desses períodos não são já de fruição exclusiva de quem a eles tem direito.
São partilhados, abusiva e constantemente, com os empregadores públicos ou privados ou com clientes que nos asseguram a subsistência.
Nem Huxley, nem Orwell, nem Zamiatine foram capazes de antecipar algo tão simples e opressivo.
Deitado na praia, neste fim de semana, foi o que fui pensando, enquanto assistia ao bailado dos homens e mulheres que, rodeados dos filhos, corriam, de repente, para longe para atender uma chamada que, pela gestualidade com que o faziam, parecia deveras importante.