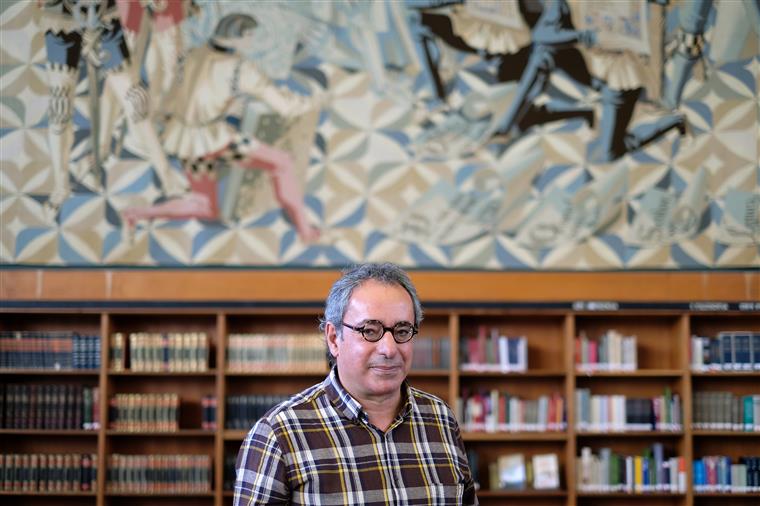Nas tantas promessas pós-apocalípticas que a ficção nos tem feito, o que raramente lhes falta, além dos cenários desolados, dos gangues motorizados que usam iscos humanos para montar emboscadas, é aquele tipo solitário que surge empoleirado num carrinho de supermercado, catrapiscando os quatro olhos, com uma lente rachada, tantas vezes perdido numas divagações e resmunguices, seja para si mesmo, seja para algum consorte imaginário que o atazana. Surge invariavelmente camuflado na paisagem, nuns trajes encardidos, colhendo o que possa servir-lhe de entre os destroços, desde cobertores, alguns víveres, o tabaco ou a pinga para ajudar a diluir memórias mais penosas. Mas também revistas, velhos jornais e livros. Não é difícil imaginar Vasco Rosa já nessa condição, nos nossos dias. E isto já antes da peste ter sido largada por aí. Só que o mais provável é que se o carrinho fosse o seu, a selecção de livros, depois de uns anos, obrigando-se a reter apenas o essencial, seria certamente o resultado de um fascinante exercício levado a cabo por um dos nossos mais caprichosos e esclarecidos leitores.
Aos 62 anos, não há pedra ou lata no meio editorial que ele tenha deixado de virar ou chutado. Mas desse percurso ele mesmo nos dará conta na entrevista que se segue. O importante agora, quando, sobre o ambiente geral de ruína que vinha já como efeito da própria abastança, está engatilhada por fim uma perspectiva de devastação iminente para o sector, é voltar aos princípios, e lembrar que a cultura é também olhar e ouvir os outros, e julgá-los, não pelo que dizem ou escrevem, mas pelo que fazem, que de sacripantas e sandeus anda o mundo cheio… Quando as filas da sopa já antes davam várias voltas em torno das instituições culturais, é importante avaliar o que foi sendo feito na edição portuguesa nas últimas décadas, e em que estado esta está hoje, até para se perceber que medidas são de facto urgentes e que propostas não passam de mero oportunismo e das emboscadas dos gangues que se habituaram a usar a defesa da cultura e os seus valores como mero isco para meter mais algum ao bolso.
Começaste a trabalhar no meio editorial quando e onde?
Comecei muito cedo, como secretário da revista «Raiz & Utopia», fundada em 1977, na Bertrand, por António José Saraiva e pouco depois dirigida de facto por Helena Vaz da Silva. Eu era secretário dela, no Centro Nacional de Cultura.
Que idade tinhas?
20 anos. Depois, fui durante alguns anos revisor da Assírio & Alvim, depois da Quetzal, no tempo de Maria Piedade Ferreira. Trabalhei também para a Bertrand, com Teresa Patrício Gouveia, em 1990-92, e logo depois com as Edições Cosmos, que cheguei a dirigir em 1998-99, e onde se publicaram livros de que me orgulho, como um grande ensaio de Vasco Botelho do Amaral sobre Ezra Pound e uma colectânea de estudos de Ana Hatherly sobre o barroco com o belo título de O Ladrão Cristalino.
E como te tornaste secretário da Helena Vaz da Silva?
Era muito amigo do Francisco, um dos filhos dela, aluno do Pedro Nunes como eu.
Tinhas só o liceu?
Eu só fiz o liceu. Iria para a universidade, gostava de Geografia e de Arquitectura, mas com toda aquela confusão do PREC percebi que a qualidade do ensino não seria grande coisa. Surgiu-me aquela oportunidade e desde então tive a sorte de trabalhar com pessoas muito especiais.
Na Assírio, fui revisor de livros de Herberto Helder, que tinha muita consideração pelo meu trabalho. Ele era completamente obcecado com isso, e muitíssimo desconfiado dos tipógrafos, sempre preocupado com as gralhas e os erros nos seus livros. Também revi algumas traduções de Aníbal Fernandes. Depois do Centro Nacional de Cultura fui trabalhar para a Associação dos Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, na Biblioteca Nacional, com Maria José Moura, numa fase de grande afirmação desta classe profissional. Trabalhei nessa altura para o filósofo Fernando Gil, como secretário duma revista e revisor dos seus livros, e ele levou-me para a Imprensa Nacional, para fazer a versão portuguesa da Enciclopédia Einaudi. Foi a época gloriosa de Vasco Graça Moura, que me chamou para outros serviços, também gráficos, como o livro O Som de Martim Codax, de Manuel Pedro Ferreira, e a gestão editorial da colecção Plural, dedicada a novos, onde me ocupei de um livro de Adília Lopes, por exemplo.
E desse tempo enquanto revisor houve relações que se criaram e pessoas que te ficaram mais próximas?
Sim, claro. Em especial com João Miguel Fernandes Jorge, que eu admirava imenso como poeta. Fui revisor de alguns livros dele.
Nessa altura, em que chegaste a rever o livro dele «O Roubador de Água», na Assírio, o responsável da editora era o Manuel Hermínio Monteiro, que adquiriu um estatuto mítico por fazer dessa uma editora de culto, que às tantas chama a si a principal constelação da poesia portuguesa.
No «Independente», a certa altura escrevi um artigo sobre o apogeu da Assírio — «Balões e alfinetes», é o título… — a pretexto da comemoração duma efeméride, em que tentei desmontar o mito Manuel Hermínio Monteiro.
Julgo que o seu papel merece ser reavaliado, numa eventual história da edição portuguesa das últimas décadas, porque no meu entendimento essa moldura mítica é manifestamente exagerada e até incongruente. Ele aproveitou um vazio clamoroso, ao chamar a si autores sem editor. O Teixeira de Pascoaes não tinha editor desde a Bertrand dos anos 1950-60. Hoje em dia ninguém o diria, naquela altura até Herberto Helder não tinha editor que o defendesse. O próprio Cesariny… Quem queria publicar a poesia de Cesariny? A partir dos créditos do resgaste desses autores-charneira, construiu-se certa reputação, é verdade, mas por outro lado misturou-se com gente sem qualquer credibilidade, como Moisés Espírito Santo… Preencheram-se vazios, mas não se fez muito mais. Quem mudou a Assírio & Alvim foi o Miguel Esteves Cardoso… foi o êxito dele que deu à editora dinheiro para fazer coisas que nunca fizera antes. E no entanto o Hermínio nunca estimulou o Miguel, que com o seu bilinguismo e talento teria sido um extraordinário tradutor de Beckett, Yeats e outros de sua grande estima. Confiou o Yeats a José Agostinho Baptista, que fez uma tradução desastrosa… Não esquecer que quem publicou a sua versão do Pioravante Marche! de Samuel Beckett foi Guilherme Valente, na Gradiva (1988), já o A Causa das Coisas (1986) era um sucesso de vendas e reimpressões…
Do ponto de vista da sua formação, o Hermínio tinha grandes lacunas. Não era um editor muito informado (digo internacionalmente, conhecendo a história do ofício), não sabia inglês, talvez soubesse francês e espanhol aceitavelmente, mas o seu conhecimento do ofício editorial e das artes gráficas era bastante reduzido, para não dizer nulo. Havia nele aquele invulgar, inesquecível assombro que fascinava, e um especial ímpeto de convivialidade, mas quanto ao resto… que me desculpem a sinceridade!
E posso dizer até que fui a primeira pessoa que fez alguma coisa pela memória do Hermínio, quando publiquei as suas crónicas de imprensa naquela minha colecção do Independente, «Horas Extraordinárias», em 2004: o livro Urzes, organizado por Manuela Correia, prefaciado por Enrique Vila-Matas e com um muito expressivo retrato desenhado por André Carrilho.
Essa colecção de crónicas é dos testemunhos mais interessantes de um editor português. Mas não foi nesse sentido que ele de certa maneira fez escola, havendo hoje editores como o João Paulo Cotrim, por exemplo, que se formou lá, e que fazem da edição este regime de capelinhas, da mesa de amigos, desdobrando-se em esquemas de influência?
É possível. Mas ninguém o fez melhor do que ele àquela época. Houve ali também uma forte marca geracional, de afirmação geracional. Criou a colecção «O Rei Lagarto», quando se afirmava o chamado rock português, um filão que ninguém ainda tinha explorado. Mais tarde, pegou na moda da gastronomia, com Alfredo Saramago, José Quitério… Com João Bénard da Costa e Vasco Pulido Valente em grande destaque na imprensa, lançou-se a publicá-los. Como na poesia, foi ocupando vazios, «farejando» os ares do tempo.
Pessoalmente, digamos assim, a «minha escola» é outra…
Mas não vês mérito nessa capacidade de galvanizar uma geração que estava dispersa? Não te parece que é isso o que hoje falta, um editor capaz de contrariar esta atomização, esta falta de um programa cultural português? Ao fim e ao cabo, parece que nos tornámos meros importadores, recebendo as coordenadas e vagando ao sabor de modas ditadas de fora.
Não temos hoje, de facto, um editor com essa capacidade. Mas a grande atenção que dedicou a Pascoaes não fez por si só esse «programa cultural português» a que te referes.
Provavelmente, esse resgate do Pascoaes até se ficou a dever ao empenho do Mário Cesariny, não? Foi ele, de resto, quem foi responsável por recuperar editorialmente aquela obra.
Sim, e é aí que eu queria chegar. Na Assírio, o Hermínio conseguiu foi captar esse ambiente de tertúlia, em que participam Cesariny, Gil Nozes de Carvalho, José Bento, que foi muito importante nessa altura, e Aníbal Fernandes, que tem a importância como tradutor que nós sabemos… Portanto, muitas escolhas de livros a publicar com aquele selo ficou a dever-se a conversas de café e mesa, a uma orientação colegial. Foram essas pessoas que guiaram o Hermínio, pessoas que vinham de trás, que tinham todo um percurso, até editorial. O Herberto e o Aníbal vinham da &etc, da Contraponto, da Estampa… Mas não nos podemos esquecer de que quem foi buscar o poeta Al Berto a Silves foi Manuel Brito, da Contexto… Por outro lado, houve áreas que ficaram a descoberto e que podiam ter sido ocupadas. Sou da opinião de que um editor moderno, actualizado, deve dar atenção à obra em si mas também à sua recepção crítica. E aí, deste ponto de vista, falhou redondamente.
Mas uma publicação como a «Phala» acabou por ser um dos poucos órgãos relevantes e que deixou memória de uma série de participações de autores ligados à Assírio e que ali publicaram excelentes textos, até de crítica, e o certo é que neste momento não nos conseguimos lembrar de nenhuma outra editora que tenha conseguido desenvolver esse acompanhamento do seu plano editorial. E isto de uma forma que não se fique por meros textos encomiásticos e sem qualquer preponderância literária ou crítica.
Sim, é verdade. Mas aquele livrão grande, Phala. Um Século de Poesia, é até muito incompleto e de qualidade irregular. Hoje é mais uma curiosidade de época do que verdadeira obra de referência. Mas há que reconhecer que fez isso enquanto outros não fizeram nem fazem nada. Mas para fazermos justiça temos de ir muito mais fundo, e ver o que o Hermínio fez e deixou ou não deixou fazer. O facto é que polarizou demasiado para si, e por várias razões (pessoais, de feitio ou carácter…), os créditos daquilo que ali foi sendo feito. Por exemplo, na Assírio trabalhou António Costa, que há muito colabora em cinema com Paulo Branco, e também Ana Cristina Leandro, uma excelente cronista e romancista, que hoje ninguém associa à editora da Passos Manuel. E sobretudo havia Manuel Rosa, que continuou o trabalho depois da morte do Hermínio, em 2001, e que lhe deu expressão mais completa e que me parece absolutamente histórica…
Estás a falar da ligação com as artes plásticas?
Estou a referir-me em particular à liberdade e ao fôlego que deu a toda aquela série de magníficas traduções de Aníbal Fernandes…
Mas aí não te parece que é o Aníbal Fernandes quem se afirma como tradutor-editor, alguém que, através das suas escolhas pessoais, orienta uma colecção, estabelece nexos em que às tantas os autores parecem colaborar como aranhas na arquitectura de uma vasta teia literária? Não te parece que, no fundo, ele entrega o trabalho já feito ao Manuel Rosa, que, depois, só tem de paginar, tratar graficamente os livros e cumprir com os aspectos da publicação mais do que propriamente da edição?
Sim, mas se o Hermínio tinha à sua volta esse colégio que o orientava, a verdade é que nunca deu esse espaço que, hoje, na Sistema Solar, vemos o Manuel Rosa dar a Aníbal Fernandes para poder construir uma colecção a seu gosto, de tradução literariamente muito informada. Não passa só pela habilidade ou competência linguística que permite traduzir bem uma obra, é também toda essa história da literatura que o Aníbal vem fazendo através dos seus magníficos prefácios e que são coisa única entre nós.
Sim, não existe outra figura que, do lado da tradução, cumpra uma função crítica tão empenhada e relevante como o Aníbal.
É um caso absolutamente admirável e que só há poucos anos ganhou plena expressão. É certo que o tradutor Aníbal Fernandes já vem muito de trás…
Da Hiena, da & etc…
Mesmo antes, da Afrodite, de Ribeiro de Mello. Organizou um livro, De Fora para Dentro. Portugal Visto por Estrangeiros, e que é muito importante mas está praticamente esquecido.
Mas voltando atrás: naquele texto de que te falei, «Balões e alfinetes», chamei também a atenção para o facto de uma editora que privilegiava tanto a privacidade dos seus autores — sendo o exemplo supremo disto o de Herberto —, a primeira aproximação que fez à obra do Fernando Pessoa foi publicar as cartas de amor para Ofélia, que é uma coisa, mais do que ridícula, bastante estúpida. Nunca o deveria ter feito. Sendo o Pessoa o máximo desafio da filologia textual, um quebra-cabeças de tremenda complexidade pois muitos dos textos não estavam fixados em versões finais, o Hermínio ousou meter-se num assunto para o qual não tinha a mais pequena preparação técnica, que lhe permitisse saber, enquanto editorial, como fazer e por onde ir. Foi de uma total inconsciência nessa matéria… Queria o negócio, mas descorou o seu ofício.
Não houve também, da parte do Hermínio, uma aproximação à esfera do poder, dando origem a este modelo em que vemos muitas editoras como projectos que vivem debaixo da saia de alguma instituição pública ou do poder local, dependentes do seu financiamento para irem existindo?
Não sei até que ponto essa faceta foi relevante no contexto global do trabalho da editora, mas que essa sedução do poder foi evidente, foi. Até porque, além de colecções que ele fez, como a Oceanos, por altura da Expo’98, entre tantas edições financiadas, houve a certa altura um choque muito forte com a APEL e a tentativa de alterar o modelo da Feira do Livro, etc.
Mas a mim o que me causa mais impressão foi nunca ter reconhecido que aquele modelo colegial é que deu força ao programa editorial. O Manuel Rosa, nesse período, ficou na sombra como alguém que estava lá a trabalhar para ele. Talvez diferenças de carácter entre um transmontano e um alentejano ajudem a explicar parte dessa ocultação, ou discrição, mas visto a partir de hoje eu diria que o trabalho da Sistema Solar é muito mais maduro do que o da Assírio de finais do século passado, porque a posição transversal — integrada, orgânica — do editor e designer melhora muito consideravelmente o trabalho realizado.
Por outro lado, se a Sistema Solar segue essa linha que é definida em grande parte pelas preferências do Aníbal Fernandes, o certo é que a outra face da moeda, o trabalho desenvolvido pela Documenta, está precisamente enquadrado nessa dinâmica das edições que dependem dos apoios institucionais, mas o que se perdeu foram as outras colecções, nomeadamente a aposta na criação literária, na poesia contemporânea…
É preciso não esquecer que Manuel Rosa é um escultor, formado em Belas-Artes à época de artistas como Cabrita Reis, Sarmento e Croft, hoje dominantes na cena artística e no mercado de arte. A Documenta está a privilegiar monografias de arte, catálogos de exposições e fotolivros com uma competência gráfica acumulada, que atrai até si quem queira publicar nesse ramo. Acho isso muito bom. Há uma mudança de rumo, apenas isso.
A poesia contemporânea foi em geral deixada a pequenas editoras, e isso é um sinal dos tempos: o trabalho mais difícil e arriscado de revelação de novos valores está a resistir corajosamente à fixação de nomes com carácter quase absoluto no cânone literário poético das últimas décadas, mas qualquer estreitamento da paisagem literária é um erro monumental. Qualquer que seja o gosto que cada um de nós possa ter, precisamos de conservar um espectro o mais aberto possível de expressões literárias e poéticas, e negá-lo é uma irresponsabilidade absoluta. E é com o triunfo dessa posição absurda que os supostos «grandes editores» julgam defender os seus autores…
Quais são, na tua perspectiva, os piores vícios do modelo actual de difusão das obras literárias?
Sou muito crítico em relação a festivais literários e eventos afins porque, em geral, estão a pôr na primeira linha da Leitura e da Literatura autores vivos, atirando porta fora autores que já não podem apresentar-se publicamente, ou porque nunca o fariam ou porque já morreram. E em qualquer época a voz dos mortos é indispensável a qualquer país. Sem as suas obras fundadoras não se tem, sequer, uma vaga ideia do que possa ser a Literatura enquanto expressão humana milenar. Ora, hoje em dia esta roda dos festivais forçou um entendimento demasiado restritivo do que seja o panorama literário português, e nada mais parece existir além disso. Os prejuízos dessa violência e os prejuízos do logro do Plano Nacional de Leitura — incapaz de defender esse indispensável espectro alargado de leitura e de literatura — abrem as piores perspectivas para os anos que virão. E não estou a falar apenas do que isso significará em perda da tradição que nos legou o século XX, para não ir muito mais longe: a memória literária portuguesa está a ser trocada por esta esclerose, apagando-se, e a ligação dos leitores com os escritores portugueses fica reduzida a esta pobre escolha entre vivos, e vivos que se submetem a essa irresponsabilidade dos empórios comerciais.
Isto é uma pequena forma de tirania. Os grandes grupos exercem uma pressão constante sobre os órgãos de imprensa, para que os seus livros sejam divulgados segundo directrizes de marketing. Tudo isso contribui para a erosão do espaço literário e da vida cultural entendida globalmente.
É o triunfo da efemeridade.
É, e definitivamente dos vivos sobre os mortos, alguns bem mais vivos, afinal, do que aqueles… Os autores que vão aos festivais e que podem autografar os seus livros e passar um tempo em amena cavaqueira com os putativos leitores. Mas que me interessa ter um autógrafo no livro? Eu quero é que o livro seja bom, que mereça ser lido. Quero lá saber se tem o meu nome rabiscado por quem o escreveu!
Parece que caminhamos para um entendimento do plano cultural como uma série de programas de acolhimento, como se à cultura coubesse estabelecer Casas da Misericórdia, para compensar as pessoas das suas tristes vidas, e que assim têm essas salas de estar em que se pede aos autores que se misturem com o público, insistindo-se na ideia do convívio familiar, dos autores que se repetem porque criaram já um laço afectivo com determinado público. Portanto, temos estes autores que dão colinho…
A vida do escritor é uma vida de solidão, de trabalho solitário. Respeitar um escritor é dar-lhe o máximo de tempo para ler, observar ou contemplar, e depois escrever os seus livros. Não é andar a pastoreá-los em festivais literários, encontros ou livrarias. O editor que insiste que o seu autor ande de um lado para o outro nessas coisas dá provas de inconsciência do que é a própria função do escritor. Tudo isto é um absurdo. Tal como essa obrigação de o escritor ter de publicar um livro todos os anos simplesmente para se manter à tona, para que não se esqueçam dele, é também um outro abuso do que é a literatura em si mesma. O livro está pronto quando o escritor o entende. Não lhe pode ser imposto um calendário nestes termos. E quando se organiza uma vida literária baseada em circuitos e ciclos promocionais está-se a perverter tudo aquilo que seria desejável. Parece até que se esqueceram de que o importante é deixar os autores em paz, sem estar a exigir-lhes coisas que nada têm a ver com o trabalho que dele se espera.
Voltando à questão da retribuição do trabalho dos escritores, consta que a Assírio sempre foi pouco séria nas contas que prestava aos autores, e que houve até alguns que nunca receberam nada a título de direitos, mesmo com livros esgotados.
Não te posso dizer grande coisa sobre isso porque desconheço esses aspectos. O que posso é contar-te a minha experiência. Como sabes, trabalhei com o Esteves Cardoso durante anos e acompanhei o que ele foi escrevendo como toda a gente da minha geração. Tenho muito orgulho de ter organizado o livro «Explicações de Português», que reúne textos em que sobressai a incidência da língua portuguesa nos textos do Miguel. Explicações de Português é o título de uma série de crónicas dele, e pareceu-me um bom título por ter essa duplicidade das explicações da língua portuguesa e o testemunho de um português que fala de si próprio. É o único livro do Miguel organizado por outrem. Com o sucesso galopante do Miguel, bastou à editora ir juntando as crónicas em sucessivos volumes, e entretanto apareceram os romances. Tive de esperar uns três anos para que o Hermínio concluísse que o trabalho que eu tinha feito, que foi muito mais do que pesquisar e coligir textos, mas passou por dar-lhes sentido e estrutura, fosse pago. Na opinião do Hermínio, aparentemente, bastava ele ser quem era, a Assírio ter o prestígio que tinha, para que alguém quisesse trabalhar para a casa. Pode haver muitas outras histórias deste tipo… não sei.
O que sei — como todos sabem — é que o Miguel deu imenso dinheiro a ganhar à editora, e o Hermínio em vez de ter reinvestido uma parte desse dinheiro na valorização do Miguel, na sua novidade no contexto da cultura portuguesa, mesmo que fosse, como te disse há pouco, dando-lhe autores que ele estimava para traduzir, não fez nada disso.
Publiquei no Independente um livro chamado Últimos Trabalhos de Samuel Beckett, uma coisa que me orgulho de ter feito, tanto por ter sido uma iniciativa minha como por ter mostrado a capacidade do Miguel como tradutor. Só teve a chancela da Assírio porque o Miguel insistiu, porque eles não fizeram rigorosamente nada.
Um editor de primeira linha sabe ir ao encontro das capacidades dos seus autores e das pessoas que trabalham consigo. Sabe motivá-los e dar-lhes condições de trabalho. Lamento dizer, mas não reconheço no Hermínio essa atitude. Foi muito importante para reavivar a importância de autores como Cesariny, mas quando reeditou A Intervenção Surrealista (1997) se limitou a replicar a edição Ulisseia (1966), sem ter convencido o seu amigo a fazer um prefácio ou comentário final que adiantasse algo mais, tantos anos passados. É o que se esperaria de um editor, é também um dos meus lemas: fazer o que falta.
E depois da passagem por esses editoras, pelo Independente, como é que vens a tornar-te este estudioso que se aplica no resgate das obras de figuras como Raul Brandão, Pedro da Silveira, Vitorino Nemésio…
Fui fazendo alguns trabalhos de organização de edições. No Independente fiz uma colecção de livros de viagens, incluindo um do João Bénard da Costa, sobre o Japão, depois fiz também a colecção Horas Extraordinárias, que teve 18 ou 19 títulos…
Essa colecção deve ser, entre as tantas que foram saindo ao longo dos anos com jornais, aquela que maior sucesso teve e que continua bastante traficada nos alfarrabistas.
E foi essa experiência que me deu treino para esse tipo de compilação exaustiva de textos. Um dos volumes mais importantes foi Pif-Paf de Millôr Fernandes, e outro A Guidinha Antes e Depois, de Luís Sttau Monteiro. São dois casos exemplares. O prestígio das crónicas de Millôr que duraram dois ou três anos no Diário Popular, ou o de Sttau Monteiro com a Guidinha, primeiro no Diário de Lisboa e depois n’O Jornal, deviam ter levado editores séniores, digamos assim, a algum esforço para resgatar essa memória marcante no seu tempo. Mas nada fizeram por isso. Tenho muito apreço por esse trabalho de recolha que fiz. Entre Jornalismo e Literatura há afinidades muito importantes.
Nesse aspecto, acompanhando tu a evolução do jornalismo, e continuando a escrever artigos de crítica no «Observador», não te parece que a perda desse laço entre jornalismo e literatura marca uma das rupturas mais decisivas para a perda de qualidade de ambos, e que sinaliza também a precarização da condição dos jornalistas, que passaram a ser uma classe muitas vezes sem grande formação cultural ou literária, e, por isso, incapazes de trazer alguma riqueza ao plano das letras?
A situação do jornalismo e da literatura, como da edição, são crises que vão a par. E a precarização do jornalismo como da edição resultam de dois erros tremendos, a meu ver. Por um lado, os cursos de jornalismo não são nada, não valem nada… Os melhores jornalistas não fizeram nenhum desses cursos. E os cursos de técnicas editoriais são a maior falácia que se criou em anos recentes. Tenho as maiores dúvidas sobre qualquer dessas opções formativas, tanto do ponto de vista da qualidade do ensino como da sua consequência, ou seja, do corpo de jornalistas e de editores que daí surjam.
No fundo, parecem programas de formação para o matadouro. Está-se a pedir aos jovens que invistam numa formação em jornalismo ou edição, onde, se tiverem a sorte de arranjar emprego, serão explorados e pagos miseravelmente.
Sim. Eu deixei de trabalhar para as editoras como revisor há já vários anos porque os valores pagos são absolutamente vergonhosos. Estão quase ao nível de uma forma de escravatura… E isso levou a que a qualidade do trabalho baixasse muitíssimo, deixando quem ainda procure desenvolver trabalho nesta área numa precariedade escandalosa, de que não se fala sequer. Não se pode pedir a alguém que faça uma revisão que lhe tome duas semanas para depois ser paga a noventa dias. Eu não teria cara para pedir isso fosse a quem fosse. Mas é prática comum. E não temos um debate sobre estas questões que estão a afundar o nível do trabalho editorial no nosso país. O trabalho dos editores portugueses assenta numa estrutura de arames, que é frágil e que está completamente errada. Assim, nem os editores têm prestígio nem o trabalho daqueles que estão no meio é dignificado, nem depois os livros que vão ficar cumprem critérios de qualidade que seria legítimo esperar. E depois, quando se fala de Plano Nacional de Leitura, e de apoios à edição disto e daquilo, também se está a fazer tábua rasa de todas estas pessoas cujo trabalho não é minimamente reconhecido. E a maior parte dos editores que temos neste país passa a vida atrás duma secretária, à espera que o telefone toque ou que um email chegue com uma proposta simpática e comercialmente vantajosa.
Está a tornar-se até comum que a primeira pergunta que muitos destes editores tão mediáticos façam a autores seja: quem paga? Ou por outra: que instituição vai custear a obra?
Já por si essa postura mostra todo o descrédito em que têm o ofício e o pouco crédito que reconhecem à sua própria capacidade de conquista comercial… Para organizar livros, atribuo um valor para o trabalho que representam e luto por esse valor. E entendo que eu só tenho de fazer a minha parte, e cabe ao editor pôr o livro cá fora e fazer com que os leitores o comprem. Não posso ficar dependente da capacidade de terceiros para vender ou não o livro. Portanto, atribuo um valor à cabeça, um valor realista face ao nosso frágil ecossistema cultural, com tiragens pequenas e todos esses constrangimentos da vida editorial. Não aceito ficar à mercê dos editores ao receber apenas uma percentagem das vendas, sabendo que depois as contas podem ser incertas — ou será um inferno receber alguma coisa.
Uma vez que estás já há quatro décadas ligado ao meio editorial, é curioso verificar que são as figuras do meio quem muitas vezes demonstra uma visão mais pessimista desta actividade, com os editores a acusar crises sucessivas, mas o que é sintomático é que este meio ainda está em grande medida entregue a personagens que estão há 40 ou 50 anos a ocupar este espaço e numa atitude perfeitamente passiva. Gostava de saber se vês isto como um problema: a não renovação do nosso meio editorial. De resto, o mesmo acontece na generalidade dos sectores culturais, onde a vida só começa depois dos 40, e quem tem menos que isso é considerado ainda um feto.
Essa questão é muito importante e, quanto a mim, decisiva. Só quem não queira ver é que não se dá conta de que está a surgir uma nova geração de editores muito capazes, com personalidade própria e uma clara noção do que querem fazer… Essa geração não está a ser acolhida por esses dinossauros, diria mesmo velhos e cansados dinossauros que dominam os grupos editoriais. Esse bloqueio à renovação mostra a decadência desse império, que não assenta sobre nenhum crédito firmado. Nenhum. As pessoas de quem estou a falar nunca se distinguiram por algo que tenham feito. Em contrapartida, esta nova geração está a construir o seu trabalho numa base — que eu privilegio muito — que é a da competência técnica transversal. Procuram os livros, sabem de artes gráficas, chamam a si todas as funções que se ligam à feitura dos livros. São editores independentes e sabem do seu ofício como poucos. A revolução tecnológica veio facilitar essa transversalidade… O actual boom do design gráfico e da ilustração, inclusive a renovação do livro infantil, mostra que estamos claramente perante um grande confronto entre esta nova geração de editores, em diferentes áreas, e a mais velha.
E continuo a sublinhar que é muito importante esta diversidade. Podemos gostar mais de uns ou de outros, mas proteger e estimular essa diversidade é fundamental. Já essa velha geração está apenas a perpetuar o seu domínio de maneira irresponsável. Não se deixa contaminar nem inspirar pelos jovens, e é tela própria a causa e a consequência duma crise de décadas. Falhou redondamente porque não foi capaz de dar à actividade editorial um prestígio social fortemente distintivo, servindo de exemplo, trazendo valores, abrindo perspectivas e criando diálogos.
Se alguma vez viermos a ter essa comunidade editorial amadurecida e competente, ela virá destas novas gerações de editores ditos independentes, e não daqueles a que me refiro. Gostaria até que houvesse um debate público sobre esta situação, para ver se algo muda no panorama da vida editorial. Temos este caso flagrante do Plano Nacional de Leitura, que foi apropriado para servir um círculo restrito de autores e obras, e não uma perspectiva panorâmica das letras portuguesas.
O Plano Nacional de Leitura não se transformou num organismo de articulação dos planos comerciais daquelas editoras que conseguem que os seus próprios autores integrem os júris anuais e, assim, defendem as suas agendas?
Há muito a dizer sobre isso. Depois de 15 anos, o Plano Nacional de Leitura, aliás recentemente renovado, dizem eles, nunca foi sujeito a avaliação independente. Que virtudes teve? Desconheço. Esse escrutínio falta, de resto, a outras áreas culturais. O Jornal de Letras, que celebrou sozinho os seus 40 anos, nunca foi escrutinado. Era bom que se fizesse um levantamento que nos permitisse verificar que autores ali são referidos, quantas vezes, porquê, e quais aqueles que foram excluídos. Isto daria uma radiografia do império da vida cultural portuguesa por figuras que se tornaram omnipresentes por afinidade política ou amizade pessoal. Seria muito bom que alguém como João Pedro George pudesse dedicar-se a essa quantificação: quantas capas fulano ou sicrano tiveram ali, quem foi privilegiado e quem foi sistematicamente esquecido.
Tens a convicção de que um índice desse tipo de incidências bastaria para expor uma lógica pornográfica na forma como o esquema de promoção se sobrepôs critérios de avaliação de qualidade ou de divulgação cultural?
Sem dúvida. Até estranho que a necessidade desse tipo de levantamentos nunca tenha sido defendida. O apoio que o Estado dá a uma publicação como o JL deveria obrigar, por si só, essa avaliação diacrónica. E isto pelo privilégio que é dado a este periódico e não a outros, através de assinaturas, contratos do Instituto Camões e outras estratégias cumulativas de apoio. Não ver apenas quem compareceu e quem foi excluído, mas também como uma certa oligarquia «cultural» (entre aspas…) se estabeleceu e pôde prejudicar a nossa vida…
A política de incentivo à leitura, através das novas bibliotecas, é outra falácia que eu costumo sublinhar. Gastou-se muito dinheiro público na construção de edifícios, equipamentos municipais sem dúvida importantes, mas essas bibliotecas raramente compram livros. O caso da Biblioteca Orlando Ribeiro, que tem o nome de um homem absolutamente extraordinário, não me deixa dúvidas quanto a isso. E isto em Lisboa… Se houvesse bom jornalismo cultural, todas essas coisas eram escrutinadas ao pormenor: quanto dinheiro as autarquias gastam, por ano, no acervo das suas bibliotecas e quanto gastam em festivais literários que não são mais do que montras e trampolins comerciais para algumas editoras?
Para editoras que já estão firmadas, porque mesmo nesse aspecto é curiosa a promiscuidade entre o poder local e os grandes grupos.
Sim. Criou-se essa fantasia de que os festivais literários seriam um incentivo à leitura, mas o que me parece é que eles são basicamente a fixação de um cânone contemporâneo de autores que são promovidos através deles. E todos os outros que seria importante conhecermos?
E acontece que o jornalismo cultural fica debaixo de fogo precisamente quando foge a essa moldura da divulgação, do marketing, como se este jornalismo devesse limitar-se a prosseguir o esforço de venda dos editores, das discográficas, das distribuidoras ou dos tipos que organizam eventos de música ou outros.
Sem dúvida. E por isso é que referi o JL, que é o primeiro e mais claro sinal de que o jornalismo cultural perdeu de todo a sua função e credibilidade. Somos europeus, mas em geral não temos a menor noção comparativa daquilo que é feito nos suplementos, páginas e revistas culturais dos outros países da Europa. A partir do momento em que tivéssemos esse ponto de comparação, ficaríamos esclarecidos sobre a miserável atenção que dedicamos a assuntos culturais.
É como se os directores de jornais não estivessem convencidos de que o próprio jornalismo é um fenómeno cultural. Assim, não estão a privilegiar o público que poderia, depois, suportar a própria circulação dos jornais.
A pessoa que logo de manhã sente necessidade de ir comprar à banca o jornal, ou que o lê no telemóvel ou no computador é, sobretudo, um leitor. E se lê jornais, lê livros. Quem lê livros também em princípio terá mais interesse por ler jornais. Mas a inferioridade do nosso jornalismo atinge ainda o teatro, a música, o cinema, mas igualmente o património, o ambiente, a jardinagem, a aquitectura… Tudo isso desaparece dos jornais, decididos a ser câmara de ecos das esferas do poder, da intriga política, da saloiice dum «debate» com um ou dois temas por semana. E quem poderia mudar isso, demitiu-se.
O Esteves Cardoso chegou a dedicar uma página inteira do «Independente» a um poema, inédito ou traduzido… Uma página inteira de um jornal dedicada a um poema parece-nos hoje uma coisa bem bizarra. No entanto, já foi uma tradição: Alexandre O’Neill fez isso n’A Capital dos anos 60, por exemplo… A presença da literatura na imprensa diária recuou tanto, que perdemos qualquer noção do que foram os jornais de outros tempos.
Mesmo aquilo que hoje se chama crónica nos jornais já não tem nada que ver com esse género quando se lhe ligava um certo prestígio literário. Hoje, os colunistas dedicam-se meramente ao comentário político ou ao que quer que seja a controvérsia da semana.
Quando fiz a colecção Horas Extraordinárias, o meu objectivo era precisamente valorizar essa componente literária-cronística dos jornais e das publicações periódicas. A «Guidinha» do Sttau Monteiro era um prodígio literário de esquiva à censura, quase uma habilidade tauromáquica em tipo… Os editores portugueses que estão em maior evidência esqueceram-se completamente do compromisso com a herança literária, inclusive com a do tempo em que eles próprios eram jovens leitores.
E em relação a estes grandes investimentos feitos para criar embaixadas culturais que se dissolvem depois de uma Feira internacional, na esperança de deixar alguma semente?
Pessoalmente, tenho a maior dúvida acerca da virtude e do benefício das grandes embaixadas literárias como as recentes em Bogotá e México, com orçamentos milionários. Não há verdadeiro escrutínio acerca da escolha dos «eleitos» nem balanço acerca do que por lá foi contratado ser traduzido com apoios públicos portugueses. A nossa diplomacia «cultural» tem essas gabarolices de grande espalhafato, mas é quase nula no resto do tempo, ou uma agência de viagens para o amiguismo vigente.
Podes falar-me, então, das obras e autores que tens vindo a resgatar?
O meu trabalho mais consequente é sem dúvida a recolha de dispersos de Raul Brandão, que não se ficou pelas 500 páginas A Pedra Ainda Espera Dar Flor, de 2013, e pelas 500 de Cinzento e Dourado, de 2017, e continua para um novo volume para o qual já escrevi os primeiros 50 novos artigos e um dia será publicado sob o título de Ainda Raul Brandão. Também concebi e produzi a colecção «Horas Extraordinárias» do semanário O Independente, em 2004, que as pessoas recordam com alguma estima. Fui responsável directo por alguns desses títulos, como Coração Acordeão, de Alexandre O’Neill, que reuniu crónicas esquecidas dos anos 1960-70 e pouco depois seria aproveitado em livro organizado por Maria Antónia Oliveira. A esse tipo de resgates tenho dedicado muito do meu tempo, como sucedeu com Na Prática a Teoria é Outra de Victor Cunha Rego. Também pela Dom Quixote sairá, creio que no fim deste ano, Podia Ter Sido Pior. Escritor 1953-2020 de José Cutileiro, infelizmente póstumo.
Organizei há muitos anos Explicações de Português, de Miguel Esteves Cardoso, e Vida Moderna de Maria Filomena Mónica, dois casos muito evidentes — com José Cutileiro, Vasco Pulido Valente e Rui Ramos — de académicos formados em universidades inglesas, donde voltaram com um talento literário aguçado, rompendo com a grande mediocridade da escrita universitária portuguesa, uma pesada herança que temos, ainda hoje.
Mas nem sempre fui bem acolhido nas minhas iniciativas. Tive de esperar quase dez anos pela ocasião de uma nova edição da Obra Completa de Vitorino Nemésio para conseguir editor para a recolha dos seus avulsos, quatro décadas depois da morte do grande escritor açoriano, por incrível que pareça. Ainda não consegui levar adiante a edição das críticas e crónicas de cinema de Nuno Bragança, boa parte delas escritas sob pseudónimo, e às quais atribuo grande valor para se entender a originalidade da sua narrativa de inspiração cinematográfica. Também não tive sorte com a tentativa de reunir em livro as excelentes crónicas londrinas do poeta Alberto de Lacerda. E agora estou a fazer o que posso para pesquisar e compilar até 2022, no centenário do escritor, os escritos de Pedro da Silveira, conhecido como poeta mas que também foi competentíssimo e arguto crítico e historiador literário, e gostava muito de fazer outro tanto com a obra de Roberto Nobre, crítico de arte e cinema, muito activo e considerado nos anos 40-60 mas hoje totalmente esquecido.
Face agora a esta pandemia, se a ministra da Cultura se lembrasse de ouvir pessoas que estão ligadas ao sector do livro e que não estão apenas interessadas em defender os seus interesses, em sacar algum, terias algum plano de emergência para o sector?
Se a sra. ministra da cultura me chamasse pessoalmente para me ouvir sobre a situação do livro, eu não iria, definitivamente, mas aceitaria falar num debate com muitos outros protagonistas desta actividade em que ela quisesse ouvir-nos. A hecatombe produzida pela pandemia pode ser um bom motivo para discutir uma crise que é antiga e tem sido sucessivamente mascarada, mas merece ser avaliada sobretudo com as perspectivas de uma nova geração de editores independentes ou assim chamados, que estão a fazer um belíssimo papel do meu ponto de vista. Dinaussauros excelentíssimos que estão nisto há quarenta ou cinquenta anos são muito mais a parte do problema do que a da solução. São o comboio de mercadorias incapaz de travar antes da ponte que entretanto ruiu…
Os grandes grupos editoriais operam com um pequeno exército de tradutores, revisores, paginadores que tratam como pequenos escravos modernos, sem repúdio ou escândalo de quem directamente os contrata e dirige, e espero que esta grande crise seja uma ocasião de alterar essa indignidade. São profissões essenciais mas muito degradadas no seu devido valor remuneratório.
As consequências vão ser duríssimas, devastadoras, e os pequenos editores muito criativos e atentos que já trabalhavam em regime estóico, escapando a esse garrote profissional dos grandes, e que foram capazes de fixar públicos fiéis e solidários em campanhas de pré-compra etc., podem sucumbir, é verdade, mas também podem recriar ou ajudar a recriar uma nova relação leitor-autor-editor, que do meu ponto de vista passa em boa parte por um comércio livreiro directo, que acabe quanto possível com as regras actuais da consignação em livrarias, que pagam só uma pequena percentagem, o fazem tarde e a más horas (ou mesmo nunca), devolvem livros como querem, etc.
Para terminar, e uma vez que falámos tanto dos editores que conheceste, gostava de saber quem foram aqueles que te marcaram decisivamente, seja pela negativa seja pela positiva.
Devo muito a Maria Piedade Ferreira, que considero a melhor editora da sua geração, que sabe tudo — e faz tudo — do ofício sem vaidade nem exibicionismo, e lembro-me sempre de Rogério de Moura, dos Livros Horizonte, pela grande gentileza de trato e sólido trabalho para o bem comum através dos livros. São esses os meus heróis. E depois há os outros… Aqueles que sem escrúpulos se julgam imunes, convencidos de que uma palmadinha nas costas, um arroz de cherne num almoço «de amigos», o rápido passar do tempo — «deixa lá isso, que já lá vai…!» — e a brutalidade dos poderosos sobre os pequenos apagam as pulhices que fazem a colegas de ofício, que lhes deviam merecer respeito. Refiro-me a Francisco José Viegas, que teve o desplante e a ousadia de reimprimir há um ano Vida Moderna de Maria Filomena Mónica, sem registar o meu nome como seu organizador no frontispício ou na ficha técnica, como estava registado na primeira edição. Saiu em 1997, foi proposto por mim (o título, inclusive) e ainda hoje o considero como um dos meus melhores trabalhos de editor. Para cúmulo disto, a Quetzal tem como slogan «Autores que não perdoam». Pode ter a certeza que não!