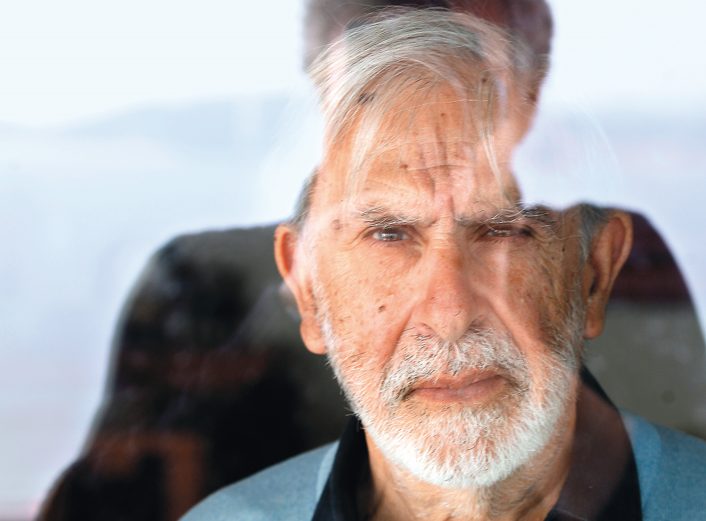Contando-se pelos dedos de uma mão (duas num dia de imoderado optimismo – mas hoje não é esse dia) os grandes escritores que nos restam, a notícia da morte de Maria Velho da Costa, este sábado, deixou a sensação de que nos fora cortado um dedo – e não o mindinho, mas o polegar. Se não foi um golpe a frio isso deve-se à sua despedida da literatura ter sido feita há alguns anos. A perda não deixa, no entanto, de ser irreparável. Aos 81 anos, desaparece a autora que, há meio século, com 31 anos, publicou “Maina Mendes”, provocando um estremeção no panorama da narrativa portuguesa. E esse foi só o aviso de alguém que veio com um propósito firme: “Trabalhar o desvio, acaso o desvario, dentro do jogo do mundo”. A sua intervenção nunca foi da ordem da grandeza, mas da exemplaridade, num rigor em que a escrita se impunha as maiores dificuldades. Assim, o preço de admissão era dos mais altos nesta língua. Era-lhe difícil pôr uma palavra a seguir a outra, atenta a essa fraqueza, esse pecado natural inscrito na própria linguagem, quando, ao invés de um indócil vigor, se cai no ramerrão ou nesses abismos bocejantes. Ela resistia-lhe. Tomava a escrita como um entrar devagar e aos gritos na água do mar, e depois ficar lá horas, até dar por si roxa e a tremer. Foi essa a descrição que nos deu em “O Livro do Meio”, um falso romance epistolar que foi montado a partir de cartas trocadas com esse fito com Armando Silva Carvalho, entre Fevereiro e Junho de 2006. Para o efeito de ir digerindo marés, tinha uma garrafa, e o seu trabalho com a língua era um “apertar a gosto o gargalo”, como quem afina essa suficiência aonde a imensidão se recolhe num apuro embriagador.
Há já alguns anos que o seu nome ecoava uma longa ausência, mais sentida por serem hoje tão raras as paragens obrigatórias na ficção portuguesa. O seu último romance, “Myra”, fora publicado em 2008, e disse então do muito que lhe custou e que não contava que houvesse outro, a menos que fosse acometida de “um acesso de demência senil” que a levasse para lá do que tem sentido escrever. “Há anos que me despeço da literatura”, confessou noutra ocasião. “Perdi o impulso, receio o tumulto.”
A diferença está nessa não-adesão, no não ir na cantiga, numa recusa em facilitar. Ao ponto de ter posto até em causa a sua condição. “Não sei se sou escritora. Não me há estatuto de especialidade que sossegue. Sei que foi nesta língua que resisti ao que até hoje pretendeu colonizar-me o sentir e o pensar, acaso sem que o conseguisse.” O que havia a defender, pelo contrário, era o próprio desencontro, o não coincidir consigo mesmo, antes reconhecendo, como acontece numa das crónicas de “O Mapa Cor de Rosa”, que “se escreve sempre em terra alheia, em língua que não é mãe, assim de entre amante e madrasta. Alucinando vozes e casos que passam a ser ouvidas e acontecidos. Às vezes com tal vigor que farão e desfarão quem ainda nem nasceu. Porquê, para quê, para quem? A resposta talvez seja antes – como. Como quem se alimenta do que derrama, e os fluidos do corpo são tantos, da hemorragia à urina para fazer leites, a metáfora escorre”.
Nunca foi uma autora muito lida. E se o sabia e disso tinha alguma pena, não trocava a caneta de mão para ir atrás desse registo mais rente ao órgão que pulsa na sua triunfante vulgaridade. “Perdoem-me a dificuldade de escrita, descrita. Se eu vos desse um gesto tão simples quanto o deglutir de uma lâmina, a laceração interna – falemos claro – a morte por impaciência – como seria mais fácil converter-vos à decifração, ao acto exausto, de ler.”
Tendo-se estreado com “O Lugar Comum”, um livro de contos, em 1963, tudo começou nos tempos do colégio, numas redacções e cartas que escrevia e lhe valeram elogios, mas a menina lisboeta, de boas famílias, com esse fio tenso seguro entre as duas mãos não demorou a sentir o esticão da realidade, e as questões de classe interpuseram-se desde cedo na sua obra. Assim, percebe-se como Maria de Fátima Bivar Velho da Costa, nascida em 1938, e matriculada num colégio de freiras – o Colégio das Escravas, na Lapa –, viu o ambiente protegido ao seu redor ceder como uma ficção limitada, que não precisa de um grande confronto com o mundo, bastando estudar esses códigos e ilusões atrás dos quais a elite se vai barricando. Depois do colégio, licenciou-se em Germânicas na Faculdade de Letras de Lisboa e, por uns tempos, foi professora no ensino secundário. E se a certa altura, já depois do 25 de Abril, por um breve período chegou a aderir ao Partido Comunista, já em 1977, se dava conta de podia estar mais próxima desta ou daquela posição ideológica, mas faltava-lhe essa dose de convicção que muitas vezes nos cala, faz engolir, ir com os outros ou as outras. “Não saí a mal”, garantiu mais tarde, adiantando: “saí por declaração de ‘incoincidência’ minha”. E numa entrevista ao Expresso, em 2001, contrariava a ideia de que a sua obra correspondesse a um qualquer ideal de justiça, por mais lúcida ou consciente que fosse: “não sou nada programática nem tenho a mínima intenção de resolver problemas sociais com aquilo que escrevo. Se tivesse, escrevia ensaios ou tinha uma actividade cívica e política mais intensa.”
Talvez seja esta recusa em representar de acordo com um guião o que a levou a pedir licença e a afastar-se do elenco da novela das “três Marias”, depois de a publicação de “Novas Cartas Portuguesas” (1972), livro escrito a seis mãos com Maria Isabel Barreno e Maria Teresa Horta, e que, após ser considerado “pornográfico e atentatório da moral pública” pela polícia de costumes do Estado Novo, alcançou repercussão internacional, o que fez com que, em vez de ser tomado pelo seu valor literário, fosse lido (ou, sobretudo, não lido mas tido superficialmente) como algo da ordem panfletária. No que toca ao feminismo, se sempre se mostrou empenhada na luta pela igualdade de direitos das mulheres, Maria Velho da Costa não só não estava interessada em ser um ícone dessa ou de outra causa, como admitia: “O feminismo assanhado irrita-me, dá poder ao agressor”. E quanto às “Novas Cartas Portuguesas”, tinha pena que não fosse lido na diferença que marcou como obra literária em que três autoras se desafiam a criar em conjunto, não apenas não sabendo rastrear quem fez o quê, mas indo ao ponto de adoptar o registo umas das outras, numa exploração literária em que foi dado um verdadeiro salto experimental.
Quanto à especificidade do seu ponto de vista, Velho da Costa reconhecia que havia nela “certos traços de cronista, que não cultivo voluntariamente”. E acrescentava: “O tempo presente vai-me afogando até ter a necessidade de o elaborar. Não me lembro nunca de ter montado uma estrutura que não fosse relativamente colada ao aqui e agora.” Mas é em “Casas Pardas” (1977) que está a chave da forma como “a sua escrita integra e mimetiza a heterogeneidade dos discursos, pratica a carnavalização das linguagens, atravessa uma Babel de sociolectos, realiza a hibridez, a mestiçagem, a crioulização e faz de tudo isso uma festa literária, com a sua apoteose nos processos de ironia, de sátira, de paródia, de cómico” (António Guerreiro).
Na já referida entrevista ao Expresso, Velho da Costa recorda como naquele romance cunhou a expressão “crioulo galáctico”, e como isso aponta para essa visão pregnante da literatura como um campo em constante desdobramento, a absorver contrastes, produzir tensões e reorganizar temporariamente o mundo. “Embora o meu livro seja carregado de literatura, não é um livro que sobrevaloriza a linguagem literária e que a coloca acima de todas as outras. É a tentativa de meter a literatura em todas as linguagens, de dizer que todas as linguagens podem ser inscritas como arte. Muito embora eu seja ‘atraiçoada’ pelo facto de este jogo não poder ser feito fora do texto literário.” Na mesma entrevista, Velho da Costa acrescentava: “Vivo a palavra de uma maneira que não é redutora, mas achando que a literatura é apenas a plataforma para outros discursos. A literatura não me desilude porque, para mim, foi sempre passagem para outra coisa.”
Dois testemunhos
Luísa Costa Gomes:
Conheci-a no princípio dos anos 90, numa viagem absurda à Polónia. Nessa altura ela era já A Escritora, o Metro-Padrão, e eu aproximei-me a medo. Tratou-me por tu e passei a ser, nos dias melhores, a Luisinha. Que privilégio! Foi com ela que aprendi a não ter vergonha desta coisa de escrever acima e pelo meio de tudo. Ela foi o meu modelo para tantas coisas, é difícil sequer enumerá-las. Mas quem se chegava era recebido como par, amigo, parceiro em tudo o que lhe interessava. Lia tudo de toda a gente. Na própria obra, era duma exigência e de um rigor que me deixava literalmente sem fala. Há momentos, passagens, em que a sua escrita esmaga. É demais, é boa demais, é pirotecnia pura. Ela sabia, dizia, “tem muito molho!”. Faz molho, faz molho, não tem mal nenhum, a gente se não quiser, não come. Ler, por exemplo, e é apenas um exemplo, as Casas Pardas, é uma experiência de montanha russa linguística e emocional. Fraseadora, visionária… Quem era ela? Nunca mais acabaria de falar. Para o comum dos mortais (sempre a Agustina à ilharga!, como ela dizia) é uma das Três Marias. Se soubessem a irritação que é para um escritor ser conhecido pela obra conhecida. Picasso? Sim, é aquele que faz umas mulheres só com um olho. Nessa altura em que nos tornámos próximas, a atravessar uma rua em Varsóvia, em vésperas de reeleição de um tal Walesa que proibira os polacos de se embebedarem, ela disse-me isso: obrigadinha pela admiração, mas gostava que me lessem, já agora! Depois acabou por se afastar. Como é que estás? “Dentro do péssimo, bastante bem”. Resta-me dizer o óbvio, para quem quiser: os livros de Maria Velho da Costa não se parecem com nada, são dela, far-lhe-ia grand plaisir que os fizéssemos nossos.
Maria Sequeira Mendes:
«Marcha, marcha contra a neve, por vales e ventos, e se a neve te soterrar, paciência, há sempre alguém que apanha os teus pertences e continua».
Myra
Na página 254 de Casas Pardas há um conto chamado «A Dama das Neves» com que aprendi a ler. Na altura, a minha tia-avó vivia em Londres e visitava-nos quando vinha a Lisboa. Pedi-lhe vezes sem conta que me lesse com a sua voz pausada «A Dama das Neves», conto escrito no ano em que nasci. Admirava-me com as palavras que lá se encontravam, como «bojo», «brejos», «barbacã» ou «aljôfar», cujo significado não compreendia. Mais tarde, pareceu-me egoísta que o grande demónio tivesse pedido uma filha só para lhe fazer companhia, e que as primeiras palavras que esta dizia ao pai fossem «Bom dia, Senhor Pai, dê-me a sua bênção», mas essa conversa foi adiada, porque «bênção» tinha dois acentos, assim como «órfão», explicou-me ela. Bem mais tarde, quando li Novas Cartas Portuguesas regressámos à solidão do grande demónio e pusemo-lo à conversa com Próspero e Miranda, em A Tempestade. Para a minha tia, Miranda era a personagem feminina mais inteligente de Shakespeare, eu tinha muita pena de que ela se tivesse apaixonado pelo primeiro homem que conheceu. Quanto ao grande demónio, era um mistério para mim o motivo pelo qual, apesar de ter lareiras de oiro e camas de minério de prata e pedras preciosas (note-se o plural em camas, a acentuar a riqueza e a solidão do demónio), não se limitava a mudar do mais alto pico da mais alta serrania para um sítio onde houvesse mais gente. Estranhava também o facto de alguém, que nunca sabemos quem é, fazer a vontade a um demónio, dando-lhe nada mais nada menos do que uma filha. Parecia-me, todavia, bem que esta lhe nascesse do coração, pois isso poderia indicar alguma esperança para tal vida a dois. Na altura, sabia menos coisas, eu. Quando a meio da história Madalena, aflita, pergunta a Elisa se o demónio morre, esta responde-lhe: «- Não, minha querida, os demónios nunca morrem, coitados». É-me difícil falar da minha difícil tia-avó, que contava as histórias da família como se fossem «A Dama das Neves». Foi com ela que aprendi a conhecer palavras, a interpretar um texto, a gostar de Shakespeare e de gatos, a ser mordaz e a reconhecer bom whisky. Isso aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo em que percebi que «A Dama das Neves» era uma tragédia e que, se os demónios nunca morrem, é porque ficam connosco mais tempo do que deviam.