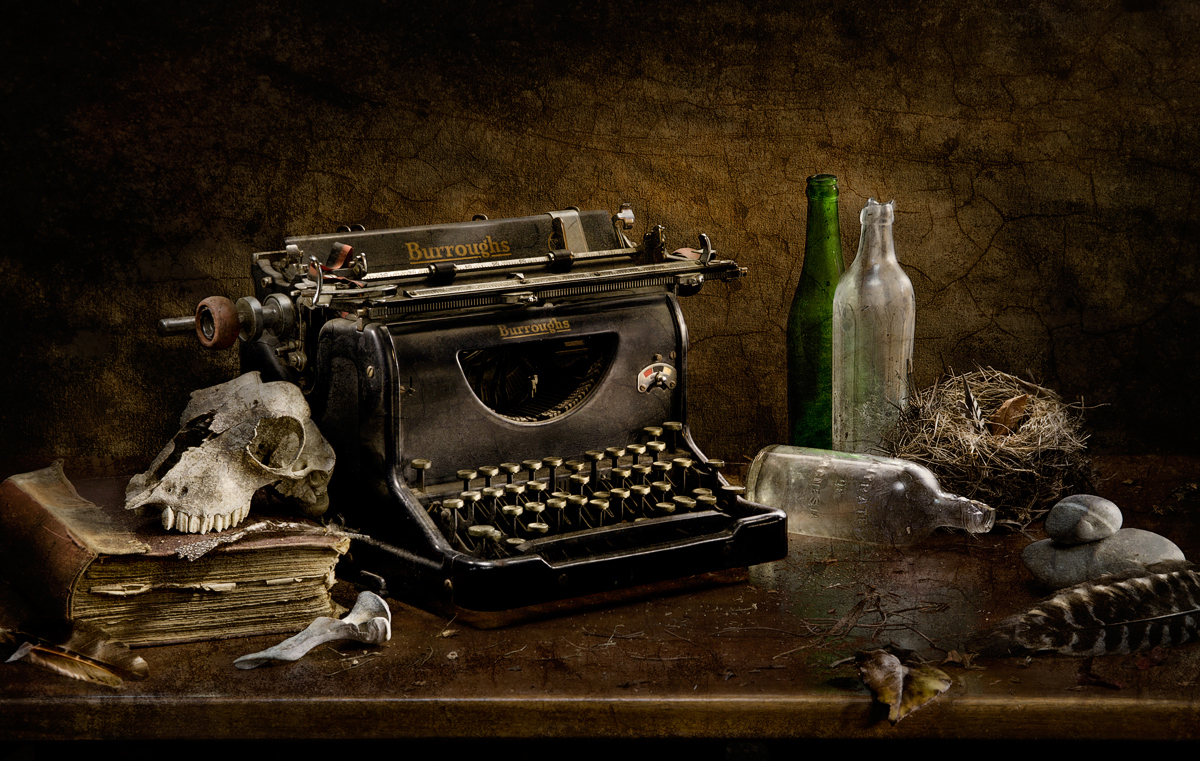Há uma conhecida fórmula inglesa que costuma surgir em grande parte das análises como um dos sintomas de uma lenta modificação do campo literário: publish or perish. Glosada de diversas formas, talvez seja tempo, no entanto, de perceber que ela transporta consigo uma figura recente bastante interessante: o último escritor. Porque talvez já não se trate da necessidade de publicar incessantemente, sob pena de desaparecer o favor da crítica e dos leitores, mas de manter uma relação económica com o tempo, o último escritor é aquele que nada mais faz que não seja escrever – sendo isto, na realidade, o menos interessante.
Quem ouça na formulação “último escritor” uma referência a Maurice Blanchot, um dos maiores nomes do pensamento do século XX, ficará, no entanto, decepcionado. Porque o escritor que já não escreve, que se retirou da escrita, cujo fantasma assombrou grande parte da produção literária moderna, cedeu o seu lugar ao escritor que está constantemente a escrever, mesmo que isso já não signifique nada de concreto – e não precisa de corresponder: o livro tornou-se, doravante, supérfluo. O silêncio intempestivo e eloquente daquela figura negativa, por sua vez, que correspondia a uma linha de fuga da obra e que, de certa forma, era ainda parte desta, desapareceu para dar lugar a uma tagarelice constante que se substitui a qualquer obra e que, na realidade, a torna redundante: já não é preciso publicar nada, basta saber gerir o tempo, prometer, para breve, uma outra obra, falar de novos “projectos” que estão aí, quase a chegar, na iminência de um futuro que se esgota na formulação da sua possibilidade.
É desta forma que o nosso último escritor é uma espécie de negativo, de figura reactiva que começa a ser desenhada, noutros locais, na década de 80 do século XX – já Lyotard diagnosticava essa doença, essa injunção a ser comunicável; e que podemos traçar, quase ponto por ponto, a contraposição entre ambas as figuras: de um lado, a maldade secreta, os fins inconfessáveis, que faz com que o poeta se torne “o amargo inimigo da figura do poeta”, que responda apenas a uma busca obscura; do outro, a bondade pública, a afirmação continuada da necessidade da literatura (mas quanta maldade há nesta bondade, quanto de inconfessável e vergonhoso ela não trai); de um lado, uma interrogação que faz com que cada livro “decida absolutamente dela” (da literatura), “longe dos géneros, fora das rúbricas”, do outro, a certeza de uma função – social, histórica, académica – que é necessário sublinhar e preencher; de um lado, uma certa pobreza e um certo vazio, uma fúria, uma solidão maldosa; do outro, um monstro bem educado e domesticado.
O último escritor, aquele que ultrapassou a necessidade da obra, é a literatura no seu estado de apoteose. Por um desses estranhos paradoxos, no momento em que ele não faz outra coisa que não seja escrever, a literatura, agora chamada ficção, coloca a publicação do lado do supérfluo. E isto inaugura toda uma nova economia onde o que mais importa é esta familiaridade, uma relação pessoal com o escritor – que se conhece, com quem se fala, a quem se pede a opinião. Como dizia uma reportagem há uns anos sobre uma mesa redonda com escritores num desses múltiplos festivais: “nem sequer se falou de livros”.