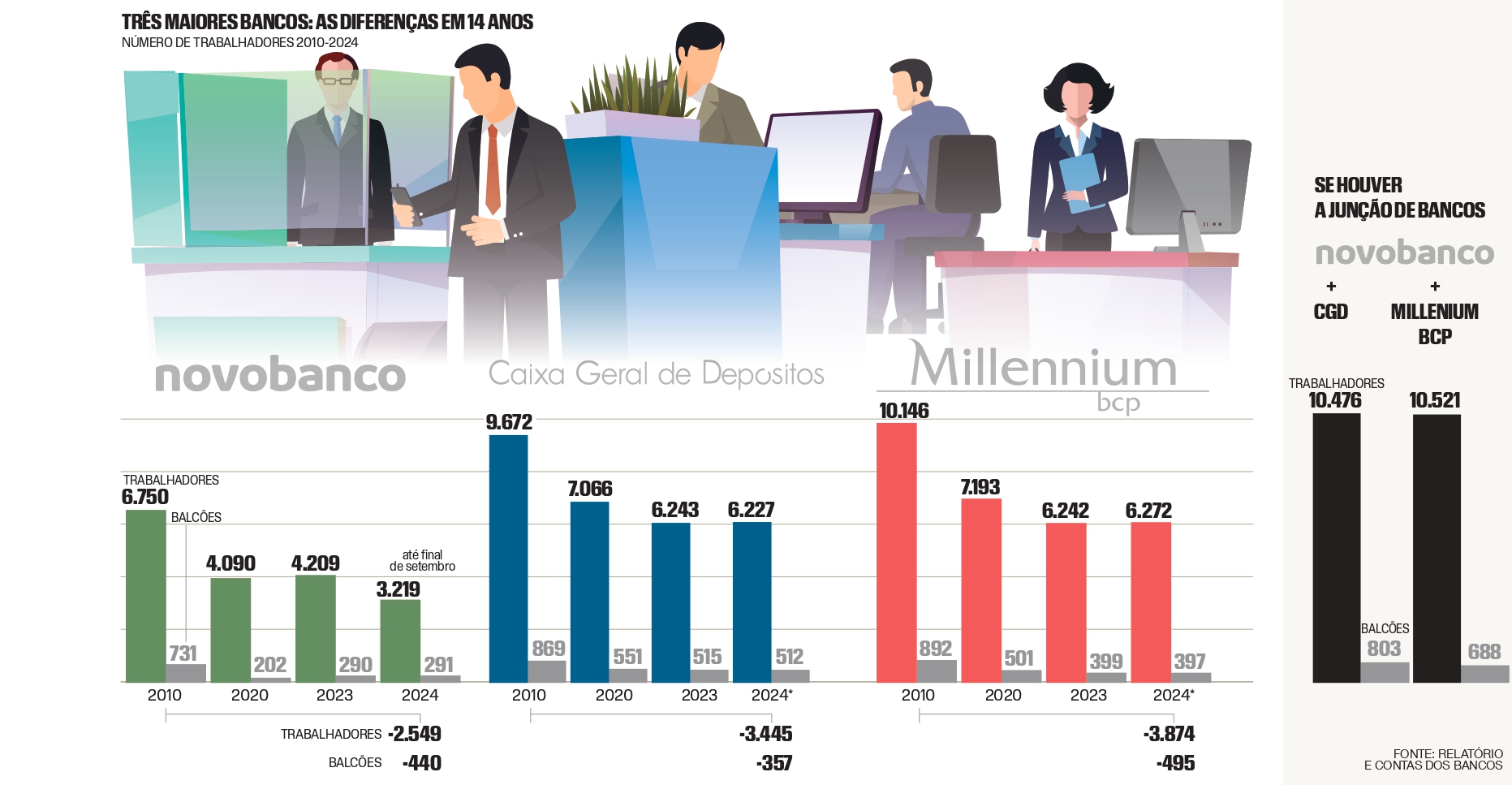Há quem diga que a final do Campeonato do Mundo de Futebol Feminino de 1999 foi um momento impossível de repetir. A tarde californiana de Pasadena estava envolta num calor tão abrasador que poderia rachar catedrais, uma humidade de ananases e, no entanto, 90 mil espetadores juntaram-se na sauna do Rose Bowl para se transformarem na maior multidão jamais reunida para assistir a uma prova desportiva disputada por mulheres. Os números assustavam: só nos Estados Unidos, mais de 40 milhões de pessoas estavam embasbacadas em frente aos ecrãs de televisão para verem, em direto, o confronto entre as seleções dos Estados Unidos e da China. Os minutos passaram, também eles derretidos, e vazios de golos. Na decisão por grandes penalidades, Brandi Chastain resolveu as coisas para as americanas: 5-4. A festa foi de arromba. As companheiras de equipa lançaram-se sobre Brandi e rasgaram-lhe a camisola em pedaços, deixando-a de sutiã negro à mostra. Os jornais americanos trataram de arranjar uma designação bem ao seu estilo para as vencedoras: 99ers. Muitos estão de acordo que terá sido, provavelmente, a melhor equipa de todos os tempos.
Passaram-se 20 anos. Os Estados Unidos disputarão este domingo, em Lyon, mais uma final, desta feita contra a completamente inesperada Holanda, sem palmarés no futebol feminino a este nível e que atingiu a fase final da prova apenas pela segunda vez. De alguma forma, uma repetição do que aconteceu com a Holanda de Cruyff, Neeskens, Kaizer e Krol em 1974. A similaridade não fugiu aos mais atentos.
As meias-finais foram renhidas como poucas: Estados Unidos, 2 – Inglaterra, 1; Holanda, 1 – Suécia, 0. Mas como não atribuir o favoritismo total a esta nova equipa americana na qual se destacam Christan Press, Alex Morgan ou Heath, uma tripla ofensiva que ajudou a esmagar a Tailândia (13-0) e a vencer, consecutivamente, o Chile (3-0), a Suécia (2-0), a Espanha (2-1), a França (2-1) e a Inglaterra (2-1) num percurso impecável? Sem a mesma pujança, as holandesas foram igualmente eficientes: Nova Zelândia (1-0), Camarões (3-1), Canadá (2-1), Japão (2-1), Itália (2-0) e Suécia (1-0). O triunfo sobre as suecas, obtido após prolongamento, entrou para o primeiro lugar dos momentos mais brilhantes do futebol feminino laranja. Em Decines, Jackie Groenen, com um remate de fuzil aos 99 minutos, colocou o seu nome na história do desporto dos Países Baixos. Resta saber se esta façanha é o topo de uma vontade ou se, a partir de agora, as holandesas estarão convencidas de que não há limite para o céu que se abriu, azul-promessa, nesta aventura francesa.
Realidades Não deixa de ser curioso que a seleção feminina dos Estados Unidos domine de forma tão impressionante o mundo – três títulos, uma final perdida e três terceiros lugares em oito edições da competição, o que significa que nunca até agora ficou fora do pódio –, enquanto a seleção masculina (que na madrugada do mesmo domingo vai disputar com o México a final da Gold Cup, a prova que põe em confronto os países da América do Norte, América Central e Caraíbas) não tem ido além de uma banalidade irreversível. Anson Durrance, o filho de um grande negociante da área petrolífera, nascido em Bombaim, Índia, em abril de 1951, é tido como o maior responsável por esta realidade. Treinador em 1991, ano do primeiro Mundial, organizado pela China, que os Estados Unidos ganharam batendo a Noruega na final de Ghuangzou (2-1), Durrance foi um crente na capacidade física das suas jogadoras. A sua filosofia baseava-se em fazer de qualquer uma das suas pupilas atletas de rara força e elasticidade. A tal ponto que Michelle Akers, a médio ofensiva da equipa de 1999, declarou mais tarde, publicamente, após ver a sua carreira interrompida por uma síndrome de fadiga crónica: “As outras podem ter nascido em países com cultura de futebol e absorveram essa cultura. Mas nós acreditávamos que, se não fôssemos as melhores, acabaríamos por nos tornar as melhores. Sempre com um espírito de luta e de crescimento físico que nos permitia, mesmo não sendo grandes jogadoras de futebol, sermos atletas de capacidade única”.
A afirmação é suficientemente profunda para se entender que há, de facto, no universo do futebol feminino uma superioridade do físico sobre a técnica. Mesmo o Brasil, onde qualquer mulher, para usar a expressão de Akers, absorve a cultura do futebol, não tem tido capacidade para se meter na luta pelos lugares de topo, exceção feita à única final de um Mundial que atingiu, em Xangai, em 2007, perdendo para a Alemanha (0-2). Marta pode ser considerada a melhor jogadora do mundo e ter atingido, este ano, o muito interessante número de 17 golos em fases finais de campeonatos do Mundo, mas não chega para fazer a diferença. Olha-se para a lista de campeões e encontramos seleções de países de futebol essencialmente musculado – Estados Unidos, Alemanha e Noruega –, com o Japão a fugir à regra.
A carreira da Holanda neste Mundial de França traz consigo, portanto, uma visão diferente. O seu futebol é bem mais técnico do que atlético e segue o exemplo das movimentações do praticado pelos homens. Talvez por isso, a imprensa do Hexágono tenha optado por ficar decididamente dos lado das laranjas, exultando com a sua vitória sobre as robustas suecas. Talvez não seja suficiente para contrariar a filosofia ainda sempre presente de Durrance – mas suficientemente entusiasmante para fazer soprar uma brisa fresca na canícula que assola a França.