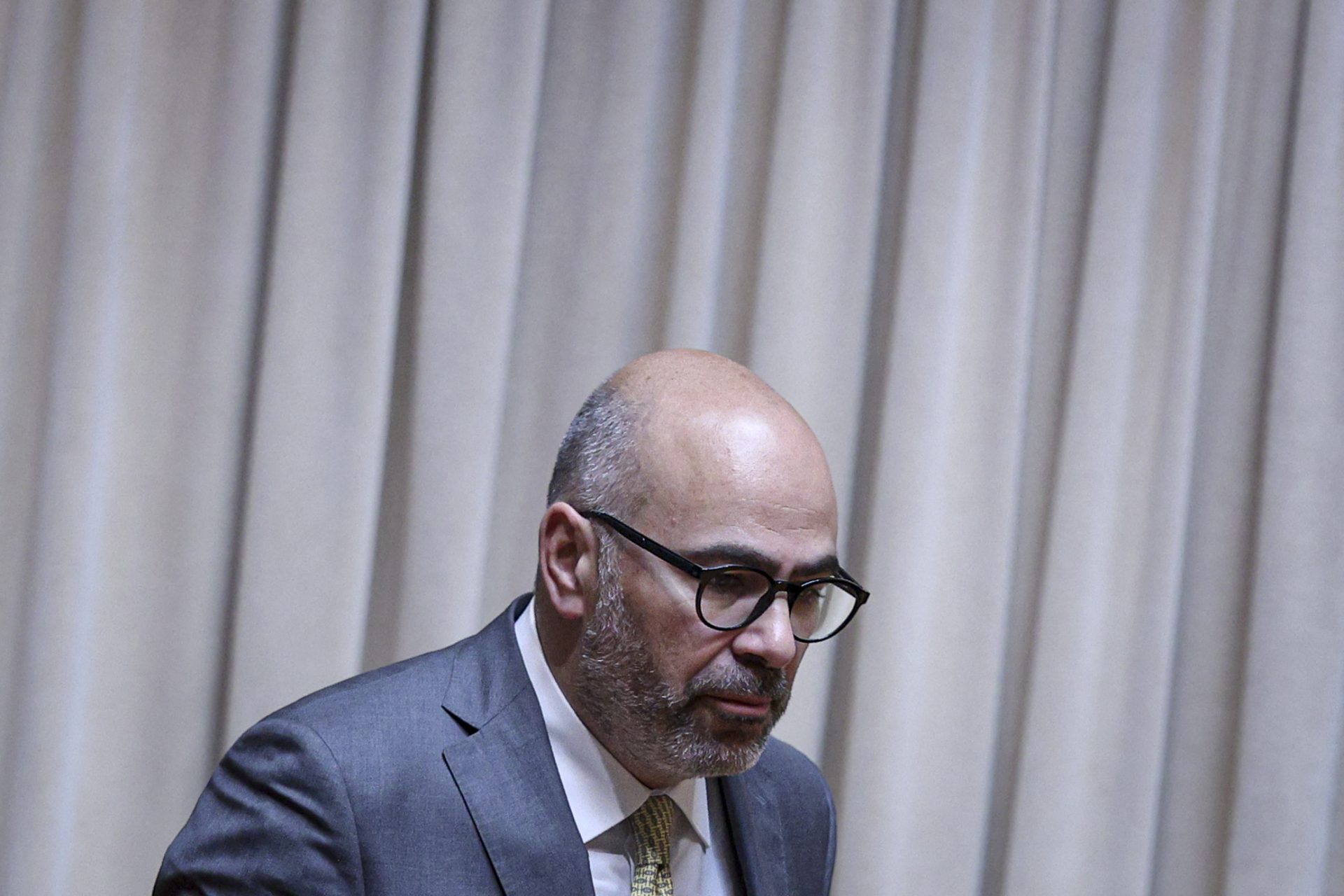Era uma vez um miúdo que via cinema de forma descoordenada, vivia nas salas de cinema, nos clubes de vídeo, saltitando de género, nas sessões contínuas. O cinema na sua forma mais popular. Esse puto deu-nos agora aquele filme em que parece resumir tudo, toda a história, todas as histórias, todas as músicas. Toda a nostalgia. Pena é que em Portugal tenhamos de esperar até ao dia 8 de agosto para ver Era uma Vez em Hollywood! O tal penúltimo filme de Quentin Tarantino. Quando o produtor leu o guião disse: “Pode ser o teu nono filme, mas parece que inclui todos os outros.” De facto, assim é, embora o que se sinta seja, sobretudo, uma proximidade com o universo Tarantino.
Yes, Quentin Tarantino did it again! Ao longo das 2h39 – não se perde nem um segundo – leva-nos a uma sensacional viagem através do cinema, ao efeito hipnótico da televisão nos anos 50, ao western spaghetti, à própria mitologia do cinema. Um filme potente, cheio de energia, cheio de cinefilia, cheio de música – sempre que se abre a porta de um carro, surge a oportunidade para fazer essa descrição sonora em mais uma banda sonora que promete.
Já se sabe, já todos vimos o trailer. Brad Pitt é Rick Dalton, o duplo de serviço de Leonardo DiCaprio, Cliff Booth, uma estrela do western televisivo. Um é disciplinado e vigoroso para que o outro possa ser alcoólico e inseguro. “Identifiquei-me logo com a personagem porque cresci no meio da indústria de cinema”, explicou Leonardo DiCaprio na conversa com a imprensa. “O que tenho é um imenso apreço pela posição que tenho. Este tipo [a personagem] luta contra a sua própria confiança. O que sei é que tenho muita sorte por ter tido esta oportunidade”. Brad Pitt completou dizendo que “o Rick e o Cliff se completam um ao outro. No fundo, tudo tem a ver com a aceitação, com o lugar que ocupamos, a nossa vida, os desafios.”
A Margot Robbie coube-lhe encarnar a personagem de Sharon Tate neste tumultuoso verão de 1969. “Não fiz uma grande pesquisa”, disse. “Mas como atriz tentei perceber o objetivo que ela tinha na história. O Quentin explicou que ela era a luz da história. Foi isso que tentei fazer”. E, por falar em luz, foi Quentin quem iluminou a sala ao referir que a maior alteração com este filme foi esta: “Casei há seis meses e isso alterou a minha vida”.
Quentin vai ao baú É nos anos 50 que começamos, em plena euforia da televisão, numa altura em que o cinema tem também a sua quebra maior e que procura todas as fórmulas para se reinventar. Do grande ecrã, para combater com o pequeno, os efeitos visuais. E vamos para o presente, 1969. É o western que se reinventa com as possibilidades que chegam da Europa, em Itália e em Espanha, o western spaghetti ou o ‘dirty cinema’, vulgo cinema porno, que dava também os primeiro passos.
Acompanhamos assim o trabalho em Hollywood destes dois amigos. Rick é mais do que o duplo, é uma espécie consciência boa. Mas Cliff também se supera quando está a representar, pois é na ficção, na sua meta-vida, que gosta de viver. E até supera a sua ligeira gaguez. Acabará por tentar sobreviver ao tempo procurando em Itália a alternativa do cinema ‘esparguete’ à televisão já ‘out of time’, no final dos anos 60.
Como se imagina, Tarantino gosta do lado de época e aborda precisamente esse período – será que alguma vez daí saiu? – para nos fazer viver o lado meta do cinema. Há Playboy Mansion, há figuras reais como Sharon Tate (Margot Robbie) a atravessar todo o filme, Roman Polanski (o polaco Rafal Zawierucha), Steve McQueen (Damian Lewis), Bruce Lee (Mike Moh), numa cena hilariante com Rick (Brad), enfim, a mitologia que desenvolve uma história própria mas que não valerá a pena revelar em spoilers.
Tal como nos filmes anteriores, Quentin vai ao baú e submerge-se em referências e detalhes de referência nostálgica, mas que acabam por acrescentar algo ao DNA do próprio cinema. Por isso, teremos de dizer que este Era uma Vez em Hollywood é também um pouco esse olhar para a história do cinema, mas que lhe acrescenta algo de novo.
Isso acontece, por exemplo, quando Tarantino dá nova cor aos temas musicais fazendo-os contar novas histórias com uma letra antiga. Como sucede no tema clássico dos Rolling Stones ‘Out Of Time’, quando os dois regressam de Itália. É difícil não ficar arrepiado: “You don’t know what’s going on, You’ve been away for far too long, You’re out of touch, my baby, I said, baby, baby, baby, you’re out of time”. Talvez por isso quando se lhe pergunta se preferia ter vivido neste período ou na atualidade, Tarantino responda assim: “Preferia viver em qualquer perído antes dos telemóveis”. Mas ao descrever este filme vai dizendo que “é um filme para todos os outsiders”.
É claro que nesta altura se torna desnecessário falar em previsões de prémios, embora se torne também claro que Quentin Tarantino deixou aqui um dos trabalhos em que vai mais fundo na sua conceção de um cinema ancorado no jogo de géneros, na revisão do passado mas que não deixa de inspirar o cinema mais jovem. E satisfazer a nossa cinefilia.
Espera, então temos um filme do Tarantino sem sangue? Calma: imagine-se então o resultado quando se junta uma seita, um cigarro embebido em LSD, um lança-chamas e uma cadela pit bull.
Era uma vez…