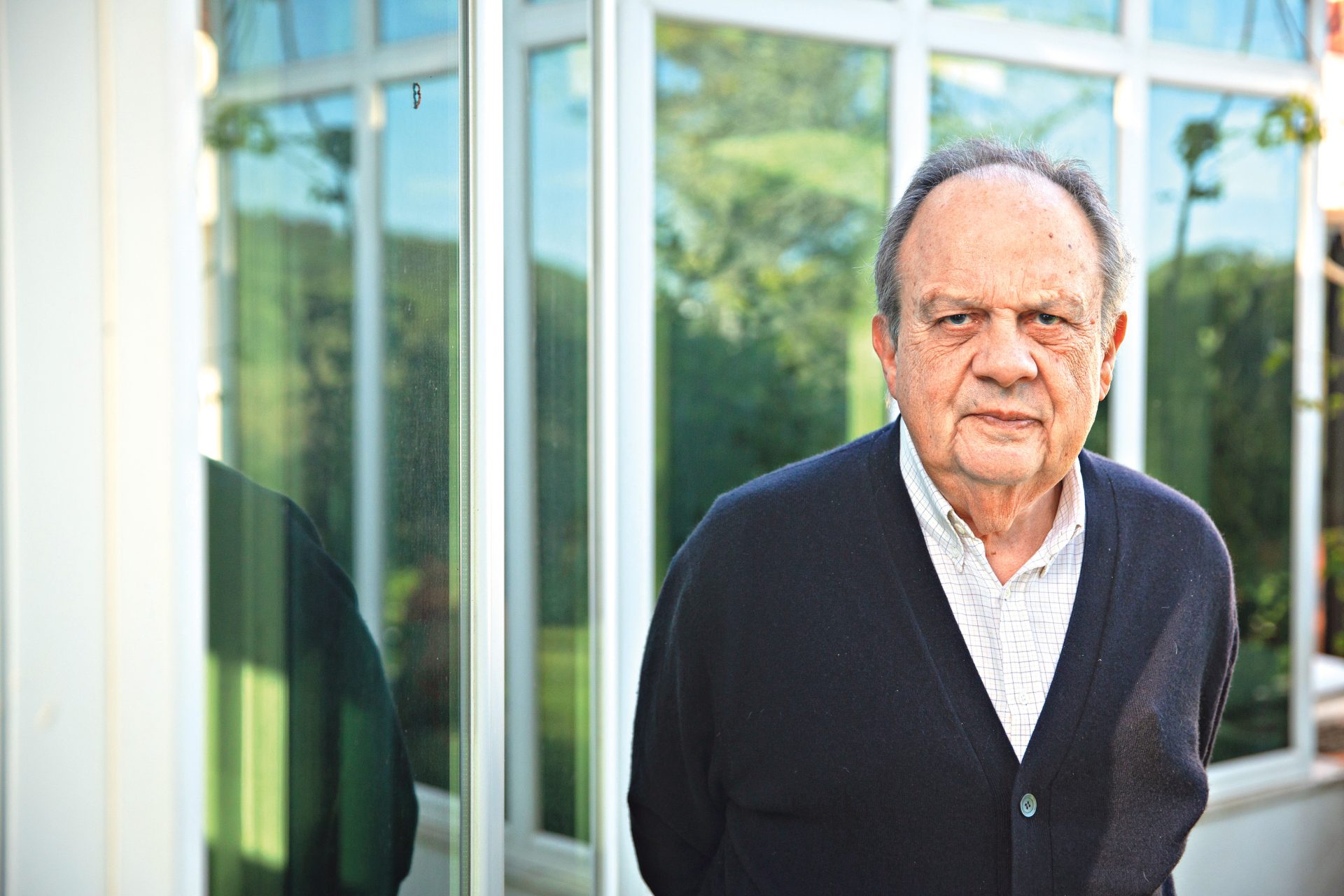A consciencialização ecológica idealizou dois conceitos interessantes para tornar acessível à nossa perceção o impacto que as atividades humanas produzem no planeta: a pegada ecológica e a pegada de carbono. A pegada ecológica refere-se à quantidade de espaço produtivo (terra arável, florestas, pastagens e zonas de pesca) exigida pelas necessidades de consumo de indivíduos, países e instituições. Por sua vez, a pegada carbónica refere-se à quantidade de emissões de dióxido de carbono (CO2) produzidas por atividades humanas. O livro de Mike Berners-Lee intitulado How Bad Are Bananas?: The Carbon Footprint of Everything revela algumas quantificações curiosas a este respeito: o envio de uma simples mensagem de telemóvel produz 0,014 gramas de CO2, enquanto o Campeonato Mundial de Futebol da África do Sul, em 2010, produziu 2,8 milhões de toneladas de CO2. Ou seja, tudo o que fazemos tem impactos ecológicos – uns insignificantes, outros muito significantes. Apesar de baseadas em pressupostos científicos, tanto a pegada ecológica como a pegada de carbono não capturam, obviamente, a total amplitude do impacto causado no planeta pelas atividades humanas – tal é a complexidade das interações e hábitos de consumo de cada ser humano e a missão quase impossível de aferir a quantificação precisa desse impacto. No entanto, estes conceitos apresentam grande mérito ilustrativo no âmbito da pedagogia e da consciencialização ecológica/ambiental. Nesse sentido, é de estranhar que, na prática, eles não sejam utilizados em muitas opções de políticas públicas, especialmente na política territorial. No que ao urbanismo e à arquitetura diz respeito, toda a gente parece ter muito interesse em questões como o desempenho energético de um edifício após a sua construção, mas ninguém parece ter muito interesse em perceber qual a pegada ecológica e carbónica a que deu origem essa mesma construção. Existem casos paradoxais em que o bom desempenho energético de um edifício ao longo da sua “vida” útil nunca irá compensar o impacto ecológico e carbónico que foi necessário despender na sua construção. Edifícios que usam materiais exigentes em grande consumo energético (alumínio, titânio, aço, etc.) são construídos de forma intensiva sem que tal seja devidamente ponderado, enquanto edifícios concebidos em materiais tradicionais e sem grandes requisitos de energia na sua produção (pedra, adobe, madeira, etc.) não só não são valorizados como são ostracizados – especialmente em meio urbano. Muita gente dirá que o espaço da cidade não é um espaço desejável para este tipo de construção rudimentar – a qual não permite grandes densidades e construção em altura, e exige cuidados acrescidos em termos de segurança sísmica e outras; no entanto, há que ter consciência de que essa ostracização revela uma certa hipocrisia associada ao discurso da sustentabilidade. Quando se promovem tantos edifícios urbanos como “verdes e sustentáveis”, devemos estar conscientes da falácia que essa afirmação envolve. Os edifícios mais sustentáveis do país localizam-se em meio rústico e a sua arquitetura, assente em usos, materiais e métodos de construção tradicionais, é a verdadeira campeã da sustentabilidade. Tudo o resto é marketing imobiliário destinado a justificar os mesmos edifícios convencionais de sempre, em betão, vidro e aço (ainda que adornados por painéis solares ou vegetação abundante). Estes serão campeões certamente, mas em pegada demagógica.
Mestre em Ordenamento do Território e Planeamento Ambiental
Escreve quinzenalmente