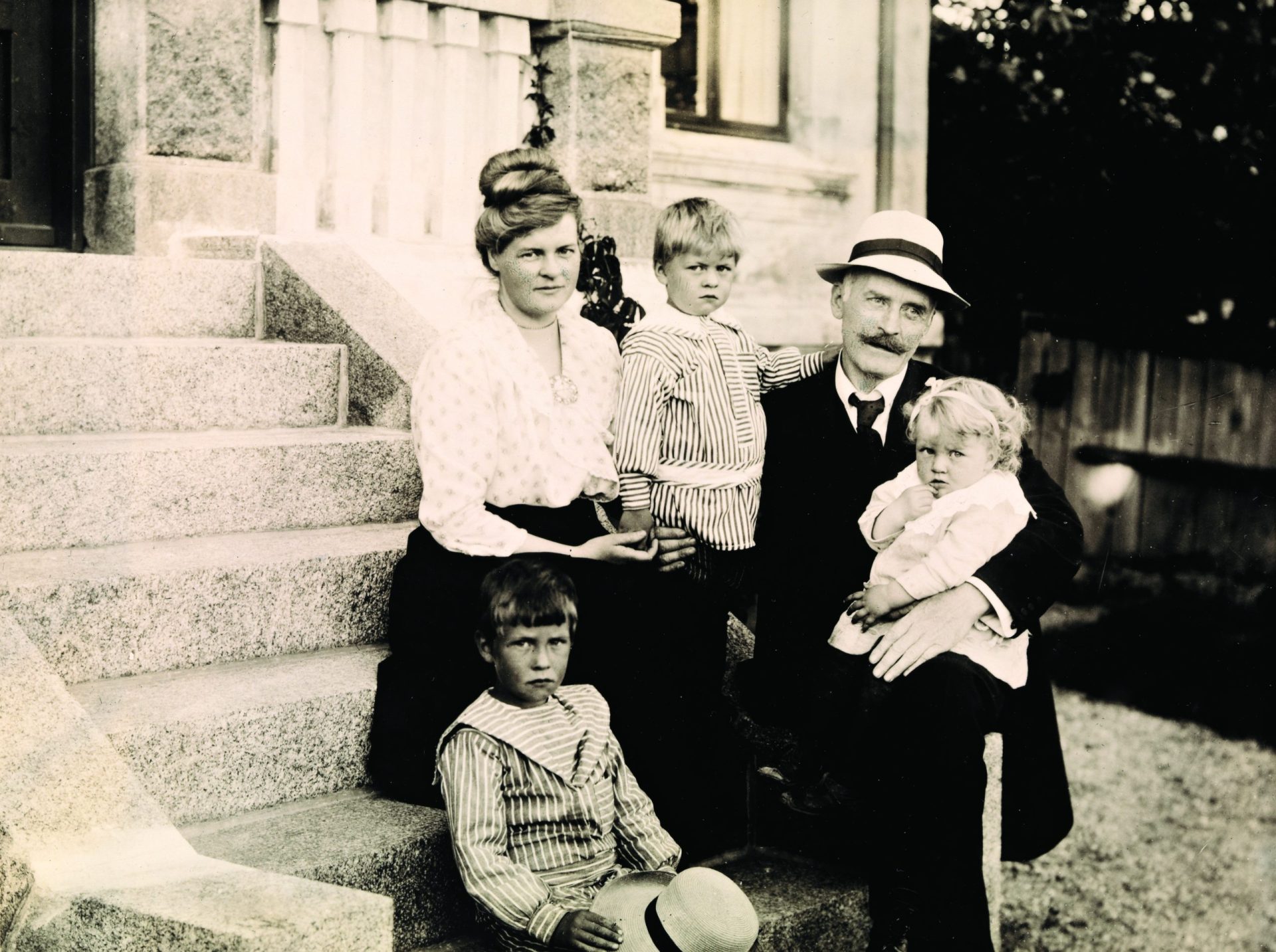Da criança de 9 anos que trabalha em casa do tio no campo para saldar as dívidas da família (um tio pietista que lhe bate, o alimenta mal e o esmaga com um deus vingador que não conhece a palavra perdão), a carteiro (esse ser mágico, mensageiro que rege fatalidades), a vendedor ambulante e a trabalhador em vários ofícios, a sua experiência humana é inestimável e dolorosa, mas a errância inspira-o a escrever “Fome”. A loucura, o delírio, a autodestruição fazem-nos acudir à memória o Dostoievski de “Memórias escritas num subterrâneo” (1864). A transfiguração da realidade em que se move – a mentira e a verdade, o homem como um joguete de forças, a experiência como alimento do que se escreve? – torna-se matéria literária. Knut Hamsun enceta um processo de perda de relação com o mundo que virá a atravessar toda a literatura moderna.
O primeiro momento desse processo dera-se com Heinrich von Kleist, que põe Michael Koolhaas (“Michael Koolhaas – O Rebelde”, 1810) em permanente combate com um mundo que é totalmente imoral e ao qual não pode pertencer, ainda que reconhecendo-o, mesmo que para o recusar na totalidade, como negação do mundo que ainda se reconhece a si mesmo. O agrimensor K., a personagem de Kafka, espera um mundo que – e esse vem a ser o segundo momento – ainda é possível encontrar (simbolizado por “O Castelo”, 1922) e vive em permanente expectativa de ser acolhido nele; embora o encontro esteja marcado e o acesso não se mostre impossível, ele nunca acontece. E num terceiro momento, teremos Franz Biberkopf, a personagem de “Berliner Alexanderplatz” 1929, de Alfred Döblin, que está no centro de um mundo agitado que já não lhe diz respeito, mas na sua alienação pertence tanto a esse mundo que já não se pode dizer que tenha mundo próprio.
“Aquele movimento tumultuoso por toda a parte logo me reconfortou e comecei a sentir-me cada vez mais satisfeito. Nada está mais longe do meu pensamento do que contentar-me com um passeio matinal ao ar livre. O que tem o ar que ver com os meus pulmões?
Chegado ao fiorde, endireitei-me um instante, febril e esgotado, olhei a terra e despedi-me então da cidade, de Cristiânia (actualmente, Oslo), onde as janelas brilhavam em todos os lares.” (“Fome”).
Como faziam muitos dos seus concidadãos, Knut Hamsun partiu para os Estados Unidos da América em 1882, onde permaneceria por duas temporadas até 1888. A atmosfera no seu país era irrespirável. Mas também aí foi incapaz de viver com a realidade. Abomina o sistema, a técnica e os escritores. Apenas M. Twain o seduz com as suas histórias de errância. E escreve:
“O americano é um homem cujas forças espirituais são postas exclusivamente ao serviço dos interesses materiais e se destrói rapidamente numa procura esgotante de influência e consideração social.” (“A Vida Cultural da América Moderna”, 1889).
E regressa à Noruega, o seu país natal. Vive no norte, no sul, no leste. Não consegue manter-se num local. Mas é o vagabundo que sobressai na sua busca incessante, a personagem principal da sua primeira trilogia: Knut Pedersen.
No regresso dos EUA, Hamsun faz uma série de conferências na Noruega. E vergasta grandes nomes da literatura, em particular o seu compatriota Ibsen, acusando-o de construir personagens caricaturais, sem densidade psicológica, pondo-as ao serviço do seu pensamento. E numa delas diz:
“A linguagem deve cobrir todos os tipos de música”, o escritor deve sempre, em todos os casos, procurar uma “palavra que vibre”, uma palavra que, “pela sua incisividade, fira a alma e a faça gemer”.
Este é o primeiro de dois blocos distintos em que podemos dividir a obra de Hamsun e a que poderíamos chamar “a trilogia do vagabundo”: “Fome”, “Pan” (1894) e “Victoria” (1898). Sendo obra modernista, quer pela temática quer pelo tratamento que o autor lhe dá, Hamsun explora a poética subjetiva e individualista. O segundo bloco inicia-se com os romances “Crianças do seu tempo” (1913) e “A Cidade de Segelfoss” (1915), um fresco social muito crítico relativamente aos efeitos da modernidade sobre uma pequena cidade norueguesa fictícia. Com uma narração na terceira pessoa de fatura épica, as obras deste período afastam-se da exploração psicológica da consciência moderna para defender os valores rurais ancestrais. Mas não é no plano ideológico que a obra de Hamsun entra em conflito com o modernismo das primeiras obras. Porque há uma diferença entre modernidade e modernismo. A modernidade é um fenómeno social, ao passo que o modernismo é sobretudo uma estética artística.
É que “Fome” pode ser – e é – uma obra modernista, mas nela não transparece o julgamento do escritor relativamente à modernidade.
Mas quanto à segunda metade da carreira do escritor, ficar-nos-emos por aqui, e por “Mistérios” e “Os Frutos da Terra”, uma vez que ao leitor português também não restam alternativas. A obra posterior continua por traduzir.
“No pico do Verão, começaram a acontecer coisas extraordinárias numa pequena cidade costeira norueguesa. Apareceu um estranho chamado Nagel, um indivíduo peculiar que chocou a cidadezinha com o seu comportamento excêntrico e que depois desapareceu tão subitamente quanto chegara. A dada altura, recebeu a visita de uma misteriosa jovem que lá foi por Deus sabe que motivo e que se atreveu a permanecer com ele apenas algumas horas. Mas não foi assim que tudo começou…
Tudo começou às seis horas da tarde de um dia, quando um navio a vapor aportou no cais e surgiram três passageiros no convés. Um deles era um homem que usava um fato amarelo berrante e um chapéu de feltro demasiado grande. Isso aconteceu na tardinha do dia 12 de Junho; havia bandeiras desfraldadas por toda a vila em honra do noivado da menina Kielland, que fora anunciado nesse preciso dia. O bagageiro do hotel Central subiu a bordo e o homem de fato amarelo entregou-lhe a sua bagagem. Ao mesmo tempo, entregou o bilhete a um dos tripulantes do navio, mas não fez qualquer gesto para desembarcar e começou a andar para a frente e para trás no convés. Ele parecia extremamente agitado, e quando o sino do navio tocou pela terceira vez, ainda nem sequer pagara a sua conta ao funcionário.
Enquanto tratava de pagar a conta, apercebeu-se subitamente de que o navio levantava âncora. Admirado, gritou sobre a amurada para o bagageiro lá em baixo:
– Bom, leva a minha bagagem para o hotel e reserva-me um quarto.
Depois disso, o navio transportou-o para o fiorde.
O homem chamava-se Johan Nilsen Nagel.
O bagageiro transportou a sua bagagem numa carrocinha. A bagagem consistia em apenas dois pequenos baús, um casaco de pêlo (embora se estivesse em pleno Verão), uma pasta e um estojo de violino. Nenhum tinha etiqueta de identificação. […]
Nagel estava deitado silenciosamente a observar o campónio. Ali estava ele – o aldeão norueguês com pão debaixo do braço e a guiar uma vaca com uma corda! Que visão ele dava! Deus te ajude, corajoso viking norueguês! E se alargasses o cachecol e deixasses os piolhos saírem! Não sobreviverias, o ar fresco entraria e tu morrerias. E os jornais lamentariam a tua morte prematura e fariam disso uma grande coisa. E, para prevenir uma tragédia como essa de voltar a acontecer, o deputado liberal Vetle Vetelsen introduziria um projeto de lei no parlamento para tratar da conservação da nossa bicharada nacional.” (“Mistérios”).
A receção da obra de Knut Hamsun em Portugal foi sempre péssima, mormente por três motivos:
– o primeiro, por alguns “membros” da Escola de Frankfurt terem querido ver – absurdamente – a defesa dos ideais do nacional-socialismo, na sua fascinante, vasta e diversificada obra. Razões políticas, portanto, nada simples.
– o segundo motivo: porque os neorrealistas portugueses, muito provavelmente pelo episódio “colaboracionista”, desprezaram o grande romancista norueguês. Nem “Fome” nem “A Cidade de Segelfoss” (1915), por exemplo, são romances de tese neorrealista.
– e o terceiro motivo, porque as traduções dos seus romances para o Português são (eram) bastante antigas e sobretudo não são boas. Não se traduz impunemente “Os Frutos da Terra” por “Pão e Amor”. Não é nem era fácil traduzi-lo e o principal erro foi modificar, banalizar o estilo do autor para o tornar “literário” (isto é, convencional).
Talvez esteja agora a ser recuperado com as excelentes e competentes traduções (duas) de João Reis feitas diretamente da língua original. Quem não leu não sabe o que perdeu. André Gide, Henry Miller admiraram-no e disseram-no. No primeiro Hamsun, quem leu Baudelaire e Rimbaud pode ver nele um parente espiritual de Baudelaire e Rimbaud. No segundo Hamsun (e que algum editor mais ousado e esclarecido queira vir a publicar), o escritor regista as paixões, os conflitos, as infelicidades e as ambições ligadas à decadência de uma aristocracia da terra em vias de ser eliminada por uma nova classe de ativos comerciantes (o que era imperdoável).
“A mente de Nagel produzia um ataque amargo atrás do outro. Levantou-se, zangado e desanimado, e voltou para o hotel. Ele estava, no fundo, certo; não havia nada a não ser piolhos, queijo camponês e o catecismo de Lutero. E as pessoas da média burguesia viviam em casas de três andares, comiam e bebiam para sobreviver, preenchendo os seus tempos livres com álcool e política, ganhando a vida com sabão em pó, pentes de metal, e peixe. E, à noite, quando havia relâmpagos e trovoada, deitavam-se agachados, tremendo, e liam Johann Arndt. Gostaria que alguém me encontrasse uma única exceção – se há alguma! Por exemplo, gostaria de ver um crime meticulosamente planeado, algo que fizesse uma pessoa sentar-se e prestar atenção! Mas nada daquelas tuas ridículas transgressões! Teria de ser uma patifaria extremamente perversa e aterrorizante, um caso soberbo de depravação, com todos os esplendores crus do inferno. Era tudo conversa vazia e inútil. E qual é a sua opinião nas eleições, senhor? O Buskerud dá-me calafrios até aos ossos…” (“Mistérios”).
Tudo isto seria pouco se Hamsun não fosse, acima de tudo, um dos mais extraordinários e humanos contadores de histórias que já existiram. E dele disse Isaac Bashevis Singer:
“Toda a literatura moderna deste século (o século XX) encontra aqui as suas raízes.”
E assim foi e tem sido.
Nota:
Hamsun morreu, aos 92 anos,em Grimstad, na Noruega, no dia 19 de fevereiro de 1952. Passaram ontem 67 anos sobre essa data,e a efeméride serve para homenagear a sua monumental obra literária, da qual o leitor português só conhece uma ínfima parte