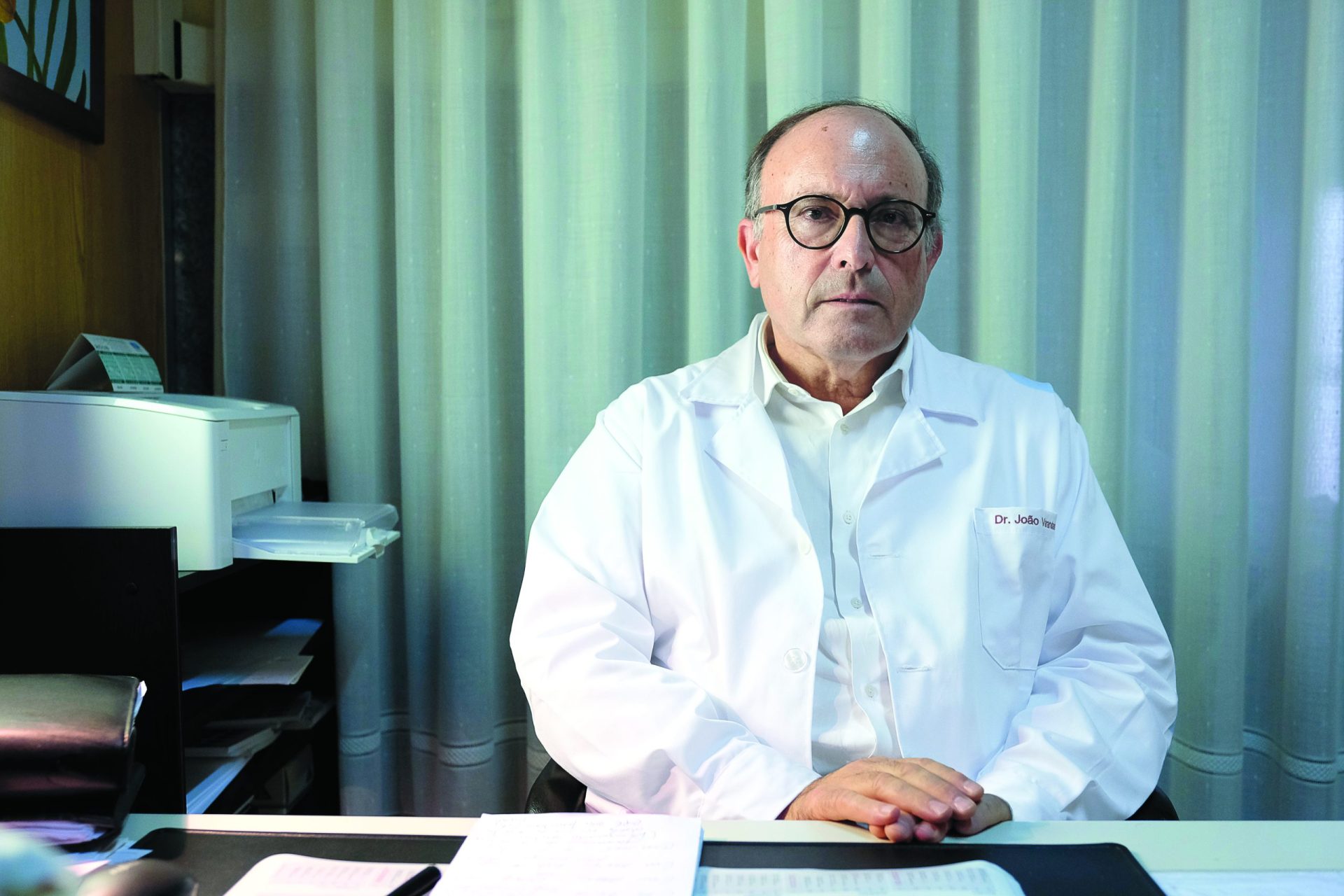João Varandas Fernandes é mais conhecido por ser vice-presidente do Benfica, mas é médico ortopedista de profissão, assumiu cargos de direção e de administração em vários hospitais e tem muito a dizer sobre a política de saúde em Portugal e o SNS. Recebeu o i no seu gabinete do Hospital de Jesus, em Lisboa – onde dá consultas, a par do trabalho como cirurgião ortopédico que desenvolve no Hospital de São José -, e alertou para a urgência de uma reforma no Serviço Nacional de Saúde, que não tem “alterações estruturais desde 2005”, por haver risco da sua “degradação”. Defendeu principalmente o investimento nos cuidados primários e criticou a Lei de Bases da Saúde, que diz não permitir outras conceções do SNS. Quanto ao Benfica, pouco quis pronunciar-se, mas reitera a inocência de Paulo Gonçalves no caso e-toupeira.
Nasceu em Lisboa, mas tem origens beirãs, não é?
Sim, da Beira Alta, da aldeia Vale de Espinho, concelho do Sabugal. Depois vim com os meus pais para Lisboa, mas marcou-me muito aquela minha primeira fase da vida, em que estive por alguns períodos na aldeia a viver e a frequentar a escola primária. Nasci em Lisboa porque os meus pais trabalhavam cá, mas depois voltaram para lá.
Com que idade voltou para Lisboa?
Era por períodos, havia alturas em que eu estava mais tempo lá e isso obrigava–me a frequentar a escola lá. Venho de uma família muito grande, do lado do meu pai eram sete irmãos e da minha mãe eram oito, tenho uma família com muitos tios e muitos primos. Era uma daquelas famílias tradicionais da Beira Alta, reuníamo-nos todos no Natal e tínhamos um espírito de solidariedade muito vincado, quer da parte do meu pai, quer da minha mãe. Ainda hoje, esse sentido de convivência e de família é um princípio que preservamos.
Esse sentido de solidariedade e de família relaciona-se de alguma forma com o facto de fazer voluntariado?
Sim, tenho uma sensibilidade grande e sensibiliza-me muito quer a solidariedade quer a vertente da economia social. Interessam-me muito essas duas áreas. Houve uma altura em que acabei por, em Loures – onde vim a residir com a minha mulher e os meus quatro filhos -, pôr em prática muita dessa minha vivência da solidariedade, fazendo consultas médicas gratuitas e ajudando as pessoas dos bairros mais desfavorecidos. Isso, num concelho que naquela época era um dos maiores do país.
E acabou por receber duas medalhas.
Sim, da Câmara Municipal de Loures: uma em 1999 por Mérito e Dedicação e outra em 2012 por Honra, pelo trabalho que desenvolvi nas consultas gratuitas e pelo auxílio às famílias desfavorecidas com meios materiais.
Tem médicos na família?
Não, e não vem daí a minha vocação. Até estive para entrar em Engenharia, no Técnico. Acabei por entrar em Medicina com esta vertente que me dá muito prazer, que é a da solidariedade e de poder ajudar as pessoas. De poder estar com elas, independentemente de todos os meios tecnológicos ao dispor. Acho que o mais importante da vida são, de facto, as pessoas e dou um grande valor às pessoas. Não deve haver diferenças entre nós, todos merecemos ter uma vida condigna e ter os desejos concretizados e para isso é preciso ter políticas objetivas e reais para levar as pessoas a serem, de facto, felizes. É muito importante.
Quando percebeu que queria ser médico?
Foi na altura em que acabei o liceu, e ao fazer o exame de admissão à faculdade optei por Medicina porque não havia nenhum médico na família e achava que era uma forma de ser útil. Em segundo lugar, porque sempre me interessou a condição humana e estudar as pessoas e o comportamento humano. Esse foi o meu entusiasmo. Tem piada porque depois acabei por casar com uma oftalmologista, mas, dos filhos, nenhum é médico.
Porquê ortopedia?
Sempre me inclinei para uma especialidade médica e cirúrgica. Ortopedia aparece porque sempre liguei muito às deformidades, sempre fui muito sensível a ver na rua pessoas com deformidades e com claudicação, pessoas com malformações visíveis. Por isso, entusiasmei-me por ortopedia para ajudar a corrigir esse tipo de deformidades e fiz a especialidade no São José, em Lisboa.
O que pensa dos médicos jovens?
Tenho uma boa opinião, passam muitos pelo São José. Claro que as pessoas não são todas iguais, mas tenho uma boa opinião em geral. Acho que a medicina tem pessoas mais novas que vão dar continuidade a este espírito de respeito para com os outros e que vão investigar cada vez mais com o objetivo de serem úteis.
Estão tão bem preparados quanto as gerações mais velhas?
Nós tínhamos uma preparação diferente. Tínhamos preparação prática e uma preparação teórica muito assente em livros que comprávamos ou que consultávamos em bibliotecas. Neste momento, a consulta e a investigação são muito mais fáceis por causa da tecnologia.
Foi diretor do São José, onde implementou um serviço de urgência, na altura, inovador.
Foi a Triagem de Manchester, que implementei em 2004. Foi implementada a nível nacional, já estava noutros hospitais. Passámos a fazer a triagem por ordem de chegada e o novo sistema deixou os médicos com liberdade para tratarem os doentes e dedicarem-se a situações de maior gravidade, não estando a fazer uma triagem, que passou a ser feita por enfermeiros.
A formação que tem em gestão ajudou-o na função de diretor?
Fiz formação em gestão e obtive a competência de gestão pela Ordem dos Médicos, onde estou inscrito. Isso tornou-me mais sensível para a organização que os hospitais e os serviços médicos assistenciais e de apoio devem ter para serem mais eficazes.
Como vê hoje o SNS?
As alterações estruturais não existem no SNS desde 2005. Nessa altura foram lançadas as primeiras unidades de saúde familiar e os cuidados continuados. Em 1955/96 foi feito o primeiro lançamento de gestão privada no hospital Amadora–Sintra; em 2002 foram criados os hospitais sociedade anónima; em 2004 foram feitas listas de espera para cirurgia; e, em 2005, os hospitais passaram de sociedade anónima a entidades públicas empresariais. A partir de 2005 até agora, não houve mudanças estruturais no SNS.
Do que precisa o SNS?
A meu ver, é preciso um plano global de reforma das organizações. E não é a Lei de Bases da Saúde que vai resolver a questão do SNS nem é a política que resolve o SNS. O que resolve o SNS são as organizações que têm papel fundamental no SNS, obviamente com diálogo com o governo e com todas as associações que estiverem a desempenhar funções no SNS.
Qual a sua opinião sobre a Lei de Bases da Saúde?
Não houve um pensamento para alterar a Lei de Bases da Saúde. Existiu a intenção de eliminar a possibilidade de criar novas estruturas e esta lei impede outras visões e outras conceções do SNS. Mas elas existem. Temos um extraordinário SNS que foi criado há 40 anos, mas está à espera há 40 anos de sofrer uma remodelação. As pessoas são diferentes, felizmente, a longevidade é maior; por outro lado, as taxas de nascimento agora até são menores e há que ter outra visão.
De que forma é que é restritiva?
Não pensa nas parcerias público-privadas (PPP). E as PPP foram um instrumento de grande utilidade, de auxílio, de complementaridade, de uma forma diferente de ver o SNS. Eu estive numa PPP no Hospital de Cascais, fui diretor clínico e fui administrador de 2008 a 2013, e eu vi o que o Hospital de Cascais era e o que passou a ser. É certo que houve reforços de recursos humanos, fizemos novas especialidades médicas e cirúrgicas, mas os recursos humanos que estavam no velho hospital e passaram para o novo sentiram-se muito mais motivados na nova organização, com novos espaços físicos e novos meios tecnológicos à disposição. A remodelação do velho hospital já era prometida há dezenas de anos. Esta nova Lei de Bases exclui uma análise que devia ser feita sobre as PPP.
É apologista das PPP.
A experiência que eu tenho das PPP é que são de grande eficácia. Quando o Hospital de Cascais passou a PPP, a resposta à população aumentou e a população, nos inquéritos de satisfação realizados na altura, mostrava índices altíssimos. A resposta foi inovadora, teve conceitos inovadores, novas especialidades, e obteve certificações de mérito internacionais. O caminho pode não ser a PPP como está neste modelo, mas penso que deve haver vários modelos em simultâneo na Lei de Bases, até para se poder evoluir. E, portanto, não sou um defensor unicamente da PPP, mas sou, sim, um grande defensor da reforma do SNS. Acho que o SNS tem dado provas ao longo da História de que é um bom serviço de saúde, mas precisa de ser reformulado e é preciso discutir conceitos que não o deixem morrer. Temos de ajudar a salvar o SNS.
Mas acredita que há o risco de o SNS morrer?
Acredito que há um risco de degradação do SNS. Por exemplo, em relação ao Centro Hospitalar de Lisboa Central, as instalações já não deviam estar ali há muitos anos. O Hospital dos Capuchos, o Hospital de São José, o de Santa Marta, Curry Cabral, Estefânia, Maternidade Alfredo da Costa, são instituições com excelentes profissionais e técnicos, mas têm instalações com um grau de degradação muito avançado. Obviamente que, se tivéssemos um novo hospital oriental de Lisboa, com tudo no mesmo edifício, isso traria certamente benefícios para toda a população, para os profissionais e para a própria gestão. O grande risco do SNS é que, se não é reformado, o risco de degradação é elevado porque começam a degradar-se os recursos humanos, técnicos e instalações.
Nessas condições, os profissionais acabam até se por sentir mais aliciados a ir para o privado, não é?
Sim. Os recursos humanos acabam por procurar outras alternativas onde se sintam mais realizados do ponto de vista técnico e científico. Nos hospitais do SNS presta-se um serviço de excelência, muitas vezes em condições que não são as melhores, mas é preciso dar um passo na organização dos hospitais. Um dos exemplos muito claros disso são os Centros de Responsabilidade Integrados (CRI), criados por lei, que já foram lançados quatro ou cinco vezes e estão em Diário da República, mas não há mais nenhuma experiência em Portugal a não ser o serviço de Cirurgia Clínica em Coimbra.
Considera-os uma mais-valia?
A lógica dos CRI tem muito valor e pode ajudar a transformar para melhor o serviço de saúde, e tem a lógica de juntar informação e especialização. Ou seja, se conseguir juntar toda a informação e especialização, quer do ponto de vista do conhecimento, quer do ponto de vista humano, obviamente que é um passo importante. Permite que os profissionais de saúde tenham as suas próprias ideias sem interferência externa, ou seja, que consigam fazer os seus planos de trabalho anual e os planos de recursos humanos necessários para executar aquele trabalho.
Um dos problemas crónicos do SNS é precisamente a falta de recursos humanos. Como se resolve isto?
O sistema de saúde continua muito centrado no hospital. Em vez de estar centrado nos cuidados primários de saúde, está centrado no hospital. Os cuidados primários de saúde são o primeiro contacto que o doente deverá ter. Não se tratando de situações urgentes, é ao centro de saúde que a pessoas devem dirigir-se em primeiro lugar. Por isso, temos de ter cuidados primários muito desenvolvidos e muito próximos do cidadão, e habilitados quer com recursos humanos quer com instalações. Daí que seja importante ter mais unidades de saúde familiar. Essa é uma das promessas do atual governo, aliás, mas ainda não são suficientes. Por um lado, tem-se conseguido fazer coisas boas – o SNS aumentou o número de enfermeiros, médicos, etc. -, mas também se alteraram as regras dos enfermeiros, por exemplo, com a passagem para as 35 horas semanais. A gestão direta dos serviços hospitalares, contudo, manteve-se, e a pergunta que se deve colocar é porque não usar os mesmos recursos humanos mas com uma organização diferente. É que aumentou o financiamento, mas aumentou a dívida; aumentaram os recursos humanos, mas continuam a ser insuficientes.
Há aqui um problema de organização, é isso?
Há aqui um problema de organização. Objetivamente, aquilo que passa para fora, para a sociedade, é que há um problema de recursos humanos – o que é verdade, nalgumas especialidades há carências de profissionais. Mas a análise que devia fazer-se era, com aquilo que nós temos, como podemos organizar-nos para dar resposta. É isso que não está a ser feito. Existe potencial nos hospitais de organizar o trabalho. Não há é, muitas das vezes, da parte dos conselhos de administração sensibilidade para isso. Neste contexto, é preciso dar atenção a coisas importantes como a estrutura de missão que foi criada com a função de acompanhar a área financeira dos hospitais. Era uma estrutura de missão conjunta, dos ministérios das Finanças e da Saúde, que emitia recomendações que são de uma utilidade enorme e que determinavam uma maior ou menor autonomia dos hospitais consoante os resultados que iam tendo.
Disse que o sistema de saúde continua muito centrado no hospital. Acha que as pessoas continuam a recorrer aos hospitais ao mínimo sinal de doença?
Acho que não. Há melhor informação por parte das pessoas – e isso significa, por exemplo, que vão menos às urgências. E isso acaba por contribuir para uma melhoria geral do sistema de saúde, tanto no público como no privado. Ao mesmo tempo, para essa melhoria contribui também o facto de haver menos acidentes graves e, simultaneamente, há muitas associações e instituições a fazer prevenção – apesar de não haver uma política concertada de prevenção, em relação à qual acho que também devia haver um investimento grande.
Como viu estes três anos de legislatura com o ministro Campos Fernandes na pasta da Saúde?
Tenho de salvaguardar aqui uma situação: é que sou amigo dele. Temos livros publicados em conjunto e é uma pessoa que respeito muito e por quem tenho uma admiração grande. E trabalhei com ele em Cascais. É um homem que tem uma enorme preparação e conhece bem o setor da saúde mas, sinceramente, esperava mais, porque acho que ele se deixou enredar nos problemas do dia-a-dia e não atacou as questões de fundo.
A que questões de fundo se refere?
Por exemplo, devia ter dado mais possibilidades de serem criados mais CRI, ter nomeado conselhos de administração sem ser por força política, mas por força técnica. As nomeações políticas que fez não vieram trazer um aporte de novos pensamentos na reforma do SNS em matéria de gestão. A gestão é feita pelos conselhos de administração, que são compostos por um diretor clínico que não é eleito, mas nomeado – e acho que o diretor clínico devia ser nomeado pelos seus pares, porque os seus pares precisam de ter um representante. As coisas equilibravam-se. E neste momento penso que os conselhos de administração não são equilibrados, justamente, também por isso. Mas essa gestão, a autonomia dada aos serviços hospitalares ou às unidades hospitalares é muito importante. Igualmente importante é a responsabilização dessas mesmas unidades quando lhes são fornecidos os meios próprios para elas desenvolverem a sua atividade. O conselho de administração não pode exigir de um grupo de profissionais que sejam cumpridos determinados objetivos se não lhes der as condições para tal. E muitos dos hospitais não têm condições para cumprir os objetivos que estão contratualizados com o conselho de administração, e aí tem de haver um avanço, porque os hospitais fazem-se com profissionais de saúde, esquecemo–nos disso muitas vezes. Sinto que se está a perder um pouco o espírito de equipa no SNS. E quando não são feitas em equipa, as coisas correm menos bem. Um serviço médico tem de ser feito por um coletivo, não pode ser feito só por um ou dois profissionais.
Como vê a polémica do Infarmed? Foi uma situação bem gerida?
O dr. Adalberto pensa muito bem nas coisas e não toma decisões precipitadas. A ideia da descentralização em alguns organismos é importante, mas não estou em condições de lhe dizer se o Infarmed tinha ou não condições de ir para o Porto porque não estou lá dentro. Sei que houve uma grande polémica, mas também sei que o dr. Adalberto teve a inteligência suficiente para não permitir que isso fosse efetuado e recuou, deixando a decisão para a comissão de descentralização.
E quanto à nova ministra, Marta Temido, conhece-a? Tem apenas um ano de mandato, o que acha que ainda consegue fazer para melhorar o SNS?
Não conheço como conhecia o anterior ministro. Mas acho que tem vários desafios pela frente. O não adiamento das PPP é importante, tem de refletir sobre as decisões a tomar nesse campo. A construção do novo Hospital Oriental de Lisboa deve ser uma prioridade e devem ser aproveitados alguns fundos estruturais para a construção de novos centros de saúde. A implementação dos CRI é também importante no desenvolvimento do sistema de saúde. Penso que, se até às próximas eleições conseguir fazer algumas destas coisas, já é positivo. Claro que é importante também ouvir as organizações profissionais – médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, administrativos – porque tem de se chegar rapidamente a consensos sobre a carreira de enfermagem, a retribuição dos enfermeiros, a carreira médica, para bem do SNS. Mas esta ministra tem de lançar as bases para uma nova reforma do SNS. Se não o fizer, a possibilidade de fracasso é grande.
O fim do SNS está assim tão iminente?
Não é o fim, é a degradação. E o que está a acontecer agora no SNS vai repercutir-se daqui a uns anos. Não se trata só de uma análise casuística: o que se está a fazer de errado no SNS ou, simplesmente, não se está a fazer vai ter repercussões negativas nos próximos anos e para as gerações futuras.
O que acha que é o futuro da saúde em Portugal?
Em matéria de profissionais, é do melhor que há em todas as áreas. Devemos estar tranquilos em relação a isso. Em relação à estratégia é que deve ser pensada e devem ser tomadas medidas políticas para que o SNS seja preservado e melhorado.
Um tema incontornável, uma vez que é vice-presidente do Benfica: como começou a paixão pelo futebol?
[Risos] Comecei a ir com o meu pai ao antigo Estádio da Luz ver os jogos do Benfica. Comprava o jornal desportivo – “A Bola” – que saía às segundas, quintas e sábados, salvo erro, e ia para o liceu a ler o jornal. É a minha segunda família, a seguir à minha família biológica. Sou um adepto fervoroso. Sofro muito com o Benfica e, quando perde, as horas seguintes são muito infelizes.
Como chegou a vice-presidente?
Por um convite do Luís Filipe Vieira, que me convidou para integrar os órgãos sociais. O Luís Filipe Vieira fez um grande projeto no Benfica nos últimos 15 anos, do ponto de vista das infraestruturas, tecnológico e do profissionalismo. Hoje, o Benfica é uma grande empresa, um clube com muitos associados. É conhecido em toda a parte, não há nenhuma parte do mundo que não tenha uma camisola.
O futuro de Jorge Jesus passa pelo Benfica?
Não é um assunto meu, é um assunto do presidente, mas posso dizer-lhe que o Benfica é um clube estável, pela sua história e pela sua tradição. A manutenção do treinador Rui Vitória tem lógica porque estamos no início do campeonato e é um treinador que aposta nos jovens e já conquistou vários títulos para o Sport Lisboa e Benfica, e dá estabilidade ao clube. Agora, o futuro não sei, o futuro a Deus pertence.
Em relação ao e-toupeira, acha que era possível que Paulo Gonçalves fizesse tudo sem que a Benfica SAD soubesse?
Não sei o que Paulo Gonçalves fez. Eu sei é que é um grande profissional, competente, honesto. E está por provar, eu não sei, mas acredito na inocência do dr. Paulo Gonçalves, que saiu do Benfica a pedido dele. E acredito também na inocência da SAD. Este ano e meio de ataques sucessivos à marca, aos dirigentes, aos atletas, à massa associativa, aos sócios, aos adeptos, não estávamos habituados a isso e demorámos algum tempo a reagir. Mas a nossa prática é a da transparência e da verdade desportiva. Dentro das quatro linhas é que se ganham os jogos. Eu não me revejo nas práticas de que nos acusam e não acredito que haja algum dirigente do Benfica que tenha feito práticas para lesar o clube.
Como vê as contrapartidas que alegadamente foram dadas aos funcionários judiciais?
Se foram dadas, não sei, eu não assisti. Sei que a mim me pedem imensas camisolas para eu dar e pedem-me imensos bilhetes, e sempre que posso arranjar ofereço – a crianças deficientes, a pessoas com poucas possibilidades financeiras, etc.. Não vejo nada de extraordinário nisso. Mas, para mim, oferecer uma camisola ou um bilhete não me prova rigorosamente nada.