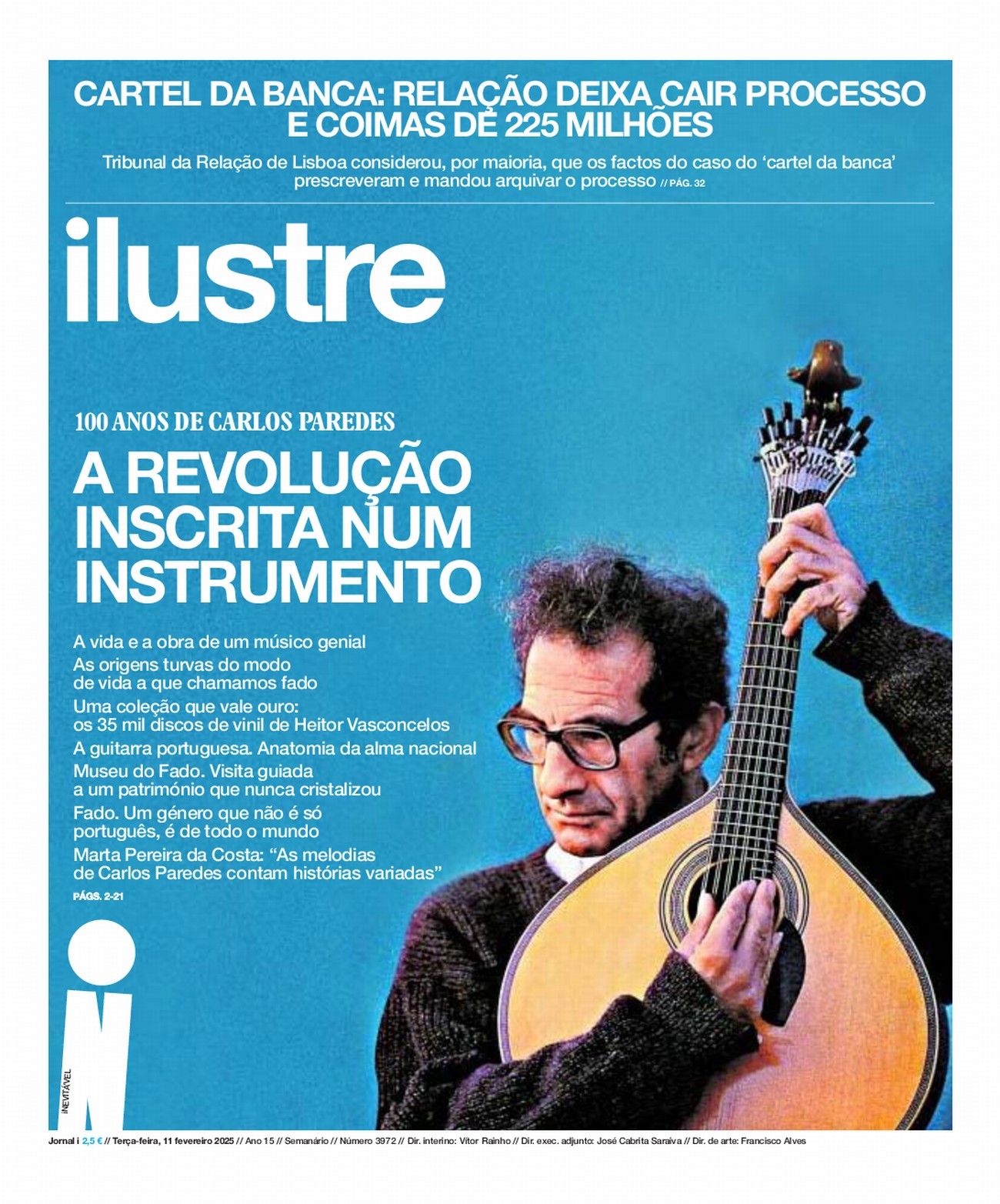Quem na madrugada de segunda-feira foi surpreendido pelas imagens do museu Museu Nacional do Brasil em chamas precisou certamente de legendas para situar o local: é que as labaredas laranjas surgiam, por entre as janelas, a lamber uma fachada semelhante à do Palácio Nacional da Ajuda. Afinal, aquele era também um edifício neoclássico e foi também a casa da família real portuguesa quando fugiu das invasões francesas. Foi inclusivamente este o local de nascimento da Rainha D. Maria II, a 4 de abril de 1819, tornando-se, por esta razão, a única monarca europeia nascida fora da Europa. Hoje, era o maior museu de História Natural da América Latina e comemorava este preciso ano dois séculos de existência. Eis a vida do Palácio de São Cristóvão em três atos que terminam em tragédia.
Paço real e imperial Quando a família real portuguesa desembarcou no Brasil da longa viagem transatlântica não foi logo habitar o Palácio Real. Primeiro, desembarcou em Salvador. E quando a corte chegou finalmente ao Rio de Janeiro, em março de 1808, dividiu-se por vários edifícios confiscados no centro da cidade, entre os quais o convento das Carmelitas e o paço do conde dos Arcos, Marcos de Noronha e Brito, que viria a ser o último vice-rei do Brasil.
O aparato era grande e as exigências protocolares infindáveis – e o paço do conde dos Arcos não era o mais luxuoso da cidade: à época, o melhor edifício do Rio de Janeiro era o novíssimo Palácio de São Cristóvão, construído por Elias António Lopes, um comerciante rico, no início daquele século. O palácio, que se desenvolvia em três pisos, foi erguido na chamada Quinta da Boavista, que anteriormente pertencera aos Jesuítas, expulsos em 1759. O comerciante acabou por doá-lo à família real que até 1821 fez dele morada durante a sua estadia no Brasil. Em 1822, com a declaração de independência do Brasil, tornou-se no Paço Imperial e no centro de poder do império, até 1889, ano em que foi proclamada a República.
Durante esse período, o edifício sofreu diversas reformas, e foi ampliado por D. Pedro II a partir de 1850. “O objetivo das alterações arquitetónicas era o palácio ser solidificado como lugar que emana o poder imperial durante o Segundo Reinado, visando reforçar a construção do Estado Nação. Para isso, D. Pedro II contou com seus súbditos, em especial com segmentos da nobreza brasileira, que acompanharam e apoiaram o monarca nos usos dos símbolos e rituais de fortalecimento do poder monárquico. Para desempenhar essas ações, utilizou como palco privilegiado a sua residência”, explica o museu na sua página oficial, citando um texto da historiadora Regina Dantas – que, na segunda-feira, chorou quando viu os estragos do incêndio. “Tudo que eu estudei durante esses 30 anos, acabou tudo. Os documentos estavam lá no terceiro andar”, afirmou ao site G1 a investigadora que em 2007 defendeu naquela mesma universidade a sua tese de mestrado: “A Casa do Imperador: do Paço de São Cristóvão ao Museu Nacional”.
Museu A história dos 200 anos da instituição conta-se relativamente rápido. O museu existia desde 1818 – três anos anos antes da partida da família real portuguesa. Foi criado por ordem do rei D. João VI, que também esteve por detrás do nascimento do Jardim Botânico, e dava pelo nome de Museu Real. Primeiro, foi instalado no Campo de Santana e só mais tarde passou para o palácio. Na sua génese, o Museu Real reuniu o legado vindo da antiga Casa de História Natural, o primeiro rascunho de uma instituição deste género, desenhado em 1784 pelo 12.º vice-rei do Brasil (que, a título de curiosidade, foi morto pelo Tiradentes). A ideia de D. João VI – que viajou para o Brasil acompanhado de uma biblioteca de quase 60.000 volumes – era, através do museu, fomentar a ciência e promover o conhecimento.
A semente ficou: a coleção não parou de crescer após a partida do Rei, sendo sucessivamente engrossada através da doação de diversas coleções particulares, além de ter sido adquirido espólio importante. Atualmente, tinha nada menos do que 20 milhões de peças.
Com a proclamação da República, o espaço foi utilizado pela Assembleia Nacional e, em 1892, a coleção foi transferida da casa dos Pássaros para o palácio. É então que recebe a designação que mantém até hoje: Museu Nacional.
Em 1910, o palácio sofreu novas remodelações e as 122 salas que o constituem continuavam, nos dias de hoje, a ser adaptadas à coleção. Desde 1946 que o Museu Nacional, a instituição científica mais antiga do Brasil, integrava a Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Ruína A crónica de uma morte ou de uma catástrofe anunciada fez parte do discurso jornalístico dos meios de comunicação que seguiram o incêndio. Era um desfecho que poderia ter sido antecipado: ainda este ano, a propósito das comemorações do bicentenário, os funcionários fizeram um vídeo em que denunciavam o estado calamitoso que se vivia no Museu Nacional, mostrando até fios elétricos expostos. Mas ninguém conseguiu reagir a tempo de evitar a catástrofe que terá, porventura, a caricatura máxima nas bocas de incêndio sem água.
Apagadas as chamas, começaram os números que, em último caso, foram o rastilho do fogo. No passado, os sucessivos cortes de orçamento já obrigaram, inclusivamente, o museu a fechar portas por falta de pessoal.
Ontem, a edição brasileira do El País fez contas impressionantes: segundo o jornal, o orçamento disponibilizado para lavar os 83 veículos oficiais da Câmara dos Deputados é três vezes superior à verba entregue ao museu pelo Governo. Entretanto, o Governo anunciou que vai disponibilizar 15 milhões de reais – cerca de três milhões de euros – para recuperar o espaço.
No terreno, além das autoridades, os funcionários continuam a procurar peças que possam ter sobrevivido às chamas. Ontem, o “Globo” dava conta de que um bombeiro tinha encontrado um crânio que poderia ser o de “Luzia”, o fóssil mais antigo da continente americano e que tinha sido dado como desaparecido. O crânio não estava de momento em exibição: encontrava-se guardado dentro de uma caixa de metal. Cláudia Rodrigues, uma das diretoras do Museu, mostrou contenção, afirmando que seriam necessárias “análises técnicas intensas para confirmação”. Também foi encontrado um retrato a óleo do início do século XX do Marechal Rondon, que deverá estar apto para restauro. Mas são as únicas exceções: a coleção egípcia ardeu por completo, a de etnologia idem. As peças que continuam a ser retiradas do museu estão, conta o mesmo jornal, a ser colocadas provisoriamente em dois locais pertencentes ao complexo da Quinta da Boavista.
Na tarde de segunda-feira, uma multidão invadiu o complexo para se manifestar contra o sucedido. Viam-se lágrimas em muitos rostos e as pessoas uniram-se num abraço pelo espólio desaparecido.
Os museus são o garante da memória, a certeza de que o conhecimento do passado é protegido. A tragédia do Museu Nacional mostrou que há que cuidar hoje do que deveria ser eterno.