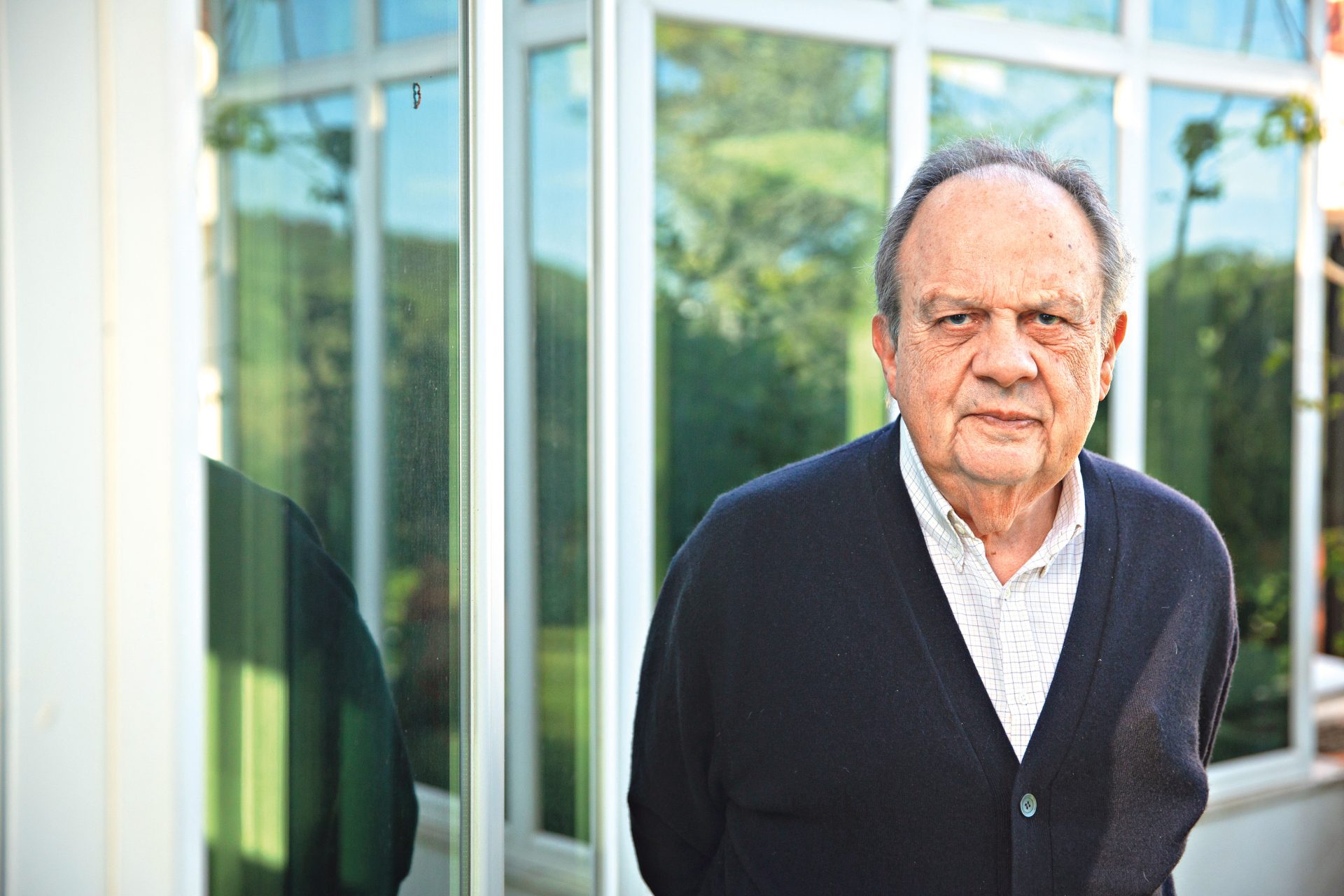Com o segundo número da revista “Electra” chegam a Portugal ecos de uma questão que tem ocupado lugar de destaque em França, ao ponto de o presidente Emmanuel Macron se ter sobre ela pronunciado: a questão Céline. Com dois textos a defender posições pretensamente contrárias, assinados pelos especialistas em anti-semitismo Serge Klarsfeld e Pierre-André Taguieff, esta última versão de um problema, que se arrasta há já muitos anos, nasceu no ano passado, quando a prestigiosa editora francesa Gallimard anunciou que iria editar um conjunto de três obras do autor de “Viagem ao Fim da Noite” e “Morte a Crédito”, que há décadas só conheciam a luz do dia em edições truncadas e ilegais – porque Céline as renegou e, posterior à sua morte em 1961, por proibição expressa da viúva. O problema, obviamente, não se encontra na edição de obras de um dos maiores escritores franceses do século XX. Panfletos que datam das décadas de 30 e 40 do século passado, odiosos, infames, anti-semitas e com incitações ao ódio e à violência, “Bagatelles pour un massacre”, “Les Beaux Draps” e “L’École des Cadavres” fazem parte de uma história já bastante documentada, que junta nomes maiores como Martin Heidegger ou Ezra Pound: a dos intelectuais, artistas, pensadores ou escritores, que se comprometeram com o regime nazi e com a ideologia fascista, que aderiram, justificaram, deram caução teórica e que, pelo menos no caso de Heidegger, só ambiguamente renunciaram ao passado. A questão, que levou à suspensão da edição crítica dos panfletos, é simples: deve-se ou não editar obras com um conteúdo como esse, mesmo que tenham sido escritas por um nome maior da literatura como Céline? Se a curta resposta de Serge Klarsfeld é um não perentório, já o longo texto de Taguieff é condicional: sim, caso a edição crítica seja bem feita, e não esconda o carácter odioso dos escritos de Céline. Como Taguieff tem um longo, meticuloso e a todos os níveis notável estudo sobre o anti-semitismo de Céline (“Céline, la race, le juif”), presume-se que a edição crítica estará a seu cargo, caso alguma vez venha a avançar.
Contrariamente a Espanha, por exemplo, onde o número de artigos de jornais que debateram a questão é considerável, em Portugal, à excepção de uma notícia do “Público”, a mesma não tem sido objecto de debate. Descontando o lugar secundário que a literatura ocupa no espaço público português, talvez haja outras razões para que o caso Céline não tenha tido qualquer tipo de eco em Portugal. De facto, o grau de comprometimento dos escritores com o regime salazarista foi de tal forma escasso, não produzindo uma escrita panfletária suficientemente representativa ou virulenta, que casos como o de Céline ou de Heidegger acabam por não criar qualquer tipo de clivagem dentro do espaço público. Mas, acima de tudo, existe uma especificidade francesa que dificilmente pode ser transposta para território nacional: o lugar do escritor e dessa outra figura caída em desuso, o intelectual, dentro da sociedade francesa. Desde Zola, e do famoso caso Dreyfus, que envolveu um oficial judeu acusado de espionagem, a figura do escritor assumiu contornos de consciência moral e política da pátria, tornando-se uma voz ouvida e respeitada relativamente aos assuntos de estado – “não se pode prender Voltaire”, como dizia De Gaulle relativamente ao apoio de Sartre às actividades dos grupos maoístas. Se em França, portanto, um caso como o de Céline – um grande escritor mas, também, politicamente odioso – só pode surgir como um escândalo da razão, em Portugal, onde o escritor e a literatura ocupam um lugar bastante marginal, o caso Céline, tal como o de Heidegger, adquire contornos artificiais e são uma excentricidade tipicamente francesa.
Este artificialismo que a questão Céline adquire quando transposta para Portugal não significa, no entanto, que não existam nela elementos que permitam diagnosticar um certo tipo de discurso que se tem vindo a instalar no espaço público português e que transforma a literatura num reino de bons sentimentos. Como se viu recentemente com a indignação em torno de “Os Maias” – que nasce, ironicamente, de um erro do jornal “Público”, rapidamente disseminado pelas redes sociais –, há um discurso que parasita a literatura e que, pretendendo conferir-lhe a dignidade perdida há já muito tempo, acaba por lhe retirar uma das poucas possibilidades que ainda lhe resta: a de ser uma força de atrito.
É certo que esse tipo de discurso, que tem inclusive contaminado grande parte da produção literária, assume contornos claramente anacrónicos, como se os nossos dignos representantes do progresso fossem contemporâneos de Voltaire e não percebessem que o seu tempo, em que as Letras eram a flor que encimava a luta contra o obscurantismo, já há muito passou. O problema, no entanto, é que, apesar de anacrónico, esse tipo de discurso tantas vezes inflamado arregimenta a literatura e procede a uma limpeza de qualquer forma de atrito, de excesso, de infâmia. Não se deve defender, evidentemente, o anti-semitismo de Céline, nem se trata de afirmar que os panfletos pertencem à história da literatura – quem passe os olhos por eles percebe facilmente que não pertencem. Mas há qualquer coisa de sintomático, um mal-estar evidente, quando, perante textos deste teor, Taguieff começa por afirmar que eles não pertencem “em primeiro lugar, à história literária” para, logo de seguida, varrer deles qualquer forma ligação à literatura – na realidade, dirá Taguieff, “pertencem menos à história da literatura (…) que à do anti-semitismo” –, como se a literatura não pudesse ter por base o que há de mais baixo e mesquinho, como se ela só se pudesse ter na sua génese uma pulsão para o belo. Não andamos longe, por exemplo, de um conhecido cronista do “Expresso”, que, há tempos, defendia que não se devia falar da homossexualidade de Melville – havendo literatura homossexual, o início de “Billy Budd” é um dos seus maiores exemplos –, tal como não andamos longe de quem não quer que se fale do esclavagismo do Padre António Vieira – e se Vieira for um defensor da escravatura, o que se faz com a sua obra? É este o limite do pensamento dos nossos dignos humanistas: se é um grande escritor, um grande pintor ou músico, se legou à humanidade – mas não, evidentemente, aos animais – uma das suas obras mais belas do seu património artístico, é impensável que possa ser odioso ou infame. Ou, no máximo, é preciso separar de forma bem clara, contextualizar historicamente, impedir qualquer forma de leitura anacrónica: o autor é grande, apesar de odioso, mas nunca poderá ser grande porque é odioso.
Para grande parte da opinião publicada em Portugal, a literatura só pode nascer arregimentada para os mais nobres sentimentos – para uma cidadania avançada, como dizia Manuel Alegre sobre a reintrodução do serviço militar obrigatório, poucas semanas depois de um discurso inflamado a defender “Os Maias”. Quando isso não se verifica, sempre por causa de um acidente empírico que não contamina o destino glorioso da literatura dentro do esforço civilizacional, é preciso instaurar uma economia dialéctica: aquele momento negativo encontra a sua justificação no facto de ter produzido uma bela obra de arte. Que a obra de arte seja inseparável do mesquinho, do vil, das pulsões mais negras, surge como algo de absolutamente impensável, um escândalo que é controlar.
Talvez seja por isso que os discursos a defender a nobre vocação da literatura tragam consigo, tantas vezes, uma retórica inflamada. Em declarações ao jornal “Público”, Manuel Alegre afirmava, sobre o serviço militar obrigatório, que este é uma forma de os jovens “se sentirem ligados ao país. Quando isto não acontece, quando este importante elo não existe, há um declínio da democracia”. Não é necessário um grande esforço para o imaginarmos a dizer exactamente o mesmo sobre a literatura. Que haja um elo não tão secreto assim entre o militarismo e a defesa da literatura não deve surpreender ninguém – a normalização dos corpos e das almas, se quisermos usar terminologia técnica de um dos filósofos mais interessantes do século XX, Michel Foucault. Mas também não deve surpreender ninguém que o imposto aduaneiro que a literatura paga para poder entrar no espaço idealizado da boa consciência é, na realidade, demasiado alto: todo e qualquer excesso tem de ser ignorado, a não ser que apareça com as rendas que uma cidadania avançada impõe, toda e qualquer infâmia deve ser enquadrada, contextualizada, sob pena de contaminar a literatura, dama vestal que, como as senhoras de antigamente, não vê nem ouve certas coisas. E mesmo quando alguém a tenta lançar para fora da comunidade de bons costumes, os cuidados são tantos que uma mera asneira surge como cúmulo da infâmia.