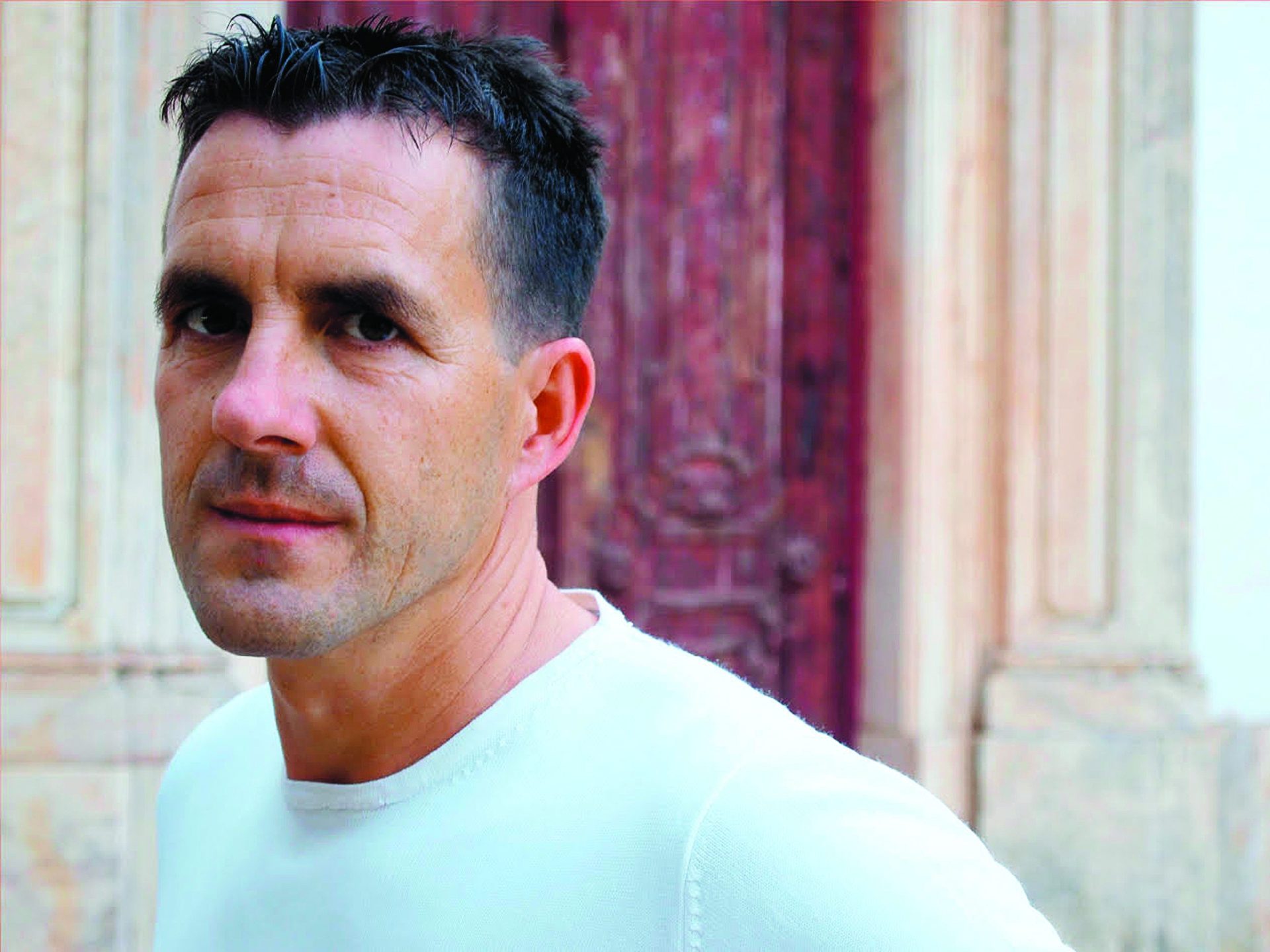Apesar da escassa recepção crítica de que tem sido alvo, a obra de H.G. Cancela, que venceu o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores com “As Pessoas do Drama”, surge como uma das mais interessantes experimentações numa área, o romance, que não tem sido palco de acontecimentos dignos de nota – tirando, evidentemente, um ou outro nome que vão permitindo que este género literário ainda respire.
Já com três romances publicados – “Anunciação” de 1999, “De Rustica”, em 2011, e “Impunidade”, de 2014 e pela mesma editora de “As Pessoas do Drama”, Cancela concentra neste último grande parte das suas preocupações, que se estendem, aliás, à sua obra ensaística. Assinando como Helder Gomes Cancela de forma a separar o ensaio filosófico da sua obra romanesca – mas as contaminações entre ambas são impossíveis de contrariar -, em “O Exercício da Violência. A Arte enquanto Tempo”, ensaio de 2014 publicado pela Companhia das Ilhas, também o conflito e a violência constroem a ordem do mundo.
“Distintivamente, o conflito de representações não consiste na tentativa de encontrar a correta perspetiva no interior de uma visão de mundo partilhada e inquestionada: ele supõe que nunca nenhuma representação, organização e linguagem sejam dadas como inquestionáveis. Supõe o conflito entre modos de mundo.”
“As Pessoas do Drama” não é evidentemente um romance de tese, apesar de grande parte das suas mais de duzentas páginas serem uma reflexão minuciosa sobre as relações entre vida e representação. O que nele está em causa, de facto, é a ação de uma violência sem motivo que paira nas vidas destas personagens. Mas não é só em “As Pessoas do Drama” que esta violência comparece. Já em “Impunidade”, que, aliás, conviria ler em conjunto com este tendo em conta a explícita continuidade entre ambos (Laura, a personagem central, transita dele), surgia esta ordem regida pelo acaso:
“Por debaixo da cidade, em estratos, o lixo acumulado por séculos de miséria parecia constituir a única superfície sólida. O lixo, a violência, o que sobra da morte ou o que lhe escapa, depostos e amontoados, num processo de produção da ordem por sobreposição do caos. Ou de produção do caos pela deposição de estratos de ordem, simultâneos e incompatíveis.”
Esta imagem, que diz respeito a umas escavações arqueológicas, poderia servir de chave de entrada também para “As Pessoas do Drama”, que, através de uma remissão explícita para o teatro – no fim do romance há uma lista com todas as personagens, acompanhada de uma pequena biografia -, encena essa “produção do caos”, essa acumulação de violência sobre violência que esvazia de sentido todos os acontecimentos. Não havendo, no entanto, contrariamente a W. G. Sebald, uma poderosa máquina de interrogação da história – talvez não fosse desprovido de interesse aprofundar a relação entre ambos, apesar das diferenças notórias -, encontramos em “As Pessoas do Drama” uma espécie de limiar entre representação e vida centrada em torno de Laura, atriz, mulher de Filippo e fruto de uma relação incestuosa entre o narrador e Lisa. Todo o romance, aliás, se centra em Laura e na relação dilacerada que esta mantém consigo mesma, começando por aceitar o pai quando este a encontra em Roma, voltando para Filippo quando o filho nasce, deixando este último e vindo para Portugal pouco tempo depois (não se percebe bem em que medida é que Filippo e Laura sabem que o narrador é pai desta), procurando a mãe e, por fim, indo embora.
Esta dimensão reflexiva a partir das constantes referências ao teatro não transforma “As Pessoas do Drama”, no entanto, num daqueles exercícios de meta-narrativa que ainda hoje, um pouco inexplicavelmente, diverte alguns cultores do género – que raramente produzem mais do que exercícios fastidiosos. É certo que o romance encontra no teatro uma espécie de modelo, é certo, também, que começa pela encenação de uma peça – e uma peça, “Antígona”, que tem como personagem principal alguém que é fruto de uma relação incestuosa -, e que na “cena final”, digamos assim, existe algo de teatral, com “apontamentos cénicos” por parte de Filippo. No entanto, o que realmente interessa neste romance de Cancela é o progressivo apagamento e o esbatimento da linha divisória entre representação e vida que uma violência sem tréguas impõe cegamente a todas as personagens.
“Mas, assim que colocara a venda, todos aqueles olhos se tinham tornado insuportavelmente agressivos. Sentia-lhes a presença, o peso, a respiração, os movimentos das pálpebras, havia no ar um cheiro a ameaça, uma mistura de perfume, de tabaco e de ressentimento”
Esta exposição de Laura a um olhar impiedoso vai encontrar em Victor, o pastor mudo e empregado do pai, um dos seus momentos mais conseguidos. Neste, é o próprio desejo – que é sempre desejo pela atriz, pela própria distinção entre representação e vida -, que é suplantado por uma pulsão quase animal que vê apenas, na vida de Laura, o entrelaçamento entre culpa e vazio – como um obturador que se limita a registar.
“Não aquele que falha, desatento, não aquele que não sabe ver, mas aquele que olha sem acreditar, aquele que nunca vê o que lhe querem mostrar, ou que não vê só isso, o que vê o cenário sabendo que é cenário, o que ouve o que é dito, palavra por palavra, mas o avalia pelo que ficou por dizer, aquele a quem não basta ver o que está no interior das blusas ou das cuecas, mas que precisa do sangue, das glândulas, dos tecidos moles. Aquele que não acredita precisamente porque vê”
Paradoxalmente pautado por extensos monólogos sobre a relação entre vida e representação, em “As Pessoas do Drama” Laura descobre, no momento em que esta relação colapsa, um dos motivos maiores da tragédia clássica: que a culpa, no limite, nada tem de subjetivo. Ela não pode, de facto, culpar a mãe por a ter abandonado; nem esta, por sua vez, a pode culpar pelo trauma, a relação incestuosa, de que ela é o signo. Ambas se encontram subjugadas por uma culpa de que não há memória, nem culpados, nem explicação, nem, também, redenção: “ser condenado sem conhecer a lei, perder sem dar conta de que havia um jogo”. É esta culpa objetiva que faz delas vítima e carrasco uma da outra, sem que nada nem ninguém consiga decidir e distinguir quem é uma e quem é outra.
Esta remissão para a tragédia clássica, de que H.G. Cancela fala numa entrevista ao “Público” – “quis pegar nesse texto clássico para o transfigurar, apresentando uma personagem que, sendo Antígona, não pode sê-lo” -, tem, no entanto, diversos limites, como se se tratasse, em “As Pessoas do Drama”, de outra coisa além dessa referência clássica. Numa frase de Filippo que poderia servir como linha de leitura do texto de Cancela, o encenador afirma: “«Só há uma coisa que temos em comum, e isso não nos aproxima»”. Falava do filho, é certo, mas esta consciência aguda de um lugar negativo, que é apenas o entrelaçamento de culpa e vazio nas vidas destas personagens, como um espaço que apenas excluí, é um dos motivos maiores do texto de Cancela. Há qualquer coisa em comum entre Lisa e Laura, entre esta e Filippo, Victor ou o narrador – mas isso que há em comum não os aproxima, apenas os distancia sem redenção, sem escapatória, sem conciliação possível, como se essa coisa em comum misturasse as personagens e fosse, de facto, a fonte do ódio e da violência.
Muito para além da relação entre representação e vida, “As Pessoas do Drama” encena estas personagens irremediavelmente condenadas, capturadas por uma cegueira que as transforma em seres errantes, sem destino – o primeiro capítulo, em que o narrador desce ao inferno para sair de lá, através da imagem de Laura a ser violentada na televisão, para entrar noutro inferno, mereceria ser transformado num texto autónomo, tal a sua capacidade em construir uma violência concentrada. Quando a distinção atinge um dos seus limites, no momento em que, num quarto com uma prostituta, o narrador leva a distinção a um ponto sem retorno, a narrativa de Cancela atinge um dos seus lugares mais agudos, como se descobrisse que, no fim, sobra apenas uma violência sem motivo, uma “produção do caos”:
“Via-a (à prostituta) segundo os olhos do agressor, sem piedade nem compaixão, pedindo-lhe apenas que aceitasse ser vítima o necessário para fazer de mim um agressor consciente e culpando-a desde o primeiro momento de me obrigar a sê-lo. Mas entre mim e as imagens não havia outro terreno em comum que não fosse o corpo da mulher. Dei por mim a cravar-lhe os dentes no pescoço, à procura de uma carne que não era a sua, enquanto, num grito, ela me repelia com as mãos. Senti-lhe os dedos a penetrarem-me os olhos, os indicadores cravados, ameaçando arrancar-mos das órbitas. Deixei-me cair, cego”
Tanto na distância irremediável que existe entre as personagens, que apenas uma violência sem motivo pode juntar, como na separação entre representação e vida, que só essa mesma violência pode mostrar, encontramo-nos já longe de uma mera atualização da tragédia clássica. De facto, já nada existe de trágico em “As Pessoas do Drama”.
“Não havia culpa e não haveria expiação. Aquilo que restava era igual em tamanho ao que havia perdido, coincidia com ele, e nenhum redimiria o outro. Nenhuma dor poderia apagar a dor anterior, nenhuma a poderia substituir, nenhuma a poderia resgatar.”
Sem culpa, expiação ou possibilidade de redenção, já nada mais resta a estas personagens que não seja a desordem do acaso, um amontoado de despojos que resultam da violência inscrita nas coisas. E quando Laura, no fim, deixa o filho com Victor e o pai – abandonando-o, tal como a mãe fez com ela -, mais não faz, talvez, que reconhecer essa ordem íntima do acaso.