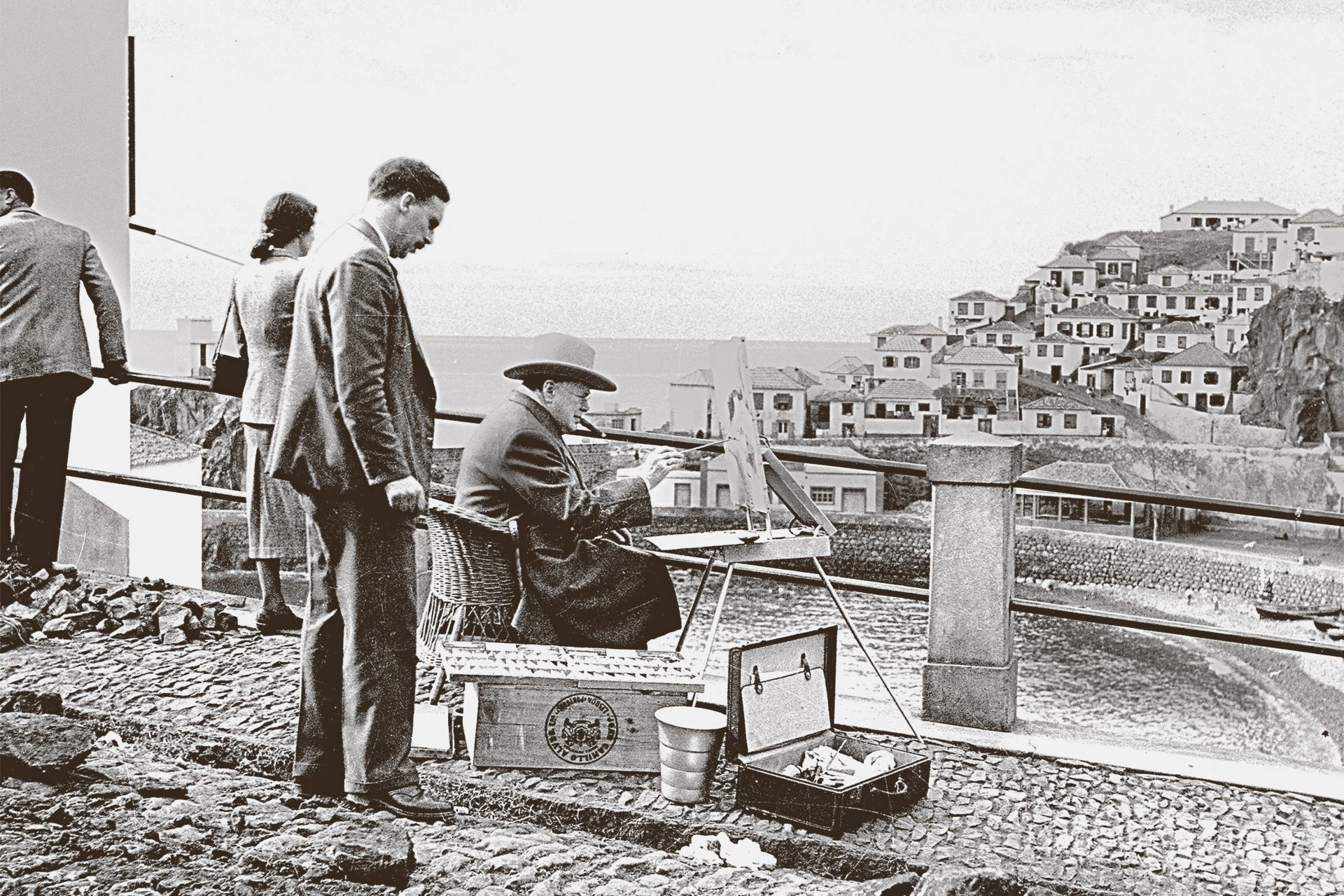Quando vi que, depois de “Os Pobres”, tinha publicado “Os Ricos” achei que era a segunda parte de um díptico – os pobres de um lado, os ricos do outro. Afinal percebi que este livro não estava previsto, tiveram de a convencer a escrevê-lo.
A palavra não é bem ‘convencer’. Escrevi “Os Pobres” e disse: ‘O que é que vou fazer a seguir para não cair em depressão?’. E depois o Rui Ramos e a Fátima Bonifácio, que são meus colegas do Instituto [de Ciências Sociais], disseram-me: ‘Porque é que não escreves sobre os ricos?’ Não tiveram de me convencer.
Foi mais sugerir…
Pois. O grande problema para fazer este tipo de livro em Portugal é a falta de fontes. Se fosse historiadora económica até poderia ir às contribuições das finanças – ainda que os arquivos do século XIX não sejam famosos no que diz respeito a finanças e números – mas o que eu queria era correspondência, diários, memórias.
Queria instantâneos da vida privada, era isso?
Exatamente. Os ricos que eu escolhi tinham de ter fortunas acima de X – um colega meu que é historiador económico ajudou-me a calcular as fortunas de forma a serem comparáveis – e por outro lado tinha que ter um espólio. A extensão e a inclusão dos dois ricos de que eu gosto mais é também por ter muitas cartas deles.
Quais são?
O José do Canto e a condessa de Rio Maior. A família do José do Canto teve a preocupação de juntar tudo e fez uma doação à universidade de Ponta Delgada, nos Açores. Depois, como ele viveu 16 anos em Paris, tenho muita correspondência. No caso da condessa de Rio Maior, um amigo meu, que é o António Saldanha, comprou num ferro-velho grande parte das cartas dela para os filhos. O facto de estarem num ferro-velho demonstra que a família deve ter chamado alguém para vender os móveis, e foi tudo. São gavetas e gavetas. Depois houve pessoas que me falaram de ricos que achavam terem muito interesse. Mas eu pergunto: ‘Onde é que está o espólio?’. Tenho de ter algum substrato para trabalhar.
Entre “Os Pobres” e “Os Ricos” qual gostou mais de escrever?
Não consigo distinguir. De certa maneira senti-me mais liberta a escrever estes livros do que outros que escrevi há 20 anos ou 30, em que estava ainda muito ativa na universidade e o ethos da universidade…
Colocava-lhe constrangimentos?
Sem eu notar – porque não sou uma pessoa fácil de dominar – mas tinha de pôr as notas de pé de página muito direitinhas, etc. Aqui tentei usar um método mais de empatia, o que seria impensável há 40 anos, quando acabei o doutoramento em Oxford. Ainda por cima era a primeira doutorada em Portugal no domínio da sociologia… Agora que estou reformada não me interessa a opinião dos meus colegas. Interessa-me a opinião do público.
Há alguns tiques que distingam os ricos – uma certa maneira de falar, de vestir ou de estar?
Não há um, há mil. Todos os grupos sociais – mesmo os pobres ou remediados – têm métodos de se reconhecerem uns aos outros. Os ricos também têm. A sociologia aqui falha, porque tem de se ver como é que se riem, como é que falam, a que missa vão. A certa altura, tinha eu 13 anos, de repente deixámos de ir à igreja de S. Mamede, que era a mais próxima de casa. E fomos para o Loreto. Nem me interroguei, só me chateava ter de usar meias de vidro no pino do verão. Mais tarde percebi que a razão era social: o Loreto era a igreja chique de Lisboa. Portanto, o vestuário, o vocabulário e até as igrejas onde se ia, tudo era determinado socialmente. Escrevi em tempos um artigo em que pus as palavras que os ricos usavam e as palavras que não usavam, que era inspirado num célebre artigo dos anos 50 da Nancy Mitford. Como ela pertencia às classes altas inglesas sabia quais os termos a usar e quais a evitar. Dado que vivi numa redoma até aos 20 anos, eu usava os mesmos termos que eles.
Pode dar um exemplo?
O exemplo mais simples é que dizia ‘encarnado’, não dizia ‘vermelho’. Depois comecei a dar-me na universidade com pessoas que eram de outros meios sociais, e hoje em dia posso dizer ‘está ali um sinal vermelho’. Mas os meus amigos notam. Há tempo almocei com um amigo que não via há muitos anos e ele estranhou: ‘Tu agora dizes vermelho? Agora dizes um gajo?’ E ele não dizia isso por ser um termo grosseiro, mas por ser um termo que simplesmente não usávamos. Mas como disse vai desde as palavras ao vestuário. Estas classes muito, muito altas não usam roupa de marca, por exemplo. É mais a classe média. Espero que você não esteja com uma camisa Lacoste…
Por acaso não.
A marca para eles não é importante.
Por considerarem vulgar?
Parte disso talvez tenha a ver com o facto de depois de a guerra civil entre miguelistas e liberais, que dividiu ao meio esta classe aristocrática, ter deixado pobres algumas famílias. Os bens foram-lhes confiscados. As roupas eram feitas lá em casa por uma costureira. Ao passo que a classe média, que estava em ascensão durante o marcelismo, já tinha aspirações a vestir-se muito bem, a usar marcas, nós olhávamos para as meninas e achávamo-las um bocado ridículas, porque esta classe média ascendente era muito ostentatória.
Como saiu dessa redoma?
Tirei a carta aos 18 anos, porque sentia que estava atabafada e queria-me emancipar e ir para a faculdade. Para lhe dar uma ideia dos rituais deste meio, no antigo 7.º ano, que é agora o 12.º, éramos aí 30 alunas e só duas fomos para a faculdade.
Mas se calhar noutros meios acontecia o mesmo.
Os pobres não iam porque não tinham dinheiro. Aqui era outra questão: ‘O que interessa é que estas raparigas casem bem, dentro do clã’. Eu não queria ficar em casa, tinha acabado um namoro que achava que não ia dar a sítio nenhum, já via a minha mãe e a minha sogra a imaginarem toalhas com as nossas iniciais…
Isso assustou-a?
Assustou-me e disse ‘não quero’. ‘Não quero ir para casa com duas criadas a destinar o almoço e o jantar. Quero ir para a faculdade’. O meu pai só intervinha em momentos críticos, a minha mãe tinha ambiguidade. Como era muito inteligente, penso que gostaria de ter acabado um curso. Mas não achava nada boa ideia eu ir para a faculdade, até porque aos 17 anos entrei numa frase de grande rebeldia e de disparates sucessivos. Não queria, por exemplo, que eu andasse de autocarro. Se calhar tinha medo que eu me lançasse sobre o condutor! Por outro lado, não queriam que eu me tornasse uma intelectual. Para eles, uma intelectual era a Professora Magalhães Colaço, a Professora Virgínia Rau, era como se de repente eu passasse a andar com o cabelo todo oleoso, sempre a ler livros, e ficasse feia. Tive de dizer: ‘Pai, eu não vou ficar feia, não vou mudar’. Consegui ir para a faculdade e tirei a carta, mas tive de fazer algumas promessas ao meu pai.
Que tipo de promessas?
Não entrar num café, coisa que me pareceu aberrante porque nunca tinha entrado e não me interessava nada entrar. Achava que no café só havia velhos com um chapéu. Por detrás disso tudo penso que havia a ideia de que nos cafés se discutia política. O meu pai não era militantemente salazarista. Até à [Segunda] Guerra tinha sido, mas nunca tinha pertencido à União Nacional, por exemplo, mas depois da guerra, como ele era anglófilo, era do lado dos aliados. Não era muito chegado ao regime, mas também não queria ter uma miúda que fosse discutir política.
Uma revolucionária…
… que foi no que eu me transformei mal pude [risos]. Deixei de acreditar na Igreja Católica, tornei-me esquerdista… Mas isso já depois de sair de casa dos meus pais. Acho que não fiz mais nenhuma promessa. De resto, quando cheguei à faculdade a integração foi muito difícil. A maneira como me vestia, o meu aspeto físico fez com que a maior parte dos meus colegas não fosse capaz de contactar comigo. O único que quebrou esta barreira foi um miúdo espevitado, que era o José Medeiros Ferreira, e começámos a falar. Mas a diferença de classe era suficientemente grande para eu não o poder convidar para casa dos meus pais. Ele vivia num quarto alugado ao pé do Largo do Rato, às vezes trocávamos apontamentos, mas eu sabia que não podia ir ao quarto alugado dele. Depois, eu tinha imensa sede de saber, queria aprender coisas. E a maior parte dos professores sabiam muito pouco. O único que me impressionou, curiosamente, foi o Padre Manuel Antunes, que dava História da Cultura Clássica. Era um erudito e alguém que sabia bastante do que falava. Simplesmente ensinava 500 alunos num anfiteatro, portanto acabei por não aprender quase nada. E fiquei triste. ‘Tinha tantas aspirações e afinal quase não sei nada’. No fim do primeiro ano estava tristíssima, a fazer cada vez mais asneiras, e consegui convencer o meu pai e a minha mãe a deixarem-me ir para Londres.
Para estudar?
Não sabia onde me iam meter. Fui com uma amiga também para um colégio de freiras, mas interno, de católicos espanhóis, que são muito mais fanáticos. ‘Não acredito no que me está a acontecer’. As outras espanholas não se importavam nada de estar naquela clausura completa. Eu comecei a fugir e organizei lá uma greve: ‘Quem for à missa incorre numa pena que é eu atirá-lo do primeiro andar abaixo e vai morrer’. Houve uma belga que furou a greve, eu levei-a à janela, apareceu a madre superiora e fui expulsa. ‘Esta menina insubordina o colégio inteiro’. Tive sorte, porque o meu pai foi lá e percebeu. ‘Ficas em Londres, mas portas-te bem’.
Que idade tinha aí?
Tinha acabado de fazer 18 anos. Aluguei um quarto com uma amiga a uns polacos e inscrevi-me numa escola, aprendi a falar inglês e não fiz asneiras absolutamente nenhumas. Acho que foram os meses em que me portei melhor, sob todos os pontos de vista: social, sexual, intelectual, portei-me impecavelmente.
Até quando ficou?
Até agosto. As espanholas do colégio interno de quem tinha ficado amiga convidaram-me para ir para Jerez de la Frontera e a minha mãe achou uma maravilha, devia dar um ótimo casamento, com um descendente dos Domecq ou dos Ibarra – eram todos de famílias com nomes sonantes. Quando voltei para Portugal inscrevi-me no segundo ano da Faculdade. Depois engravidei e tive de casar. Como o meu marido estava na tropa inventei a treta – os meus pais aparentemente acreditaram – que ele tinha sido chamado para África e portanto tínhamos de casar num mês. Casámos em 63.
Isso era o tipo de coisa que os seus pais temiam que acontecesse quando saiu de casa?
Acho que sim. As minhas netas não acreditam nesta história, acham que estou a inventar, mas eu não sabia como é que se engravidava. Ao princípio nem percebi que estava grávida, o Carlos é que me disse que devia estar. Fomos ao médico e estava mesmo. A Sofia nasceu oficialmente de sete meses – embora pesasse 3,5kg, um bebé prematuro um bocado grande. Mesmo assim a minha família continua a acreditar ou a fingir que acredita.
E para o pai, foi um choque?
Não, acho que gostávamos um do outro na altura. Ele também era rebelde, como eu. Tinha ido de Vespa para a Suécia, não acabou o 7.º ano sequer, e foi também isso que me atraiu. O pai dele era muito importante, era professor catedrático na Faculdade de Direito, depois foi para Madrid como embaixador. Na altura em que nos casámos ele era embaixador em Madrid e tinha deixado uma casa vazia. Por isso é que eu engravidei… até porque não me estou a ver a ir para uma pensão… Depois tive a Sofia, e havia o ditado de que as mães que amamentavam não engravidavam. Passados quatro meses voltei a engravidar. No espaço de um só ano tive dois filhos. Vi num jornal americano que havia uma pílula anticoncecional, fui ter com um ginecólogo e disse: ‘Não quero ter mais filhos. Passe-me uma receita da pílula’. Ele recusou-se. ‘Não passo porque sou católico’. ‘Está bem, sr. dr. Boa tarde’. Fui a outro que me passou.
Quando voltou à universidade como conseguiu conciliar os estudos com os filhos?
Em 63, quando me casei, estava no terceiro ano. Como era orgulhosa nunca pedi nada aos meus pais e entretanto o meu pai tinha-se arruinado. O meu sogro era embaixador em Madrid, tinha dinheiro, mas o Carlos também não queria pedir. Ele era soldado raso na tropa e ganhava qualquer coisa como 400 ou 500 escudos. Arranjei um emprego para sustentar a casa e fui para tradutora/intérprete no ministério da Saúde. Era uma ocupação absolutamente ridícula. Trabalhava com relógio de ponto, das 9 às cinco e meia, estava a tentar acabar o curso e tinha dois filhos pequenos em casa. Quando chegava a casa às seis horas – e tinha uma empregada – tinha de dar banho às criancinhas e pô-las na cama, não tinha tempo para estar ali a ler os livros recomendados na faculdade, onde era estudante-trabalhadora. Havia uma colega que me passava os apontamentos das aulas e até havia umas sebentas tão boas ou tão más que eram os contínuos – que deviam ser muito alfabetizados… – que iam às aulas, tiravam os apontamentos e vendiam. Uma vez, numa oral, houve um professor que me fez uma pergunta e eu resolvi contar-lhe uma história que tinha lido sobre um chinês que sonha com uma borboleta, e depois não sabe se é o chinês que sonha com a borboleta ou a borboleta que sonha com o chinês. Este género de brincadeiras normalmente funcionava e davam-me ‘aprovado’. Mas este professor era de outra cepa: ‘Eu perguntei-lhe sobre Kant e respondeu-me com uma história sobre um chinês e uma borboleta. Boa tarde’. Na pauta apareceu ‘reprovada’. Eu fiquei atónita porque nunca tinha sido reprovada e fui tirar satisfações. ‘O senhor professor não tem moral para me reprovar. Nunca deu uma aula. Tem um assistente que é um imbecil, que foi quem deu as aulas. Não me pode reprovar’. Olhou para mim e disse: ‘Vou reprová-la, tem que vir às aulas’. ‘Não posso porque estou a trabalhar das 9 às cinco com relógio de ponto’. E ele: ‘Isso não é problema meu’.
Conseguiu resolver a situação?
O velhote com quem eu trabalhava tinha morrido, felizmente – devo-lhe ter feito a vida num inferno, o homem teve um ataque cardíaco, e foi substituído por um senhor muito simpático, o senhor Arnaldo Sampaio, pai do Jorge Sampaio. Um dia contei-lhe a história. ‘Há um professor que me obriga a ir às aulas’. E ele disse: ‘Então vá às aulas, converse com o chefe da repartição e repõe o tempo das aulas’. Passei a ir a essas aulas e acabei por passar. Foi bom porque aprendi uma lição: tinha de saber o mínimo, pelo menos com este professor, para passar.
Disse-me que o seu pai se arruinou. Como foi isso?
Um dia notei que além do andar muito bom na Rodrigo da Fonseca – que era alugado, mas tinha aí 14 divisões – a minha mãe alugou uma casa ao ano no Monte Estoril, onde pôs a maior parte do mobiliário. Pensei: ‘Devem estar riquíssimos’. Era o contrário. Estavam à beira da ruína e a minha mãe, como era muito inteligente e dinâmica, foi ver com um contabilista do meu pai o que se passava e percebeu que ia tudo a hasta pública, portanto fez uma separação legal, sacou os móveis bons, alugou a casa no Monte Estoril e levou tudo para lá. Quando escrevi o “Bilhete de Identidade” e vi alguns papéis do meu pai percebi que ele detestava o negócio do pai.
Que negócio era esse?
O meu avô era um lavrador relativamente abastado da região de Tomar, não era rico, e deixou uma serração perto de Castelo de Bode – aquela zona tem muito pinhal. Durante a Guerra o meu pai começou a exportar madeira e enriqueceu mais, mas não se interessava nada. Só depois de ele morrer é que vi a prova de concurso à carreira diplomática que ele fez no início dos anos 40. Não o aceitaram, acho que por várias razões – os diplomatas eram um clã bastante fechado – e além disso, ele defendia, numa espécie de mini-tese, que o nosso império colonial devia tornar-se numa espécie de Commonwealth como a inglesa. Acho que o meu pai se desinteressou dos negócios, deixou de exportar tanta madeira e entrou no que os psicanalistas chamam estado de denial. Aos 45 anos, a minha mãe teve de ir trabalhar – tiro-lhe o chapéu – para sustentar os meus dois irmãos mais novos. ‘Porque é que a mãe vai trabalhar?’. E ela disse: ‘Porque preciso, não temos dinheiro’.
Refere no livro que, por sermos um país mais pobre, temos alguns complexos em relação ao estrangeiro, sobretudo a países mais desenvolvidos. Pelo facto de ter crescido num meio privilegiado teve menos complexos quando foi estudar para Inglaterra?
Socialmente sim. Era capaz de me dar com os Domech sem problemas. Mas não me deu à-vontade nenhum do ponto de vista intelectual. Isso só se tornou evidente mais tarde, quando fui para Oxford. Achava que era totalmente analfabeta – e era – e em segundo lugar percebi que sob o ponto de vista da religião, embora tivesse estado 14 anos num colégio de freiras, era iletrada. O meu melhor amigo era um judeu secular nascido em Tel Aviv que conhecia lindamente o Antigo e o Novo Testamento. Às vezes queria discutir esses temas e eu ficava de boca aberta, parecia uma tola. Outro amigo era protestante, e perguntava-me: ‘Sabes ao menos qual é a diferença entre os protestantes e os católicos?’. Eu não fazia ideia. O meu complexo de inferioridade era intelectual, não era social. E foi difícil de superar. Esse amigo israelita ao princípio ajudou-me muito. ‘Isto está cheio de professores analfabetos. Vai à porcaria dos seminários e diz o que tens a dizer. O doutoramento faz-se facilmente’. A parte do complexo de inferioridade intelectual começou a passar.
Pode falar-me das suas férias em Cascais? O ambiente era muito diferente do de Lisboa?
Não. Eu ia para Cascais desde que nasci. Esse grupo de famílias tinham também casa em Lisboa e depois das férias deslocava-se para Lisboa, dava muitas festas, nós chamávamos reuniões.
E nessas reuniões o que faziam?
Dançávamos. Púnhamos um disco de 45 rotações – normalmente o Paul Anka -, dançávamos, olhávamos uns para os outros. E como ia sempre bem vestida, loira, e espampanante, tinha sempre muito sucesso nessas festas. Havia sempre muitos meninos que me pediam: ‘Quer dançar comigo?’. Cochichávamos, intrigávamos – ‘achas que ele gosta de mim?’ – as conversas eram muito à volta disso. Patetices adolescentes, nada de intelectualidades.
Como eram por dentro as casas dessa gente rica com quem se dava?
Havia de tudo. Por exemplo, os Van Zellers viviam numa casa enorme em Xabregas, com um enorme jardim, por isso faziam festas com muito mais gente. Eu não notava se as casas eram ricas ou não eram ricas, mas eram muito bem decoradas, com móveis antigos – de resto no livro cito uma frase do Alan Clarke com que me ri imenso. Quando ele quis destruir o rival dele dentro do partido conservador, o Heseltine, disse que ele tinha tido de comprar a mobília quando se casou, dando a entender…
Que não tinha pergaminhos.
Estas famílias deviam ter casas com muitos móveis antigos herdados, mas eu não dava por isso. Havia outras casas que não eram nada faustosas nem grandes. Não era o dinheiro que contava nem era o dinheiro que me impressionaria.
O que contava então? Os apelidos?
Eu não tinha a noção disso. Isto era impulsionado pela minha mãe, que gostava que eu me desse com estas pessoas. E elas eram simpáticas comigo.
E Cascais, era parecido com o que é hoje?
É estranho que eu não ia a Cascais para aí há 30 anos.
Não me diga!
A sério. Tornei-me muito sedentária. Como não tinha nada que fazer em Cascais acabei por não ir lá. Só há quatro anos é que a minha irmã tanto me chateou para ir ver a casa dela no Monte Estoril que fui com o António [Barreto, marido] e depois demos uma volta em Cascais. Há partes de Cascais que estavam para mim irreconhecíveis – estou a comparar com o Cascais dos anos 50, quando era uma vila de pescadores com famílias de aristocratas que iam ali passar o verão em parte porque a Família Real ia para ali. Achei que estava diferentíssimo, exceto uma ou outra casa… nem isso! A casa dos Arnosos, mesmo em cima da baía, era um turismo de habitação agora. Muitas destas famílias tinham pouco dinheiro e arruinaram-se depressa. Fui sabendo da vida delas pela minha irmã e o que noto é que estas pessoas que viviam em Cascais não tinham preparação nenhuma académica e não têm meios de subsistência, que é uma coisa que me horroriza. Não são capazes de ganhar a vida. As que ficaram viúvas passaram por dificuldades porque nunca lhes deram utensílios para elas poderem subsistir por si.
No capítulo sobre o Duque de Palmela diz o seguinte: «As regras morais no que ao povo diz respeito eram para ser aplicados à classe média e ao povo, não à aristocracia e muito menos a Germaine de Staël». Muitas pessoas acham que os ricos são conservadores. Mas há muitos deboches, muitas quebras das regras de boa conduta?
A palavra deboche é forte de mais. Mas a grande parte dos pais destas minhas amigas achavam que as regras morais não se lhes aplicavam. Isto provavelmente apanha todas as classes – os maridos podem praticar adultério, as mulheres não. Eu escrevi a biografia do Eça e noto muito a obsessão que havia no século XIX com o adultério da mulher. Em Cascais havia vários mistérios – de que eu na altura também não estava consciente, mas depois fui percebendo. Não era só adultério, havia casos de homossexualidade escondidos que só essas famílias é que sabiam. As normas éticas eram para as classes abaixo, porque era uma maneira de a sociedade estar sossegada. Quanto a eles, podiam fugir às normas, porque a sociedade não ruiria por isso. A moralidade destas pessoas era diferente da que eles queriam aplicar ao comum dos portugueses. Havia imensos homens que tinham amantes com casas postas. E em parte foi por isso que eu deixei de ser católica, achava que os católicos eram uns hipócritas. Iam ao confessionário, diziam que tinham ido para a cama com outra mulher e o padre dizia ‘reze uma Avé Maria’.
E limpavam o cadastro…
Exatamente.
Mas o facto de não cumprirem essas regras por um lado era porque podiam e tinham meios para isso, por outro seria também por um certo sentimento de superioridade, não?
Sim. Pelas duas razões. Por exemplo, ir para a cama com as criadas, que era uma coisa que a certa altura me passou a horrorizar, era tido como normal pelos meus amigos e pelos pais deles. Eu comentava: ‘Coitadas, eram virgens e vocês iam para a cama com elas’. ‘Ah, mas elas gostavam imenso’. Gostavam uma ova! Conhecia casos de criadas que tinham engravidado, iam dizer à patroa e a patroa punha-as na rua. Eles riam-se muito e achavam aquilo a coisa mais normal do mundo. E eu achava que ser católico implicava não fazer aquilo.
Chocava-a?
Chocava. Acho que as pessoas devem praticar aquilo em que acreditam.
Diz-nos na conclusão do seu livro que também nem sempre foi imune ao vírus do snobismo. Depois deu-se conta, foi?
Acho que nunca fui snob social. Estando eu neste grupo, nunca achei que eles fossem o suprassumo e não desprezava as pessoas que não pertencessem ao grupo. E depois quando fui para o estrangeiro conheci pessoas diferentes. Mas não suscitavam em mim um desejo de subir na vida e ser como elas. E descobri que era snob intelectual. Mas num certo sentido é normal: gosto mais de me dar com pessoas inteligentes do que com pessoas burras e incultas. A conversa não flui. Só havia um ponto fraco nesta snobeira intelectual: achava que as pessoas que eram muito mais cultas do que eu, especialmente em Oxford, haviam de ser muito mais fascinantes. E não é verdade. Há imensas pessoas muito inteligentes que são más pessoas, têm mau caráter, são invejosas e deixaram de me interessar.
Podem ser verdadeiros crápulas. E como se passou esse episódio com o Gore Vidal de que fala no livro?
Eu tinha imensa admiração pelo Gore Vidal. Ele veio cá fazer uma palestra, eu estava na assistência e por qualquer razão vieram-me pedir se me importava de ir falar com ele. A conversa foi um desastre. O homem disse mal de tudo o que viu em Lisboa, o hotel Ritz era uma porcaria. Foi meia hora, não foi mais, mas foi tão antipático que pensei ‘tenho de rever um bocadinho a minha atitude em relação às pessoas’. Durante a doença valorizei muito uma coisa que é a bondade. Pessoas que não são da minha família, não estão dependentes de mim, não me devem nada. Principalmente uma enfermeira. Caramba, é tão bondosa!
Em Portugal existe uma grande desconfiança em relação aos ricos – o povo acha que são ladrões, aldrabões ou corruptos. O que em parte se deve à inveja. Mas estes casos de Salgado, Sócrates, Bava ou Pinho não acabam por justificar essa desconfiança?
Infelizmente sim. Acho que tem razão, parte da atitude popular em relação aos ricos é por inveja. E não podemos esquecer que se há corrupção entre os mais poderosos, também há corrupção entre o povo, é por isso que o povo aceita e algumas pessoas das classes mais humildes pensam: ‘Se eu lá estivesse fazia o mesmo’. Não há exigência de baixo. Por exemplo, como é possível que haja pessoas que depois dos incêndios aldrabaram na obtenção do dinheiro para casas que não existiam ou eram albergues para animais? Há corrupção também a um nível muito pequenino. É pior nos ricos porque prejudicam mais o país. Não é por três ou quatro casas em Pedrógão que vamos ter um PIB menor, mas é por causa do que Ricardo Salgado fez e das pessoas que corrompeu – com o engenheiro Sócrates à cabeça – que estamos nesta situação. Faz-me tristeza, porque eu era muito ingénua no 25 de Abril, em 74.
E agora, tornou-se mais cínica?
Tornei-me mais triste. Gostava de poder acreditar que o país onde vivo era mais justo e menos corrupto. E não é.
Da mesma forma que existe essa desconfiança em relação aos ricos, o inverso também é verdade? Os ricos sentem desprezo por quem não tem dinheiro?
Sentem. Estou a falar de ricos muito especiais. Os velhos-ricos, ainda vivem quase num sistema de castas, como na Índia. A noção de que as empregadas domésticas têm direitos – como mulher tenho mais vezes estas conversas – faz-lhes muita confusão. Ou que vão votar. ‘És parva? Tu és doutorada. Achas que elas têm a mesma capacidade para apreciar a política de um país que tu?’. E eu respondo: ‘Não têm a mesma capacidade, mas têm a mesma perceção de quais são os interesses delas, portanto acho normal que tenham um voto’. Há ainda uma grande separação na maneira como essas pessoas olham para os de baixo.
Liga ao dinheiro?
Muitas vezes pode parecer que desprezo o dinheiro. Não. Desde os 19 anos que vivo totalmente do que ganho. Quando tenho menos gasto menos, quando tenho mais gosto mais. Tinha poupado um bocado para a doença, mas como sou da ADSE estou a ser tratada quase de graça, tenho o mínimo para me poder tratar decentemente. Não sei se vivo mais um ou dois anos, mas não vou precisar da ajuda de ninguém. E o dinheiro dá-me independência, que é a coisa mais importante do mundo. Nunca dependi de um marido, e a partir dos 18 anos deixei de depender dos meus pais. E foi uma coisa boa.
Não se tinha habituado a certos confortos?
Tinha, mas assim como me habituei desabituei-me. Deixei de comprar tantos sapatos quando estava em Londres e depois em Oxford. Houve alturas em que estava um bocado pobre. Não podia comprar carne de vaca e comia carne de cavalo, que era mais barata. As minhas agendas dos anos 60 estão cheias de contas da drogaria. E nunca pedi dinheiro emprestado à minha família, jamais. Nem à família própria nem à família por afinidade, que até era mais rica.
No final deste livro diz que o lhe dinheiro permite fazer o que lhe apetece. Fez sempre o que lhe apetecia?
A resposta é sim, às vezes com custos grandes. O custo maior ocorreu em 1969-70, quando me separei do meu primeiro marido e tive a bolsa de estudos da Gulbenkian para ir estudar em Oxford. Nós não nos separámos zangados, por eu ou ele nos termos apaixonado por alguém. Não, os nossos caminhos divergiram. Nos meses em que eu estava em Oxford tinha imensas saudades dos meus filhos, que na altura tinham seis e sete anos. Isso custou-me muito. E toda a minha entourage me culpabilizou. ‘Abandonaste os teus filhos’. Hoje acho que fiz bem, mas sofri imenso. Fiquei com a sensação que aconteça o que me acontecer na vida, nunca mais sofrerei tanto como aquilo que sofri durante aqueles dois anos.
Os seus filhos falam disso?
Só a brincar. ‘Ficámos traumatizadíssimos!’. Acho que não ficaram nada traumatizados. Quando eu fui para Inglaterra é evidente que devem ter sofrido. Mas iam lá de vez em quando porque o pai era piloto da TAP e não pagavam bilhetes de avião. Por outro lado, como eu me sentia muito culpabilizada, mandava-lhes imensos brinquedos. A imagem que eles têm é de chegarem a casa pacotes ou com casacos lindíssimos ou com aviões para montar, ou soldadinhos de chumbo. Havia a ideia de uma mãe que estava longe mas lhes mandava muitos presentes. E os miúdos são muito materialistas – uma mãe que lhes manda presentes é bom.
Alguma vez se reconciliou ou voltou a aproximar-se do catolicismo?
Nunca mais pensei no assunto. Nem me inquieta.
Nem agora, com a doença?
Não. Há várias pessoas que me perguntam: ‘Não pensas o que vai acontecer na morte, se vais para o Céu ou para o Inferno?’ (se pensasse nisso ia logo para o inferno…) A questão nunca se me pôs. Na religião católica, tanto quanto sei, embora seja uma analfabeta em teologia, há o princípio da Graça. Deus cai sobre nós através da Graça e é Ele que nos escolhe. Se Deus quiser falar comigo, estou atenta, tenho ouvidos e ouço. Nunca quis. Eu também não preciso de Deus para o dia-a-dia nem para ter um comportamento ético, e até sou relativamente moralista. Há coisas que não se fazem. E não preciso de Deus para me orientar do ponto de vista moral. Em Portugal, nos países latinos tendemos a juntar a religião à ética. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sei o que é o bem o mal e não preciso de Deus para me ensinar a distinguir uma coisa da outra.
Em termos de espiritualidade há alguma coisa que cultive ou lhe interesse?
Não. A única coisa que cultivo é ter uma massagista que me faz massagens shiatsu. No início ainda tentou falar-me do hinduísmo mas eu disse-lhe que não valia a pena. Dou-me lindamente com as massagens shiatsu, sossegam-me, deixam-me a dormir, mas não tenho nenhuma apetência por temas transcendentes. Fiquei impressionada com estes miúdos da gruta na Tailândia, fiquei a pensar no que o budismo lhes teria trazido. Mas não sei nada sobre budismo e não é agora que vou aprofundar a questão.
Disse que era moralista. Curiosamente não era essa a ideia que fazia de si. Imagino-a mais liberal…
Identifico-me com os grandes liberais, como por exemplo Stuart Mill. Não há Deus nem político que me imponha o que quer que seja, sou individualista e liberal. Disse moralista porque tenho uma forte noção do que é o bem e do que é o mal. E não gosto que as pessoas digam: ‘Como és agnóstica deves ser uma imoral’. Isso está ligado ao sexo. A ideia de: ‘Ah, ela andou na cama com muitos homens’. É mentira. Andei na cama com pouquíssimos homens, se calhar até devia ter gozado mais. E não acho bem a libertinagem. Nunca fui favorável ao Maio de 68.
Nem ao excesso de promiscuidade.
Nunca me atraiu. Sou muito monogâmica. Tive três maridos e prezo muito a fidelidade e a lealdade. As pessoas acham que não acreditando em Deus, perco todas as referências. Não é verdade. Por isso me chocou tanto o que sucedeu no furacão Katrina, em que as multidões foram para um estádio e essas mesmas pessoas que tinham perdido tudo estavam a violar crianças… Como é possível?! Como é que existe tanto mal no meio de uma tragédia? Não sei se me expliquei…
Sim, sim, explicou perfeitamente.
Volto a pegar nesta frase em que diz que o dinheiro lhe deu a possibilidade de ir fazendo o que lhe apetecia. Continua a fazer o que lhe apetece?
Continuo, com as limitações da doença. Todos os anos alugava uma casa a uma colega minha, muito barata, e ia para Oxford três meses. Era bom, sentia-me expatriada, não me preocupava mais com Portugal.
O que ia para lá fazer?
Fazia exatamente o que faço aqui com duas diferenças. Primeiro tinha paz de espírito. A minha mãe esteve 11 anos com Alzheimer e como eu era a mais velha sentia enorme responsabilidade. O António diz que eu tenho o complexo de Zorro: acho que se não sou eu a fazer tudo o mundo descamba. Tive 11 anos muito difíceis e durante o verão ia para lá e os meus três irmãos que se ocupassem da minha mãe. Na altura, há 20 anos, não havia a facilidade que hoje há no acesso às bibliotecas boas através da internet. Quando fiz a biografia do D. Pedro V estive a trabalhar mesmo na biblioteca do palácio de Windsor, que é uma biblioteca privada da rainha Isabel II. E Oxford tem uma das melhores bibliotecas do mundo. O que entusiasmava era o acesso à cultura. E a sensação de que vivia no meio da natureza. Mesmo ao lado dessa casa há um prado que não é fertilizado desde o século XII, os habitantes podem lá pôr os cavalos e as vacas, tem patinhos, é quase um paraíso terreno. Andava de bicicleta, que era outro dos prazeres que eu tinha.
E hoje quais são os seus maiores prazeres?
Acho que é a música. Agora ando a ouvir Schubert, há um trecho de uma missa que se chama ‘Et Incarnatus Est’ de que gosto muito. Sou uma fanática de ópera. Mas desde que estou doente, o Verdi tem tanta vitalidade que… não sei.
Exige muito de si?
Exige. Ao passo que o Schubert conforta-me.