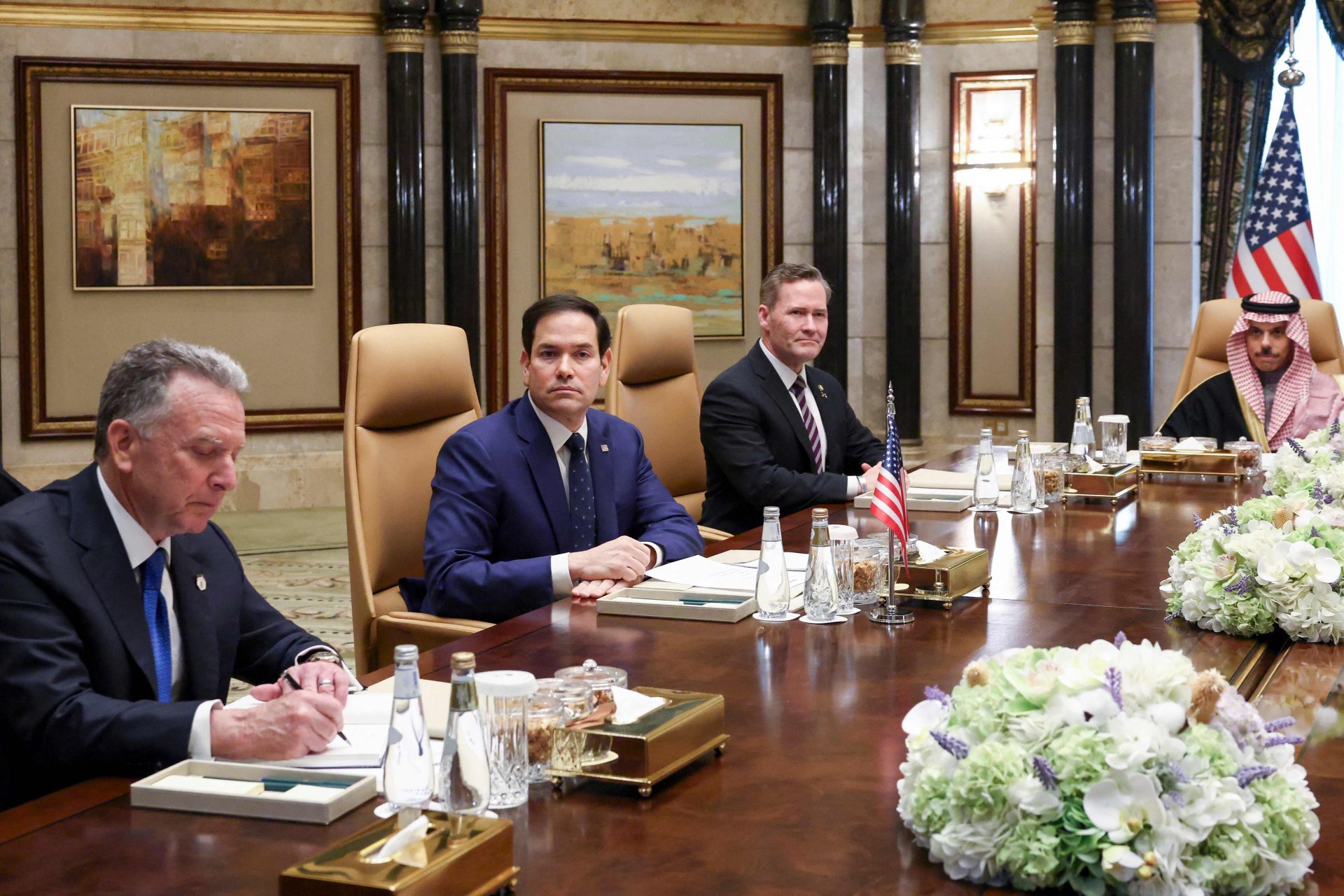Amílcar tinha acabado de atender alguém “muito aflito” que tinha vindo à Associação Positivo fazer o teste de VIH. Seja qual for o resultado, e dado que é uma das pessoas a viver mais tempo com o vírus em Portugal, terá com certeza a palavra certa a dizer. Foi exatamente por não ter um “Amílcar” para lhe dar essa resposta quando, há 30 anos, foi diagnosticado, que decidiu abraçar a causa como sua. Aos 63 anos, dedica os seus dias a informar grupos de risco e a apoiar quem já tem o diagnóstico como certo.
Vive com o VIH há mais de 30 anos. Imagina muitas vezes como seria a sua vida sem o vírus?
Não faço ideia como seria. Tornar a minha situação pública e assumir a militância do VIH foi uma decisão muito pensada.
O VIH, para si, não foi só um diagnóstico, condicionou toda a sua vida.
Completamente. Começou logo quando decidi contar a minha história na Rádio Nova, em 89, e fui despedido.
Perdeu o emprego por ser seropositivo?
Sim. Estava a trabalhar numa empresa de publicidade e os meus patrões ouviram o tal programa de rádio em que contei a minha situação. Um dos chefes fez o favor de vir ter comigo a dizer que não queria que continuasse lá, não fosse eu cortar-me numa folha de papel e contaminar os colegas.
Mas não se deixou ficar por aí.
Eu fui à luta, mas não tive grande sorte. Em tribunal, disseram-me que eu tinha aquilo que merecia. A ideia que ainda hoje prevalece é que só tem isto quem quer, não é porque aconteceu.
E o Amílcar sabe exatamente como lhe foi transmitido o vírus?
Sei em que altura foi, mas não sei o dia. Fiz os testes dia 26 de dezembro de 85, por minha iniciativa. Sabia o que tinha andado a fazer.
E o que tinha andado a fazer?
Tinha andado a fazer sexo desalmadamente, como era típico dos anos 80. Na altura ouvia-se falar do VIH como algo muito distante. O que tinha lido sobre o tema é que era uma coisa a acontecer na América. Em Portugal, só se conhecia o caso do António Variações, mas para ele havia a desculpa de que viajava muito para o estrangeiro. Aliás, a médica que me fez o teste disse logo: “Você tem tão bom ar, vai ver que não vai dar nada.”
Ainda se mantém essa ideia das falsas aparências?
Hoje em dia, já ninguém vai na história do bom ar, até porque as pessoas que têm realmente mau ar já não são as problemáticas. Essas, já ninguém quer ir com elas, e elas estão tão mal que também não querem ir com ninguém.
O Amílcar, por exemplo, tem bom ar.
O problema está exatamente nas pessoas com bom ar. Essas, ninguém desconfia que tenham VIH, às vezes nem elas próprias.
Lembra-se bem do momento do diagnóstico?
Fui chamado passados três meses ao Hospital de Santa Maria. Chamaram-me para uma sala, lembro-me das janelas, das grades nas janelas. A médica estava aflita para me contar, mas eu percebi logo que o resultado era positivo.
Estava preparado para o sim?
Nunca ninguém está. Mas, na altura, o desconhecimento era tal que só se sabia que o normal era morrer passados dois anos. A minha reação foi pegar no resultado e perguntar à médica: “Então agora o que se pode fazer?”
Na altura disseram-lhe quanto tempo de vida teria?
Nunca ninguém fez previsões, mas nunca pensei durar até hoje.
E como é que durou até hoje?
Nem eu sei. A partir de 1996, com as novas terapêuticas, foi mais fácil. Mas olhe que ainda somos muitos, talvez mais de mil em Portugal a viver com a doença há mais de 30 anos. O problema é que, ao contrários dos americanos, que se encontram, que partilham experiências, aqui, as pessoas não falam.
Porquê?
As pessoas têm dificuldade em olhar o outro e rever-se. Não percebem que a partilha pode ser uma coisa muito importante. Temos muita culpa, é uma coisa muito portuguesa. Isso nota-se até quando vamos a uma consulta. Todos temos o vírus, mas se na sala de espera me ouvem a falar com outra pessoa sobre medicação ou algo do género, sente-se um grande silêncio do resto das pessoas. É quase como um “por favor, não falem do assunto”.
Chegou a passar por essa fase de negação da doença?
Não, eu acabei empurrado pelas circunstâncias. Tudo o que aconteceu obrigou-
-me ir em frente. Acabei por dar a voz a muita gente e sempre levei a coisa sem pressões. Sabe o que fazíamos, eu e um amigo que entretanto já faleceu? Quando tínhamos de estar na fila para marcar consultas no hospital, dizíamos que tínhamos sida e as pessoas afastavam-se da fila e tínhamos logo lugar. Era uma parvoeira, mas a verdade é que funcionava bem.
O prazo de dois anos fez com que os vivesse intensamente?
Na verdade, agarrei-me aos estudos, retomei o curso de Belas Artes que tinha parado. Quando estava na fase final do curso, o hospital onde ia contratou-me para atender as pessoas que chegavam com o diagnóstico.
Passou a ser uma espécie de intermediário?
Eu era a pessoa que informava quem não sabia de nada. Chegavam-me pessoas com VIH que pensavam que se fizessem sexo com outra pessoa contaminada nem precisavam de usar preservativo.
Mas é preciso.
Claro, pode haver mutações do vírus.
Ainda fica espantado com a falta de conhecimento sobre a doença?
As pessoas conhecem a forma como as coisas acontecem mas, ao mesmo tempo, como é uma coisa que lhes é distante, desconhecem pormenores importantes. Por exemplo, há uma coisa chamada profilaxia pós-exposição a que as pessoas podem recorrer depois de terem relações desprotegidas com alguém com VIH. Na verdade, nem sei até que ponto é bom as pessoas saberem disto.
Ainda passa a ser algo como a pílula do dia seguinte.
Exato! Outro dos mitos é pensar-se que é fácil apanhar o vírus. Chegam cá a dizer que estiveram com uma prostituta, que se masturbaram e que estão com medo porque tinham cortado as unhas há dois dias.
Encontra muita gente disposta a ter uma relação com um seropositivo?
Há muita gente, sim. São pessoas bem informadas.
E no seu caso, foi um fator limitativo?
Em alguns casos, sim. Uma coisa é um relacionamento ocasional: usas preservativo e adeus. Quando a relação é séria, tem de se falar sobre o assunto e nem toda a gente está preparada.
Sentiu-se limitado por viver com VIH?
A mim não me limita nada, quando muito limita quem me vê.
Mas as reações são as mesmas de há 30 anos?
No meu caso, como expus logo a minha condição, as pessoas não tinham nada a dizer-me.
Mas usa o facto de ser seropositivo como cartão-de-visita ou é uma informação privada?
É algo privado mas, a partir do momento em que dei a cara, as pessoas que me rodeavam passaram a saber.
E teve reações menos simpáticas?
Na faculdade, havia professores com medo que estivesse nas aulas. Nunca falaram comigo, mas vim a saber mais tarde que tinham medo que contaminasse os colegas. Ainda por cima, eu não era o único, havia mais estudantes e até professores. Mas claro que ninguém falava sobre isso.
Comportamentos desses ainda acontecem?
Eu gostava de dizer que não, mas a verdade é que acontecem, principalmente no campo do trabalho. Há pessoas que me chegam aqui em pânico quando há consultas de medicina do trabalho, por temerem que se saiba que são seropositivos. Por lei, não podem ser despedidos, mas a verdade é que as empresas o fazem de forma camuflada.
De onde veio essa vontade de fazer mais com a doença?
Vi uma vez uma entrevista na televisão a uma mulher seropositiva, em África, que estava a morrer numa cama de hospital. A jornalista perguntava-lhe o que lhe doía mais e ela respondeu que o mais doloroso não era estar a morrer com sida, mas sim o facto de ninguém lhe dar a mão. A desumanização com que a questão estava a ser tratada é que me custou. Senti que tinha de fazer alguma coisa em relação a isso.
Teve sempre quem lhe desse a mão?
Sempre.
E deu a mão a muita gente, imagino.
Dei. Alguns já estão do lado de lá.
É fácil ficar do lado de cá com tantos a ir para o lado de lá?
Ver morrer quem nos é próximo é sempre difícil. É como em qualquer doença.
Já viu muita gente morrer?
Já, muita gente.
Daí perguntar se é difícil ficar cá.
Eu não tenho pena de ficar. Sinto que, se fico, é por uma razão. Fico para fazer com que os que partiram não levem mais gente com eles.
Faz isso através da Associação Positivo.
Sim. A associação nasceu para criar grupos de partilha e de autoajuda. Inicialmente, o nosso trabalho era ajudar quem passava da fase do “vamos ser todos lindos, belos e eternos” para, de repente, perceberem que têm um limite. Agora, já não é tanto assim, mas mantemo-nos como espaço de partilha. Além disso, trabalhamos com grupos de risco. Não queremos fazer milagres e tirar as mulheres da rua, por exemplo. Queremos, sim, dizer-lhes “ok, façam o vosso trabalho, mas façam-no com saúde”.
Viver com uma doença que à partida dita um prazo faz com que se viva mais intensamente?
Nunca pensei muito nisso, sempre pensei apenas em viver a minha vida criando objetivos. Fazer um mestrado, comprar um carro para pagar em cinco anos. Sempre fiz planos, tive foi de dilatar os prazos em que inicialmente pensava.
Passou a viver sem prazos?
Agora que estou mais velho, penso mais nos prazos. Percebi agora que conheço mais gente do lado de lá do que do lado de cá.