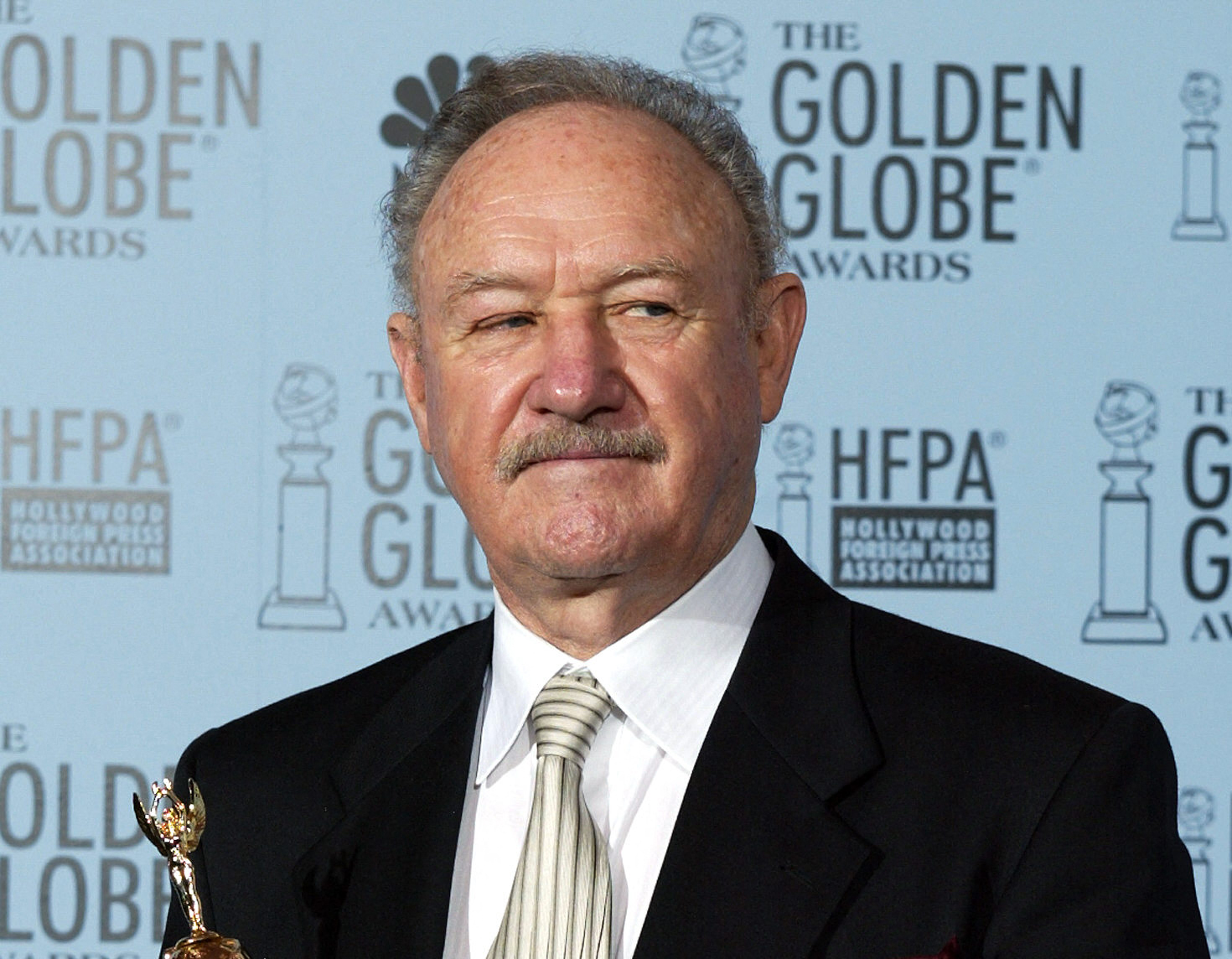Num país onde as mulheres eram queimadas nas piras funerárias depois da morte dos maridos, onde a posição da mulher na sociedade é subalterna e os crimes de violação não são condenados pela sociedade e a polícia nada faz, como, aliás, em muitos países do mundo, nasceram as Red Brigades (Brigadas Vermelhas). Há na Índia mais de 1000 milhões de pessoas – o que significa a luta de meia dúzia de jovens mulheres perante uma gigantesca opressão?
No notável documentário “Red Brigade”, realizado pelos portugueses João Pedro Fontes e Pedro Gancho, há uma cena que parece escrita no realismo mágico: as jovens brigadistas decidem fazer uma ação no Dia dos Namorados para sensibilizarem as jovens contra a violência dos homens e para a necessidade de se saberem defender. Fazem a terra porta-a-porta para convencer as jovens a participarem na ação. No dia 14 de fevereiro, um imenso campo de terra é preparado pelas ativistas. No meio do trabalho abate-se uma tempestade de chuva que escurece o céu e abrigam–se todas debaixo da lona que estavam a pendurar. Tão agreste é a situação que até o cão que estava abrigado com elas deserta para melhor refúgio, deixando as jovens a bater-se sozinhas contra a tempestade. Mas o tempo abre, o sol regressa e a água é retirada da terra em lama pelo trabalho laborioso das ativistas. Horas depois, centenas de mulheres juntam-se para escutar intervenções e praticar artes marciais sob o olhar atónito dos homens das redondezas. As Red Brigades juntam jovens que foram vítimas de assédio e de abusos sexuais que recusam o papel da vítima. Elas foram condenadas por uma sociedade, mas recusam esta pena. Se a sociedade as castiga, elas vão derrubar as regras e poderes que as oprimem.

Há neste gesto de desafio de meia dúzia de oprimidos algo de impossível que acontece em todos os momentos de revolta possíveis. É esta capacidade de fazer um gesto que rompe a malha da história das opressões de todos os dias. Algo que num imenso vazio em que a vida se escapa faz ganhar um sentido para a existência. Isto acontece em todos os sítios onde se nega a opressão. As palavras que se seguem são recuperadas de textos de várias lutas e latitudes, e têm como comum essa ideia de mostrar uma história escondida dos vencidos que não desistem de mudar o curso do rio da História.
Há a ideia de que o realismo mágico latino-americano é uma coisa adocicada, um artifício enganoso sobre a crua realidade das coisas. Nada de mais enganador. Na América Latina, como em todos os sítios onde se luta contra poderes negros que parecem invencíveis, só a magia e a paixão sustentam a vida. As histórias são o encantamento de que precisamos para esconjurar a morte.
Quando lemos a descrição de García Márquez sobre o massacre dos trabalhadores bananeiros ordenado pela United Fruit, sabemos que essas linhas fantásticas os resgatam do esquecimento e nos permitem escutar a respiração daqueles que caíram.
Não faltam anjos caídos por estas paragens. O escritor mexicano Paco Ignacio Taibo ii convocou assim, num caderno, as centenas de estudantes massacrados na Praça das Três Culturas, na Cidade do México, em 1968: “Como se cozinhou a magia? Com que se alimentava a fogueira? De onde saíram os 300 mil estudantes que chegaram a Zócalo no dia da manifestação do silêncio? […] qual foi o destino de Lurdes? Quem estava por detrás da porta de prepa 1 no dia do tiroteio? Como fabrica uma geração os seus mitos? Qual era o menu diário da cantina de Ciência Política? […] Porque caiu Romeu por causa de uma minissaia? Onde deixaram os nossos mortos? Onde deixaram os nossos mortos? Em que sítio de merda deixaram os nossos mortos?”
Dizia Orson Welles, num conhecido monólogo do filme “O Terceiro Homem”, que a Itália tinha tido guerras civis, massacres e inúmeros crimes. Em compensação tinha produzido Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci, Botticelli e outros nomes. A Suíça tinha tido cinco séculos de democracia e paz, e tinha conseguido o relógio de cuco. “O problema da América Latina é estar muito perto dos Estados Unidos e muito longe de Deus”, como dizia o ditador Porfirio Díaz. É este excesso de matéria-prima de morte e paixão que cria a arte.
Tinha uma idade indeterminada, a cara estava escurecida pelo sol. Encontrei-o às seis da manhã a cruzar San Vicente del Caguán. Perguntei aos guerrilheiros das FARC quem era o homem que marchava sozinho de megafone. “É a voz sonhada”, disse-me uma jovem guerrilheira. A voz percorria diariamente o povoado de alguns milhares de almas transmitindo as notícias do dia. Tínhamos feito quilómetros na selva com os combatentes das FARC. A pouca distância dali, as pessoas matavam–se numa guerra de pobres e de ricos começada há gerações: “a violência”, como lhe chamavam. Existências de mortos-vivos com uma arma na mão. Nestas estradas de lama, um homem teimava em transmitir um pensamento pela palavra, convencido de que ela poderia abafar todo o ruído da metralha.
Qual é o momento em que aquilo que parecia normal se torna intolerável? Que gesto transforma a submissão em recusa? Olho uma imagem. As fotografias são a prova provada da existência do gato de Schrödinger. Aqui, o tempo parou. As pessoas estão simultaneamente vivas e mortas. E mesmo os que estão mortos olham para dentro de nós. Nesta que tenho nas mãos veem-se centenas de prisioneiros iraquianos vigiados por militares iranianos. O registo data, creio, dos anos 80 do século passado, durante a guerra entre o Irão e o Iraque. A composição dos corpos não tem arte, mas há qualquer coisa que espanta. No meio de centenas de prisioneiros a fazerem as suas orações diárias, há três que estão de pé, em posição de desafio. Tornaram o momento irreversível. Preferiram levantar-se a seguir a obrigação de todos os outros. Sem um fim, sem uma possibilidade de vencer. Apenas um não.
Hoje, dia 6 de março, assinala-se o aniversário do Partido Comunista Português, criado numa reunião no Sindicato dos Escritórios, nessa data, em 1921. Os seus militantes atravessaram a noite da ditadura sem terem visto a luz da liberdade durante 48 anos. Quando me lembro que a revolta não garante uma vitória, mas apenas dignidade, recordo-me de uma conversa a que assisti com o líder histórico do PCP. Os discursos de Álvaro Cunhal não se rendiam aos dogmas da comunicação-espetáculo. Os seus detratores falavam de uma cassete por ele repetir exaustivamente palavras e caracterizações. Se achava que vivíamos no capitalismo, chamava-lhe “capitalismo”, não recorria a palavras que podiam ser mais simpáticas ou estar no escaparate da moda. Mas exercia, quando encarava alguém, o fascínio da inteligência. A capacidade de falar para dentro de nós. Assisti a uma intervenção dele na “sua” Faculdade de Direito de Lisboa. O anfiteatro estava sobrelotado de estudantes, maioritariamente hostis às suas ideias. Um deles perguntou-lhe como se sentia por ter dedicado toda a vida a uma ideia que tinha falhado. Álvaro Cunhal respondeu-lhe com uma história da mitologia grega: um homem a quem os deuses tinham castigado e destruído parte da sua vida atira uma seta aos céus, num grito de protesto. A seta sobe, sobe, e quando cai dos céus vem manchada de sangue. Apesar do imenso poder dos deuses e da fragilidade do protesto, esse homem tinha atingido os deuses culpados do seu sofrimento. Álvaro Cunhal concluía: mesmo na situação mais desesperada, vale sempre a pena lutar.