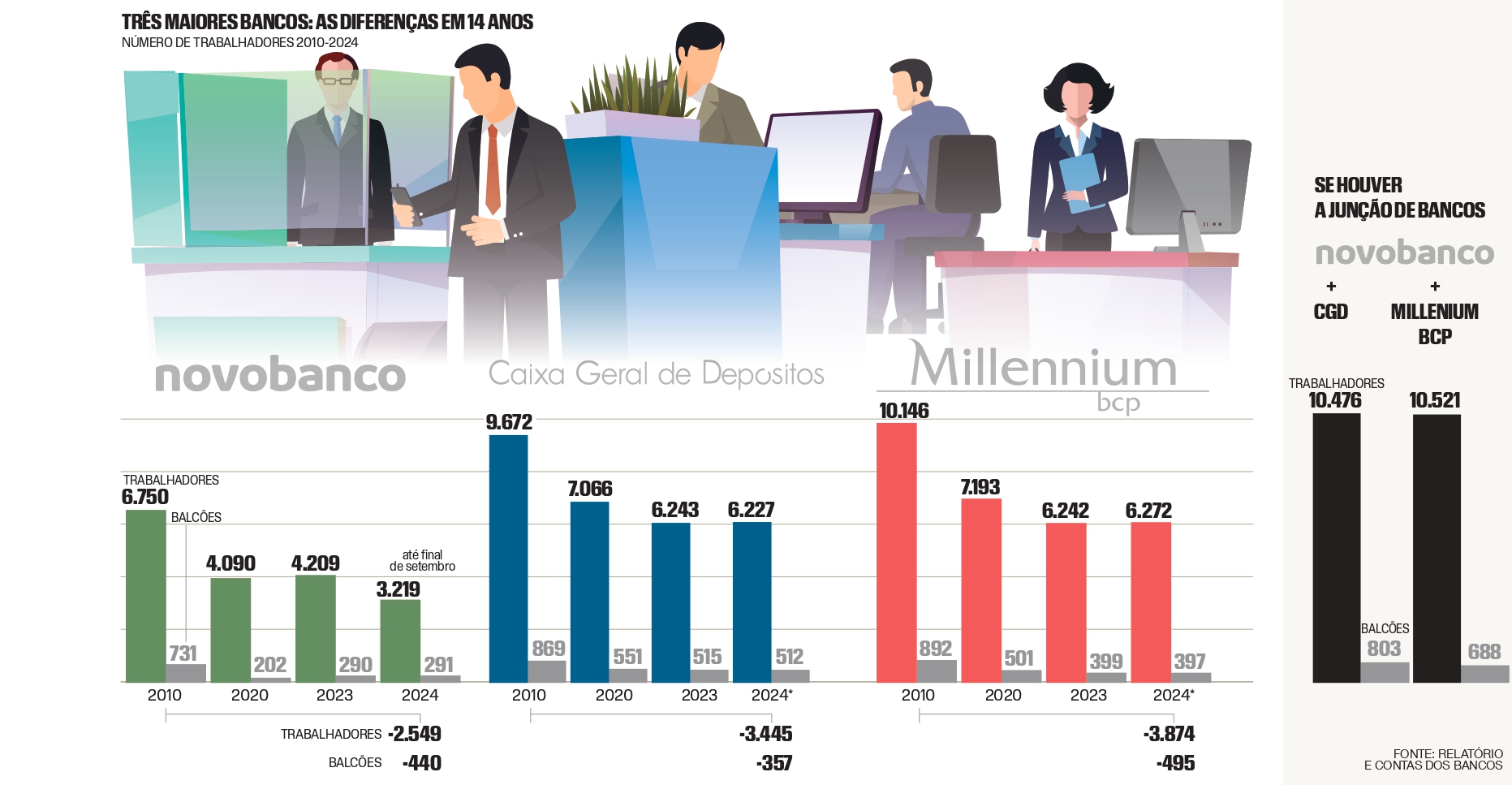A crise dita a moda. De tal forma que já não há indumentária datada, qual isso-já-não-se-usa, e se o que vale são fatos de treino coloridos do tempo em que a disco virou pop. Mais vale dizer que os oitentas não morreram. Bom, talvez não seja caso para tanto, que a ingenuidade é menina para matar sem piedade. Invoque-se, então, uma geografia, um lugar onde essa grande década pode até já ter dobrado a esquina mas cujas listas cinzentas, roxas ou verdes, inscritas nas calças ou mangas, nunca tiveram época. Neste sótão quatro amigos definham em busca da mais dolorosa forma de assassinar o tempo, elemento que detém em demasia não fosse o centro de emprego o seu fiel inimigo, não fosse este um gangue de desempregados tão trolhas quanto se possibilitam a ser. Slupianek (Bruno Nogueira) é o líder autoproclamado desta quadrilha arcaica; Buscher (Nuno Lopes) é o brutamontes para quem as palavras são tão entediantes quanto desnecessárias; Seiffert (Miguel Damião) é o chanfrado do grupo, ou seja, se alguém diz a palavra trabalhar e seus derivados isto corre mal; por fim Braukmann (Romeu Costa) o atado sensível dominado pela mulher (Flávia Gusmão), que é quem manda neste sítio.
Nunca a expressão macacos no sótão fez tanto sentido quanto antes. Aqui é vê-los à solta e contentes, tanto que, às tantas, Slupianek sugere, embebido pelo livro que está a ler, uma expedição ao Pólo Sul, tal como o norueguês Amundsen e os seus quatro companheiros fizeram em 1911. Se, à partida, um jogo entre testosterona pode ganhar, rapidamente, bastante seriedade, imagine-se isto vezes desemprego. O Pólo Sul virou o norte desta gente perdida. “A Conquista do Pólo Sul”, de Manfred Karge, estreia hoje no São Luiz Teatro Municipal pela mão da Arena Ensemble e encenação de Beatriz Batarda. Fica pela Sala Principal até 24 de abril. Temos até lá para nos encontrarmos.
Este é um espetáculo que segue um trilho não muito distante do enredo. Beatriz Batarda leu o texto pela primeira vez em 2001 e “desde que o Arena começou em 2007 que foi uma das primeiras peças que ficou na pilha para se fazer”, adianta. Há dois anos que o Arena Ensemble se tenta aproximar do seu Pólo Sul, e mesmo em expedições mantas que esticam de um lado destapam do outro. Isso até chegar o São Luiz, claro: “Não vou fazer o discurso ingénuo. Somos uma estrutura não apoiada, nestes últimos dois anos o sistema esteve caótico, não abriram concursos pontuais, portanto a única alternativa era os teatros estarem dispostos a coproduzir isto e tirarem do seu orçamento o valor que o possibilitasse. É um espetáculo caro por ter muita gente em palco, o que veem aqui não está pago”, avisa.
Ainda assim, Amundsen ou Slupianek não desiste. O cenário é uma espécie de mahjong em madeira velha, amontoada ao detalhe para recriar várias possibilidades espácio-temporais, herança brechtiana assumida por Batarda, entre valsas de luz e ambientes que adensam um espetáculo que começa por ser uma comédia decadente e termina em ode à solidão. E só esta dualidade já daria para cair no facilitismo da emoção imediata, do estamos-mal-e-daqui-não-saímos, algo que a encenadora evitou: “Procurei fugir ao sentimentalismo ao máximo e à autocomplacência, não dei espaço aos atores para isso. Há dois momentos em que o permito: no monólogo final, até porque é uma carta de despedida, e numa outra frase da Braukmann. O resto é em revolta, não há nunca fragilidade, não se podem dar ao luxo, quando dão morrem”. E se é tão certo que estes trolhas, de cerveja de litro em riste, tomam a viagem por real, não menos o é que duvidem de si, como em qualquer ida à descoberta. Buscher propõe que sejam antes Shackleton, explorador que numa das expedições decide voltar para trás por uma questão de segurança, quando já miravam o Pólo. Quase como que a avisar que não é apenas a vitória que importa.
Devaneios de um conjunto de tristes, pode pensar-se à primeira. Só que essa é a idealização precipitada de quem passa o dia no Saldanha: “Quando estás a fazer teatro não estás só a falar de ti, tens que conhecer um bocadinho da verdade para teres a pretensão de dares qualquer coisa sobre a humanidade. Se estás fechado no teu circuito Bairro Alto-Chiado com que legitimidade podes tu estar a olhar, com compaixão, para temas desta natureza? É falso, é um olhar burguês, esse foi um dos exercícios que pedi aos atores para fazer”. Façamo-lo também.