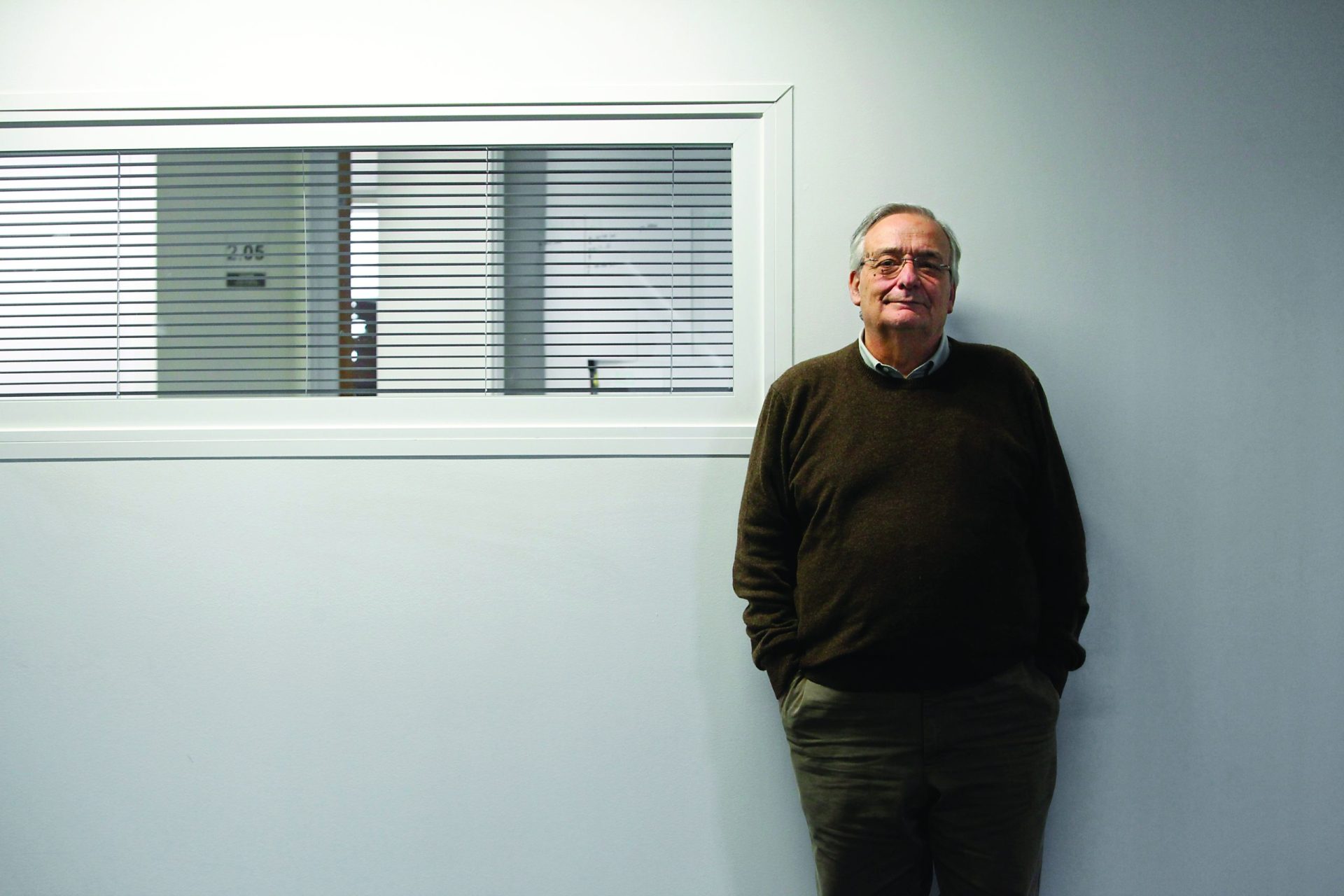O desafio desta entrevista era mesmo este, olhar para a realidade com as lentes do historiador, mas também do ativista político. Tentar perceber, para além da espuma dos dias, os grandes abalos e ruturas que se avizinham.
Se pudéssemos definir em que fase histórica estamos, qual seria?
Acho que os anos 80 e 90 marcam uma época histórica nova na história do capitalismo: a conversão de um capitalismo do pós-guerra, obrigado a fazer cedências e a fazer políticas de Estado social, sob a ameaça do comunismo e a pressão dos movimentos sociais e sindicais nacionais, num capitalismo neoliberal. Com a queda do Muro e a implosão da União Soviética passamos para uma época nova do capitalismo neoliberal, um modelo de recuperação das taxas de lucro baseado num conjunto de medidas – a privatização da economia, a desregulamentação do trabalho –, recuperação violenta das taxas de lucro através da sobre–exploração do trabalho, com características de uma regressão civilizacional. Esta época, que quer o governo thatcheriano e o do Reagan prenunciaram, é confirmada na segunda grande depressão de 2008 e 2009. O mundo mergulhou numa época em que às políticas austeritárias, que se tornaram dominantes, se juntou uma cultura neoliberal que se tornou hegemónica, numa situação de depressão económica e social que marcam os nossos dias.
Mas a crise de 2008 e 2009 é um acontecimento, normal e recorrente no capitalismo, deste ciclo aberto nos anos 80, ou prenuncia uma alteração de qualquer coisa?
A crise de 2008 e 2009 é uma crise cíclica do capitalismo, mas particularmente violenta, dado que radicaliza a tendência decrescente da taxa de lucro que vinha a verificar-se desde os anos 70. A partir dessa época havia sintomas de crise, mas 2008 é uma espécie de concentrado explosivo. Mais uma vez começa no sistema financeiro dos Estados Unidos, mas rapidamente se propaga um pouco por todo o lado. O que tem de particular esta crise é que a proposta dominante para a “resolver” foi um pretexto para impor políticas mais austeritárias. Há um debate muito interessante que é quando se diz que os governos de direita também queriam conseguir a recuperação económica, também queriam voltar a baixar os impostos; o que se está a esquecer – o que, aliás, é revelado pelo facto de o anterior governo ter comunicado as reduções salariais como medidas estruturais e permanentes, e não como transitórias, como tinha dito aos eleitores – é que nada disto é técnico. É tudo fruto de uma escolha política e de um modelo de economia e sociedade, um modelo que se baseia num certo número de pilares fundamentais como a desregulação do trabalho, as privatizações forçadas, a baixa dos rendimentos do trabalho e um aumento da exploração da mais- -valia absoluta e relativa. Tudo isso configura uma espécie de vingança, atrasada, do capital em relação às conquistas sociais que foi obrigado a ceder no pós–guerra. É uma espécie de regressão civilizacional que se está a querer impor nos países de capitalismo desenvolvido, mas não só. Porque, nos outros, o que se está a passar é uma razia catastrófica. Estou a falar de China, África, no chamado Terceiro Mundo. O que se está a passar aí são coisas desastrosas ao nível da corrupção e da destruição total do meio ambiente.
Há quem defenda que esta situação de crise existe mais na Europa que no resto do mundo. Nomeadamente nos países emergentes existe uma convergência desses países em relação aos mais desenvolvidos.
Os espaços emergentes estão a debater–se com crises espetaculares: a queda da economia chinesa, da brasileira… Nos chamados BRICS, à exceção da Índia, que parece estar a safar-se bem, estão com situações complicadíssimas do ponto de vista da crise sistémica interna.
Mas essa crise do capitalismo a nível mundial parece não ter motivado a criação de respostas, há também uma aparente crise das alternativas.
A América Latina, que tinha guinado à esquerda em reação às políticas do chamado Consenso de Washington, promovidas pelo FMI, parece agora voltar à direita.
Sem dúvida, há uma crise nesses países que tentaram produzir respostas com processos de crescimento autocentrados e tentativa de envolvimento das populações nas decisões. A queda do petróleo está a causar, em muitos desses países, situações terríveis. Estou a falar do Brasil e da Venezuela, nomeadamente, mas de outros que vêm por arrasto. Há uma crise desses regimes, sobretudo na América Latina, que vinham como resposta ao imperialismo norte-americano, e há uma crise também na Europa. A implosão da União Soviética e do campo socialista teve efeitos muito mais profundos do que nós na época, a minha geração, supúnhamos. Nós entendemos que aquele modelo de socialismo era desadequado, e criticamos e criticávamos, e pensamos que seria relativamente natural que se pudesse construir um novo modelo de socialismo mais próximo da democracia e da igualdade social. O problema é que a hegemonia das ideias neoliberais e austeritárias contribuiu para criar um ambiente político que deitasse fora não só a água do banho como o bebé. Isso levou a uma crise profundíssima do marxismo como ideologia e como alternativa – crise esta de que lentamente estamos a recuperar, até porque as respostas à crise exigem que se vá buscar ao marxismo instrumentos de análise e de leitura da realidade que são indispensáveis. Esse processo é um processo do qual estamos a sair lentamente. As esquerdas europeias estão a tentar, passo a passo, reencontrar-se a si próprias.
Mas em muitas partes do mundo não há sequer esquerda. Verifica-se que no mundo árabe e islâmico deixou de haver esquerda.
Absolutamente, eu estou a falar de uma realidade europeia. Na China, as informações que tenho é do crescimento do protesto e das movimentações sociais. Há uma forte resistência social a essa estranha realidade de um capitalismo galopante sob a liderança de um partido comunista, mas não tenho notícia de que haja uma reação organizada. Mas isso é muito importante, porque no dia em que os trabalhadores chineses recuperarem os seus direitos, toda a situação nos BRICS e arredores vai mudar do ponto de vista da situação social. Desse ponto de vista, em África, a situação é muito pior: não há praticamente esquerda em África. Se calhar estou a generalizar, mas conheço bem Angola e Moçambique…
Mas apesar de situações de evidente corrupção, não se pode dizer que a esquerda está integrada em alguns desses partidos do poder, como na África do Sul, Moçambique e Angola?
O ANC tornou-se um movimento altamente corrupto, como sabe. Não vejo que saia dali alguma solução que garanta, ao menos parcialmente, a resolução de alguns dos problemas por que lutaram gerações de sul-africanos: o direito à habitação, à reforma agrária, a uma justiça socialmente igualitária…
O que estou a dizer é que se pode dizer que existe, por exemplo, corrupção no PT; também é verdade que existem no seu seio elementos populares como o MST (Movimento dos Sem Terra) e outros.
Sim, mas não são eles que dirigem. Reconheço que dizer que não há esquerda é uma expressão exagerada, mas aquilo que quero fazer notar é que a esquerda tem uma imensa dificuldade em se afirmar nesses países. Até porque vai a Angola e Moçambique e há uma mistura de nacionalismo racista contra a contestação aos regimes, que querem marcar à partida qualquer contestação como algo que tem a mão do antigo colonizador.
É interessante que nos tempos do início da descolonização em Angola e da guerra civil, a UNITA e a FNLA usavam muitas vezes esse discurso e acusavam o MPLA de ser mestiço.
É verdade, mas o discurso atual dominante no MPLA é acusar a oposição de ser dominada pelos brancos e mestiços, e não é fácil ser oposição de esquerda em Angola.
É curioso que as figuras mais simbólicas dessa oposição em Angola sejam filhos e sobrinho de elementos destacados da polícia política…
É facto; no entanto, fez greve de fome para contestar esta falta de democracia. Mas esse aspeto revela que as elites são muito pequenas. O colonialismo não deixou elites africanas, e o tempo que passou a seguir, no que respeita à formação de elites políticas em África, seja do regime ou da oposição, não foi suficiente para fazer uma elite muito alargada e é natural que esses fenómenos de endogamia surjam. Angola tem algumas grandes famílias que surgem em todo o lado, seja no MPLA, seja na UNITA e na FNLA, e até nos novos pequenos partidos de esquerda e movimentos sociais, que têm muitas dificuldades em se afirmar. Aliás, como em Moçambique, construir uma política e alternativa de esquerda nesses países é uma coisa que não é fácil. Até pelo peso histórico que têm os partidos que tradicionalmente representavam a esquerda nesses países, a FRELIMO e o MPLA. Ora, nós estamos a verificar fenómenos de muito rápida degradação desses partidos como partidos de poder, e esses fenómenos agravaram-se muito nos últimos tempos, sobretudo em Moçambique, onde parece estarmos, oxalá não aconteça, à beira da guerra civil. Ora construir alternativas para esses regimes não é fácil.
Uma das coisas que garantiram os chamados 30 anos de ouro, depois do pós-guerra, não foi só o Estado social, mas aquilo que a ele estava associado: a paz e o consenso social interno e a paz entre países da Europa. Esta crise de 2008 e este tipo de políticas, tanto no plano interno como externo, não tornam a guerra novamente mais possível?
Estou de acordo com essa ideia. A política neoliberal, designadamente em matéria de refugiados, tem uma componente em relação ao outro e aos refugiados que buscam acolhimento na Europa, tem uma política fortissimamente racista, e no plano interno, dividindo os países como Estados com uma economia de primeira e de segunda, vai ter fortíssimas consequências: por um lado, tornar o espaço Schengen totalmente irrealizável. O espaço Schengen é por onde vai começar a romper a Europa. Os países a fecharem as suas fronteiras para não acolherem refugiados vão acabando com as políticas de mobilidade. O espaço Schengen, hoje, na Europa central e de leste, é uma ficção. Os instrumentos da construção europeia e da paz vão começar a romper por aí. Queria, aliás, falar dos refugiados, porque o que se está a passar na Holanda e na Alemanha a nível da opinião pública são coisas tremendas: pintar as portas das casas dos refugiados com uma cor específica para poder identificá-las, fomentar a venda de gás de mostarda, para defesa dos cidadãos contra os ataques dos refugiados, políticas de identificação externa, como com os judeus no tempo do nazismo, para singularizar quem são os refugiados.
E a Holanda, onde o chefe da extrema-
-direita holandesa tem 40% de intenções de voto com estas políticas, não se pense que é um caso isolado: na Alemanha, a popularidade destas políticas não para de crescer, ao ponto de pôr a sra. Merkel numa situação complicada dentro do seu espaço político; e o êxito da Frente Nacional em França…
Mas o êxito recente da Frente Nacional não se explica mais pela adoção de políticas sociais e antiglobalização neoliberal de recorte de esquerda?
A FN já era racista no início e agora é que tem crescido exponencialmente…
As duas coisas. Está mais social, mas a França para os franceses. Há um cruzamento destas duas perspetivas: um discurso contra a Europa da austeridade, mas um discurso completamente xenófobo.
Mas não há uma certa necessidade de recuperar a soberania? Pode-se dizer “Portugal para as pessoas que cá vivem – sejam elas brancas, negras, amarelas ou azuis” sem se ser xenófobo. Perante a perda de poderes democráticos para poderes não nacionais e não eleitos, não é normal querer recuperar a soberania democrática?
Claro que sim, é por isso que a política nacionalista e xenófoba é demagógica e perigosa, porque defender a soberania, sobretudo dos países periféricos, que estão a ser espezinhados pela arrogância austeritária dos países do centro da Europa, é uma necessidade, mas isso não significa fechar a porta aos refugiados que solicitam auxílio. As duas coisas não são incompatíveis: nós podemos receber os refugiados e partilhar com eles a ajuda e a solidariedade, e lutar pela soberania.
Mas a esquerda, regra geral, não tem uma certa incapacidade em perceber uma outra parte do problema? Aquilo que aconteceu em Colónia e noutras cidades alemãs envolveu um número significativo de pessoas que tinham pedido asilo. E certamente será um problema quando as pessoas são oriundas de países onde o papel da mulher é residual e a sua presença no espaço público sujeita a agressões.
Isto faz-me lembrar a questão de haver pessoas que recebem o rendimento social mínimo e enganam o fisco e o Estado. No meio dos refugiados também pode haver infiltrados de não sei onde, bandidos e terroristas, fora-da-lei de direito comum. Claro, tem de haver fiscalização e vigilância sobre esses indivíduos.
Mas se nas dezenas de detidos de Colónia metade são alegadamente refugiados, isso não indicia um problema?
Quanto ao respeito pelas mulheres, as leis europeias têm de se aplicar. Isso é uma questão absolutamente natural.
A legislação europeia sobre os direitos fundamentais tem de ser aplicada. Sobre isto, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, quando em virtude da guerra e da destruição, muitas vezes promovida e realizada pela própria Europa, centenas de milhares de pessoas fogem da morte e da destruição, essas pessoas têm de ser acolhidas. A Europa fecha-lhes a porta? Discrimina-os? Obriga-os a usar uma estrela amarela ao peito? Que há problemas? Tem de haver, são um milhão de pessoas. Se há choques culturais? O que é preciso é tentar democraticamente geri-lo, integrando essas pessoas, e sobretudo contribuir para a paz e resolver os problemas nos países de origem.
Mas como é que isso se resolve? Não ter bombardeado a Líbia, provavelmente, teria sido boa ideia, não acha?
Com certeza. Nem o Khadafi nem o Bashar al-Assad são flores que se cheirem, mas o que fizeram na Líbia foi inacreditável, e a França e a Itália, que estão metidas até aos gorgomilos nesses bombardeamentos, são inteiramente responsáveis por aquilo que se passou. Agora, como é que se restitui a paz? Na Líbia há quatro milhões de pessoas à espera de oportunidade para passar para o lado de cá – como é que se faz? Deitam-se ao fundo os barcos? Bombardeiam-se as pessoas?
Quando os refugiados aparecem, a solução é acolhê-los, mas nada é resolvido se não forem pacificados os países de origem. Como é que se faz?
E não é só aí: é, por exemplo, no Egito, onde a Primavera Árabe se transformou em ditadura, como é na Síria. É preciso aí derrotar o Estado Islâmico e conseguir um processo de paz.
As potências ocidentais querem forçar o poder e os alauitas a abdicarem do poder. É possível alguma paz com esse objetivo à partida?
Acho que são os sírios que têm de se entender entre si. Naturalmente, é preciso derrotar este fascismo islâmico que é o Estado Islâmico. É uma forma de fascismo sinistra. É imperativo derrotá-la. Mas é preciso deixar aos sírios a determinação do seu próprio futuro. Há coisas extraordinárias. O Estado Islâmico não está no poder? Está! Na Arábia Saudita não é senão o Estado Islâmico que está no poder. Que democrático que é o Ocidente, blá, blá, blá, e apoia o regime que tem como sentenças 200 chicotadas a um crítico, a um tipo que escreveu umas coisas e que é suspeito de ser ateu – porque é que não há direito a ser ateu? – e a quem foi comutada a pena de morte em 200 chicotadas. E teve de escrever uma autocrítica pública em que abjura tudo o que escreveu. Como é que isso é possível? O Médio Oriente tem de passar por grandes e muito duras transformações. Mas o problema da Síria é aquele que pode ser resolvido mais depressa, desde que deixem os sírios resolver entre si. Nenhuma potência tem o direito de dizer “este fica e aquele sai”. Alguém vai dizer a um chefe de governo europeu “o senhor sai”? A destruição da Líbia foi promovida pelos europeus e agora estão a queixar-se de receber refugiados? Veja o que se está a passar na Grécia. O país recebe dezenas de milhares de refugiados por dia. Dada a sua situação geográfica, é uma das portas de entrada dos refugiados na Europa. Devido à política da troika, a Grécia está mergulhada numa profunda crise económica e social, absolutamente esmagadora e imposta pelo exterior. E a UE não quer prestar nenhuma ajuda à Grécia para lidar com a situação dos refugiados. Esta política vai acabar com o espaço Schengen e a liberdade de circulação, e estas políticas dominantes vão acabar com a União Europeia, sobre isto não tenho dúvidas nenhumas. É possível alterar a correlação de forças na Europa? Talvez sim, talvez não. Mas há uma coisa que me mete muita impressão: mesmo com este governo do PS, não estou a ver ninguém nem coligações de governos interessados em tentar ganhar a Europa para outro tipo de regras, mesmo que fossem moderadamente aceitáveis. A Itália tem problemas, a Grécia tem problemas, a França tem problemas, a Espanha tem problemas, Portugal tem problemas, eu continuo a perguntar porque é que os governos que tentam resolver os problemas, independentemente das suas orientações específicas, não se entendem para fazer uma frente comum de países do Sul, no sentido de alterar algumas regras que foram criadas exclusivamente para perpetuar a dependência dos países periféricos. Acho que o futuro da Europa não é risonho.
Não estamos mais perto de uma guerra mundial? A Turquia está perto de invadir território sírio para impedir a formação de uma entidade curda independente, a Rússia não parece achar graça a uma situação dessas, e pode não ser a União Soviética mas não deixa de ser uma potência nuclear. Parte da bravata turca baseia-se no facto de ser membro da NATO. Não estamos a brincar com o fogo?
A isso ainda temos de acrescentar o conflito potencial entre Irão e Arábia Saudita, que joga um papel em todas as guerras da região, como a Síria e o Iémen. Tudo aquilo é um enorme barril de pólvora. Vamos ver o que isto dá. É hoje claro que a Turquia vai opor-se militarmente à constituição de um Estado curdo que, como se sabe, não abrange só a Turquia. Os curdos são a maior nação sem Estado e estão disseminados por vários países da região, nomeadamente o Iraque, a Síria e o Irão. Aqueles em que os curdos já ocuparam o terreno, Síria e Iraque, já há um Estado curdo de facto que tenderá a unificar-se, uma geografia curda no terreno com autoridades próprias, que é uma coisa que a Turquia não quer acreditar que seja possível. Aliás, a ameaça de intervenção militar turca na Síria e no Iraque e o seu apoio ao Estado Islâmico contra os curdos resultam dessa intenção de impedir qualquer veleidade de independência por parte dos curdos. Toda a história da Turquia nos informa que eles respondem a essa ameaça só de uma maneira: com repressão militar. Como é que a UE pode financiar a Turquia para ela conter os refugiados se ela, ao mesmo tempo, com a sua intervenção no terreno, está a fomentar as condições para essas pessoas não poderem viver na sua terra? Esta região é das mais perigosas.
É curioso como, apesar dessas guerras regionais, e sendo o petróleo produzido em grande parte nessa região, ele está a descer abruptamente de preço em vez de subir, como seria natural para uma matéria-prima escassa…
Isso só se explica por uma política deliberada para derrubar alguns dos países produtores de petróleo, como Angola, Rússia, Venezuela e Brasil, só para citar esses. A queda do preço de petróleo tem efeitos catastróficos. Não acredito que não haja intenção política por detrás desse facto; e como a Arábia Saudita é o principal produtor, e como os Estados Unidos puseram em prática esta modalidade de extração do crude a partir do xisto, há petróleo mais barato. É possível continuar a baixar o preço do petróleo, o que é bom para as economias europeias e é desastroso para as economias emergentes, particularmente para regimes políticos que ensaiavam processos de desenvolvimento sustentado sobretudo baseados nas receitas do petróleo, e que ainda não tinham tido tempo de se solidificar é desastroso. Acho que o regime venezuelano está à beira de um colapso, e atrás deles poderão ir o Equador e a Bolívia.
Recentemente, chefias militares do Pentágono declararam que a Rússia era um perigo; a doutrina militar de Moscovo passou a qualificar os Estados Unidos como um inimigo. Estamos novamente na Guerra Fria?
Não penso isso. Primeiro, porque a distância que vai entre a capacidade militar dos EUA e do segundo país é uma distância imensa. Não há um equilíbrio do terror. A Rússia não tem a capacidade económica e financeira para ser uma superpotência militar que concorra com os norte-americanos. Não acho que haja um risco de confronto militar entre as duas potências. Isso pressupunha um mundo bipolar que acho que não existe. O planeta é hoje multipolar, mas sob grande hegemonia dos EUA, que tem um potencial militar sem comparação. Economicamente, a sua situação é mais complicada, porque a China está-lhe nos calcanhares, embora, com esta crise económica e financeira, a ver vamos. Mas há os países emergentes a tentar ocupar o seu espaço. Há um reequilíbrio de forças a desenhar-se, mas a Rússia está muito longe de ser um inimigo da paz. Nem sequer por causa da Ucrânia, situação que me faz uma grande comichão, porque quem apoiou os grupos neonazis da Ucrânia para derrubarem um presidente democraticamente eleito foram os alemães e os franceses e os países mais importantes da UE. Derrubaram um governo eleito colocando, por uma subversão orientada, um regime apoiado por aquelas milícias, e depois surpreendem-se que do outro lado haja uma resposta. É uma hipocrisia completa. Aparentemente, não se tem ouvido falar muito da Ucrânia, dá ideia que se estabeleceu uma linha divisória entre a parte leste do país e o governo de Varsóvia, e a Crimeia voltou pacificamente para a Rússia. Aliás, nunca tinha sido historicamente ucraniana. Consta que foi numa noite bem regada a vodca que Krutchov, que era ucraniano, a passou para a Ucrânia.
Neste quadro da globalização e deste tipo de integração europeia e zona euro, Portugal tem futuro?
Eu acho que a União Europeia tem um futuro muito complexo. E a viabilidade de um governo em Portugal que tente lutar por um modelo de desenvolvimento alternativo, com o combate às desigualdades e restauração do Estado social – um pouco no sentido que este governo está a fazer, mas de uma forma mais acentuada e mais profunda –, depende inteiramente da correlação de forças que vai estabelecer-se a curto prazo na Europa. Este Orçamento era para ser simples, mas aquilo que se verificou é que, apesar da modéstia dos seus objetivos, quer na Europa, quer na direita em Portugal, houve um coro imenso de ataque a um documento modesto e até pouco ambicioso na correção das desigualdades. É uma coisa extraordinária que os burocratas não eleitos da Comissão Europeia venham dizer o que os povos têm de fazer. É tanto mais irónico quanto o parlamentarismo nasceu, na Europa, da necessidade de os parlamentos darem autorização ao rei para fazer despesas e aprovar receitas. O parlamento britânico nasceu assim: o rei teve de ceder aos representantes das cortes o direito de eles aprovarem as receitas e as despesas. Acho extraordinário que se atropelem os parlamentos: antes de os parlamentos, órgãos soberanos da democracia, se pronunciarem sobre o Orçamento, ele tem de ser aprovado por uma comissão de burocratas de Bruxelas que não têm nada de eleitos. Isso prova a profunda crise das instituições, que foram desaparecendo. A democracia parlamentar foi criada no quadro dos Estados nacionais no século xix, não há nenhuma experiência de democracia de caráter supranacional, não há. E os órgãos supranacionais são instituições que funcionam, em grande parte, sem legitimidade democrática. É certo que podem funcionar de outra maneira, pode-se caminhar nesse sentido. Mas não é nessa direção que se tem caminhado. Nós, hoje, o que temos é que a soberania democrática e parlamentar na Europa pode ser derrubada, em aspetos essenciais ao seu funcionamento, por estruturas de burocratas que ninguém elegeu.
Isso é uma autocrítica em relação ao Bloco de Esquerda? É porque uma das distinções fundamentais do BE e do PCP era a aposta do primeiro num europeísmo de esquerda.
(Risos) Não ponha na minha boca o que eu não defendi em matéria de autocrítica. O BE defendeu um europeísmo de esquerda. A coisa que eu posso reconhecer é que esse europeísmo de esquerda é cada vez mais difícil.
Não é impossível?
Como se pode dizer que é impossível? Depende da correlação de forças.
É uma questão de correlação de forças ou é uma questão estrutural? Pode considerar-se que a divisão de línguas, de meios de comunicação social, de opiniões públicas e até a vastidão e diversidade da Europa dificultam uma democracia à escala da UE.
Sim, mas em teoria era possível haver um europeísmo de esquerda se as coisas funcionassem de maneira diferente e as instituições tivessem uma outra natureza. O que se está a verificar é que as coisas não funcionam assim.
Se calhar, a integração europeia não foi feita para ser um europeísmo de esquerda mas um negócio?
Mas havia a ideia de que era possível as forças políticas e sociais de esquerda forçarem um arranjo político e institucional favorável aos povos. Mas a experiência tem desmentido cruelmente essa possibilidade. Acho que a existência de Portugal na União Europeia é uma existência problemática. É o que posso dizer neste momento. É tão problemática como a existência do euro. Isso leva-nos, quando muito, a uma Europa a duas velocidades: a dos países do centro e os da periferia, um conjunto de países ricos e uma Europa dos pobres que não têm condições de sair da pobreza, porque as políticas que são desenhadas são para a manutenção desta dependência e da periferia. E, portanto, não há maneira nenhuma de sair disso. A não ser por uma alteração de correlação de forças na UE, o que não parece estar à vista. Eu acho que, não havendo uma alteração desta estratégia, a Europa pode encaminhar–se para uma dissolução. E o primeiro aspeto dessa dissolução é euro.
Em 40 anos de democracia não tinha havido um governo do PS apoiado pela sua esquerda. Isso é uma alteração estrutural?
É um facto que desde a revolução… é curioso que é um pouco como na República de Weimar na Alemanha: a repressão que os sociais-democratas impuseram aos comunistas e aos spartaquistas foi suficiente para que, mesmo à beira de os nazis tomarem o poder, os comunistas e os socialistas continuassem como principais inimigos. Em Portugal, felizmente, não se foi tão longe, mas o processo revolucionário de 1974-75 cavou uma profundíssima divisão entre o PS, o PCP e a extrema-esquerda que fez com que só em 2015 fosse possível, passados 40 anos, celebrar um primeiro acordo parlamentar entres esses partidos, numa situação particular em que as eleições deram a maioria aos partidos de esquerda e antiausteritários depois de uma política austeritária muito dura e muito sofrida. O sentimento que eu tenho é que nas direções destes três partidos, e numa esquerda que surgiu no PS enquanto tendência, se teve a consciência de que essa maioria eleitoral e social tinha de ter uma expressão política. As pessoas não perdoariam que isso não fosse tentado.
Mas não há um governo desses três partidos, há um governo do PS com um apoio parlamentar acordado.
Foi o que foi possível.
Antes das eleições defendeu que, para se constituir uma alternativa, era preciso uma unidade eleitoral entre Bloco, PCP e setores independentes. Esta nova situação política fá-lo mudar de posição em relação ao PS?
A única coisa que eu alteraria nessa proposta é que ela devia ser alargada à ala esquerda do PS. Mas acho que é nesse campo que está a base social de uma alternativa à política de austeridade. Neste momento, a expressão que ela pode ter foi este acordo parlamentar limitado. Quero crer que, no futuro, seja possível alargá-lo de uma forma económica, política e até institucionalmente. Na altura, não estava à vista que o PS estivesse aberto a entendimentos à esquerda. No PS há um setor que está e outro que não está, mas o que está é que neste momento é direção, e isso possibilitou um entendimento à esquerda, e acho que esse acordo é positivo. É preciso a esquerda preparar-se para um duríssimo combate com a UE. Os pequenos conflitos que houve com este Orçamento vão agravar-se e aprofundar-se ao longo do tempo, não vai ser fácil governar à esquerda.
Como vê o governo do Syriza?
O Syriza foi uma grande desilusão. Acho que o erro que cometeu foi que nunca aceitou, desde o início, a possibilidade de terem de sair do euro. Entrou nas negociações e confrontos com a Europa convencido de que a convencia. Sendo público que não encarava a saída do euro, foi muito fácil encostá-lo à parede. Foi cortar-lhe tudo e obrigá-lo a lamber o chão. E a fazer esta figura desgraçada de estar a aplicar uma política contra a qual se bateu. Neste sentido, o Syriza foi uma derrota séria da esquerda europeia.
Não acha que é uma espécie de acordo Brest-Litovski para ganhar tempo?
Nesse acordo, os bolcheviques perderam território, mas fizeram-no para salvar a revolução soviética. Neste caso, os gregos não salvaram nada.