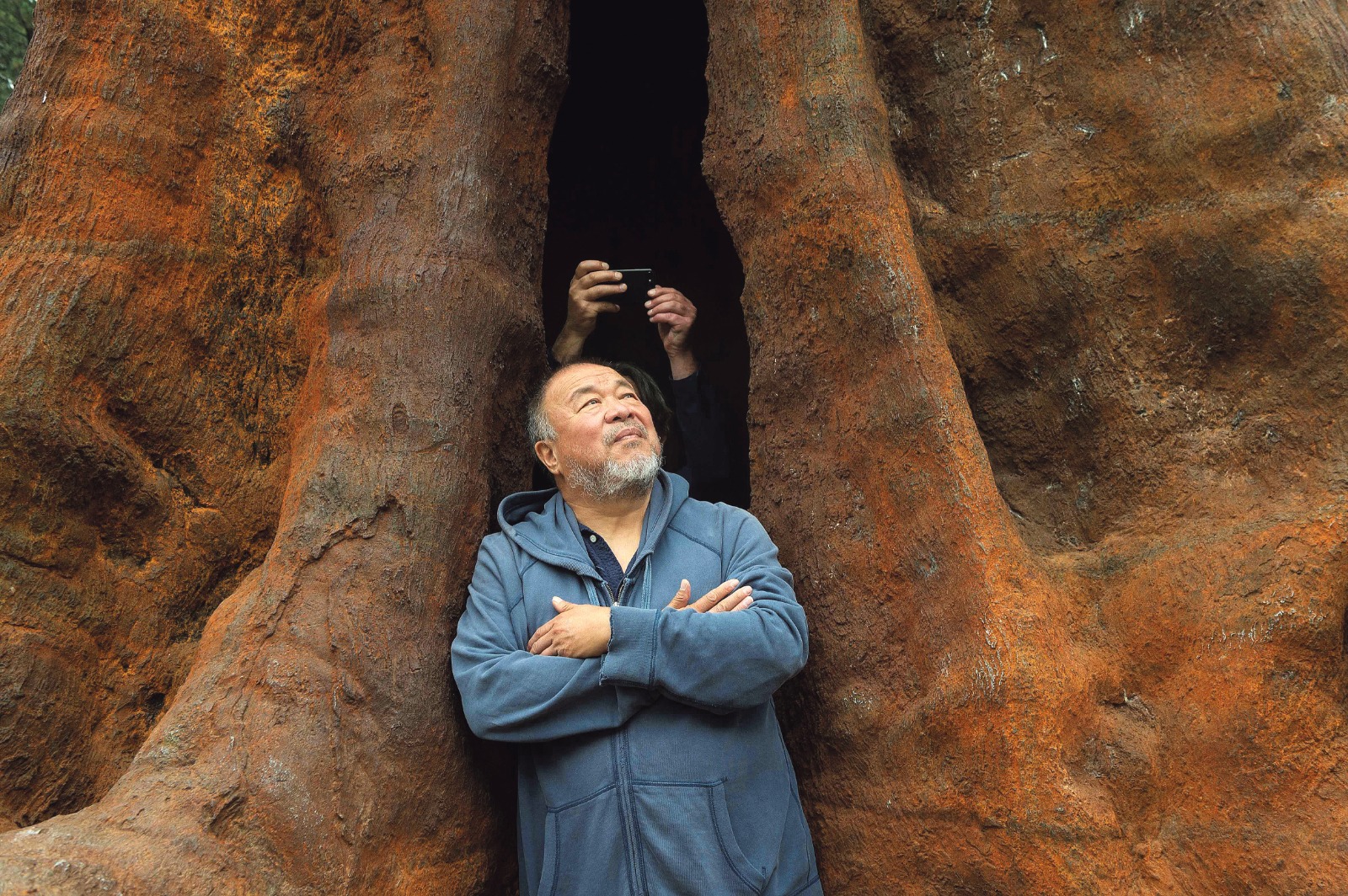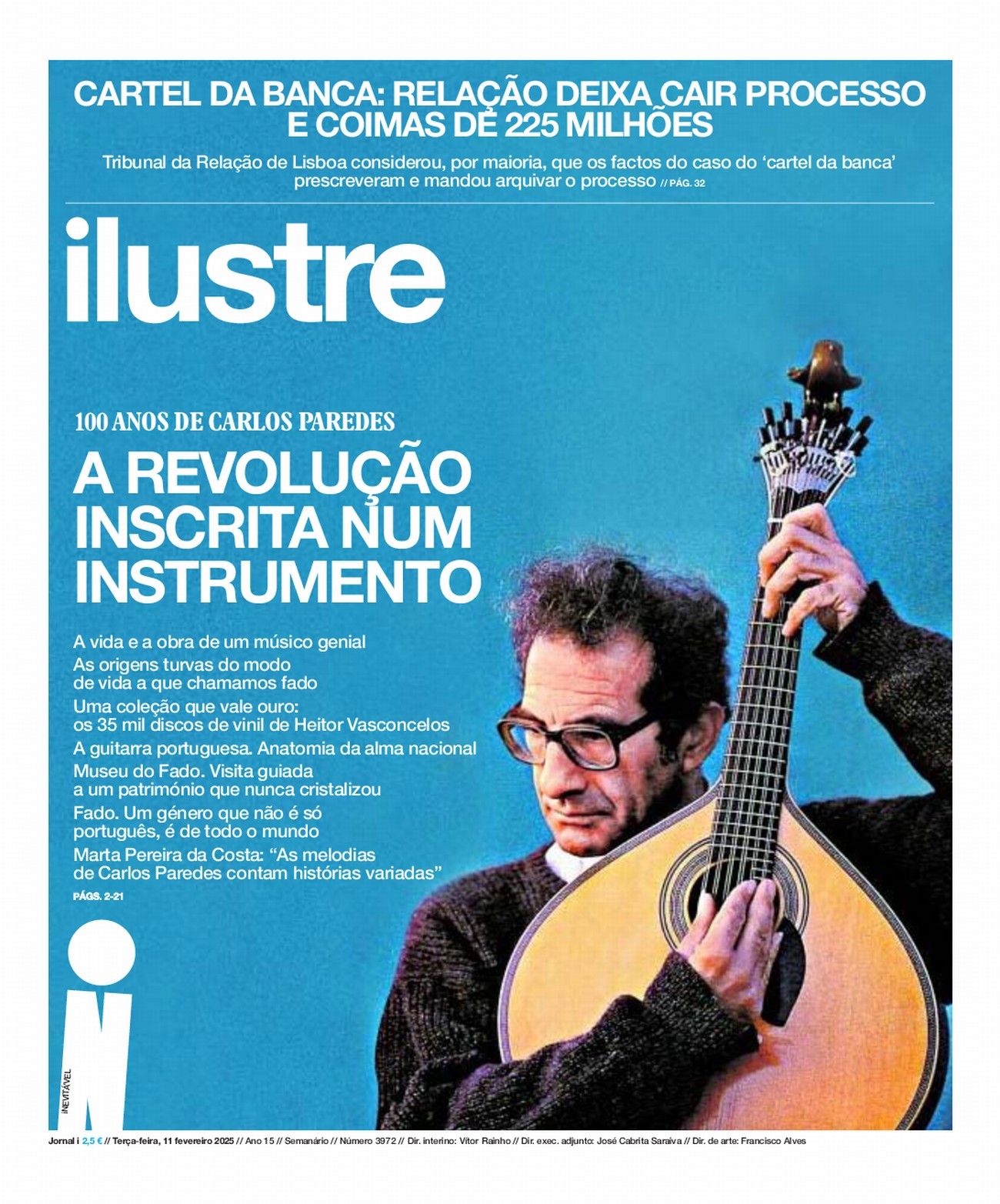1. Quando hoje falamos do terrorismo islamita, é necessário, creio, atender a várias e distintas situações.
Importa, desde logo, procurar situar os reais objectivos políticos das organizações que preparam e municiam os agentes criminais.
Com eles estão, aliás, intimamente relacionados os interesses dos financiadores directos e indirectos dessas organizações, que importa também averiguar e divulgar.
Depois, distinguindo os terroristas que nascem e agem fora do espaço europeu daqueles que cá nasceram, estudaram e se radicalizaram, importa tentar perceber por que razões optaram pelo islão como veículo ideológico para exprimir a sua radicalização.
Por fim, ainda, é necessário compreender os motivos por que tantos islamitas “tradicionais”, que também vivem e pregam nas sociedades europeias, têm tanta dificuldade em contrapor pública e ostensivamente perante os seus fiéis e os outros cidadãos a legitimidade da sua leitura religiosa face à dos radicais.
Sem abordagens parcelares e simultaneamente integradas de todos estes aspectos, corremos o risco de nada compreender, o que impede estratégias que não só combatam os terroristas como as razões e as circunstâncias que os geraram.
2. Sem nenhuma ligação entre elas, até porque proferidas em contextos distintos e dirigidas a auditórios também diferentes, não pude deixar de contrapor, quando reflectia sobre o terrorismo islamita, duas afirmações que recentemente li.
Uma pertence ao escritor e ensaísta argelino Boualem Sansal e vinha destacada na última edição do “Magazine Littéraire”: “O Ocidente (e não só ele) não contrapõe nenhuma ideologia aos islamitas que não a do dinheiro, a qual, por si só, não é suficientemente tentadora.”
A outra dá título à entrevista do escritor inglês Ian McEwan ao “El País”.
Referindo-se a algumas leituras de textos sagrados, mas não só, disse ele: “A utopia é uma das noções mais destrutivas.”
Lidas separadamente, estas duas afirmações parecem contrapor-se absolutamente. Em certo sentido, isso acontece de facto, até na medida em que quem as profere parte de realidades sociais, culturais e existenciais inteiramente diversas.
Numa outra perspectiva, porém, elas podem ser lidas coerente e concorrentemente.
Basta considerarmos que muitas ideologias e as utopias por elas geradas, ou a sua radical inexistência, podem acabar por produzir ambas, afinal, vazios ontológicos que se compensam num absurdo de vida e de morte.
Na verdade, tendo o hegemónico projecto das sociedades ocidentais assentado mais recentemente apenas numa promessa de vida boa, em que todos teriam acesso a condições essenciais de existência, capazes de proporcionar a descoberta individual de um caminho para a realização pessoal e familiar – um futuro, enfim –, a constatação da negação impiedosa de tal possibilidade acarreta para muitos e principalmente para os que, vindos de fora, delas muito esperaram, uma consciência de discriminação e desespero.
A desesperança na viabilidade de soluções coerentes e viáveis para resolver um presente vazio e um futuro irremediavelmente pobre e, pior, sem sentido – a famosa TINA que os economistas ocidentais nos vendem quotidianamente –, pode, assim, tornar-se a condição de uma radicalização fundada em pressupostos irracionais, mas social e emocionalmente compensadores.
Conviria, porventura, reler a este propósito a obra de Ernst Bloch “O Princípio Esperança”.
Jurista
Escreve à terça-feira