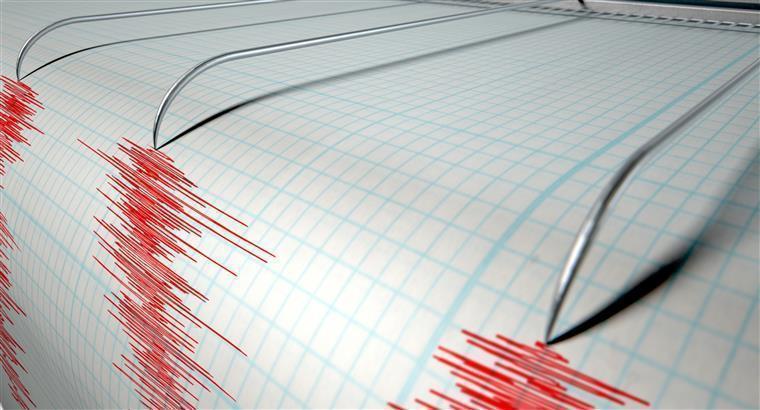Decorria o ano de 2012 quando se instalou a discussão sobre a relevância das declarações de arguidos no processo penal.
Dizia-se, então, que o facto de os arguidos se remeterem ao silêncio em sede de julgamento, quando já haviam antes prestado declarações, era circunstância não compatível com as necessidades de eficácia e eficiência da justiça, já então dita em crise.
Afirmava-se que a solução legal não granjeava a compreensão do sentir comunitário, porque o direito ao silêncio era exercido em situações em que o arguido confessava em sede de inquérito, perante a investigação, e depois, remetendo-se ao silêncio em sede de julgamento, era absolvido por não serem as restantes provas recolhidas suficientes para justificar a sua condenação.
Proibir o aproveitamento de tal “confissão” era, concluía-se, desprestigiar a justiça. E assim se ultrapassavam todas as objecções colocadas à proposta alteração da lei, nomeadamente que seria contrária ao princípio segundo o qual o juiz pode apenas julgar com base na prova que perante si seja produzida. Que o arguido é hoje um sujeito do processo (não o seu objecto) e que as suas declarações deveriam ser essencialmente um meio de defesa. Que a alteração violaria todos esses princípios constitucionais.
Mas diziam então as vozes da eficácia que não se violaria qualquer direito (constitucional) desde que o arguido fosse advertido de que as suas declarações poderiam ser valoradas posteriormente. E se fizesse acompanhar de advogado. E mais ainda: estas declarações não seriam verdadeiras confissões; seriam apenas livremente valoráveis pelo tribunal…
E, por conseguinte, os direitos dos arguidos não saíam (profundamente) beliscados, deixava-se intocado o fair process e ganhava-se em eficácia e eficiência da justiça penal – delas tão necessitada face ao propalar da criminalidade económica, organizada, sofisticada, argumentava-se então.
E em conformidade se deixou escrito. Na 20.a alteração do Código de Processo Penal lá se consagrou que as declarações dos arguidos prestadas em fases prévias do processo podem ser, em julgamento, valoradas, conquanto determinadas cautelas sejam tomadas.
Mas hoje, quando confrontados com os mais mediáticos casos da nossa justiça criminal e com a facilidade com que se aplica a prisão preventiva, não se poderá legitimamente questionar que papel real passaram a assumir as ditas declarações?
E que valor tem uma advertência de que as declarações podem ser usadas em fases posteriores do processo quando o arguido, em sede de primeiro interrogatório, apenas procura desesperadamente escapar à prisão preventiva?
Nestas circunstâncias, a decisão tomada é livre e esclarecida? Ou as aparentemente simples de decretar prisões preventivas assumem um papel, ainda que de bastidores, neste contexto?
Bem se sabe que a prestação de declarações não é um factor de ponderação previsto por lei na decisão de aplicar medidas de coacção. Mas quem, entre nós, suspeitando que a confissão lhe permitirá evitar a prisão preventiva, não escolherá confessar de imediato (ainda que tendo presentes as consequências futuras para o seu julgamento)? Não há advertência ou advogado que possa ser invocado a favor dos arguidos… E, permita-se o desabafo, mal anda a justiça portuguesa quando, em nome de razões de eficácia, permite que informais e imperfeitos acordos de liberdade se deixem selados.
Associada sénior da PLMJ